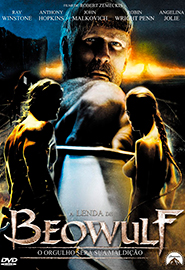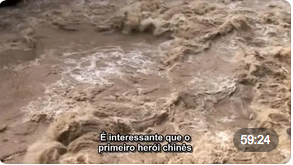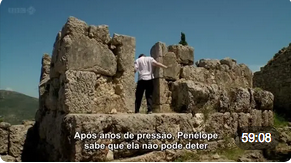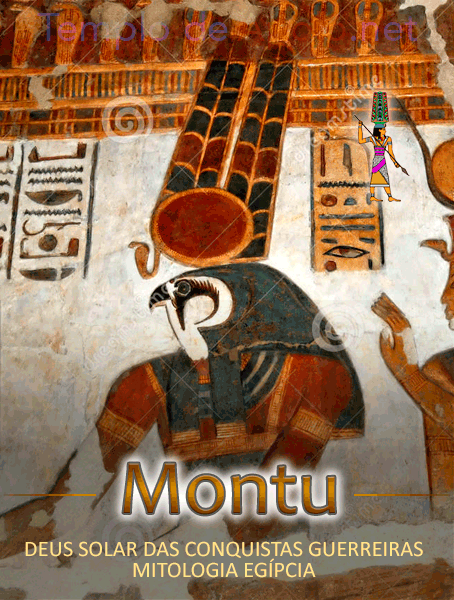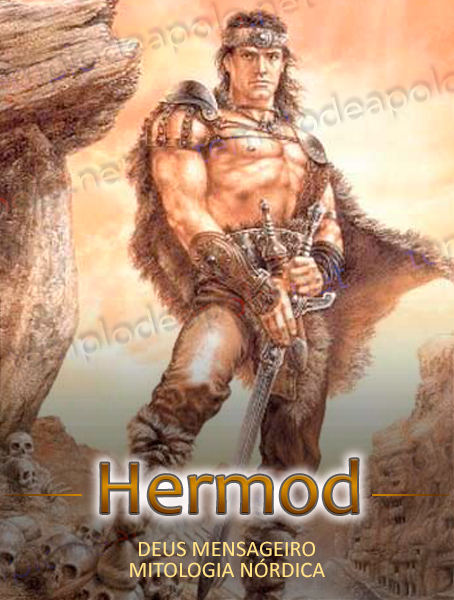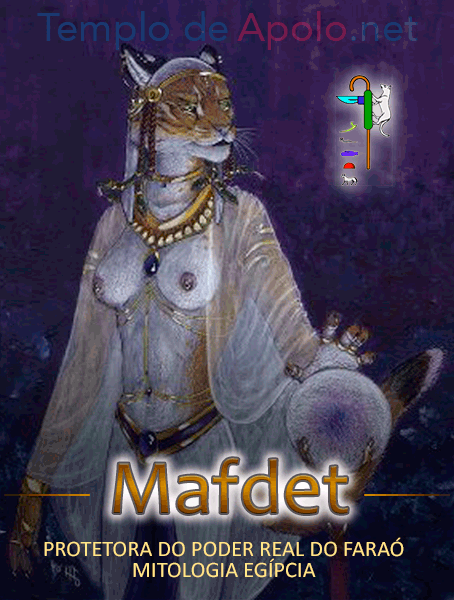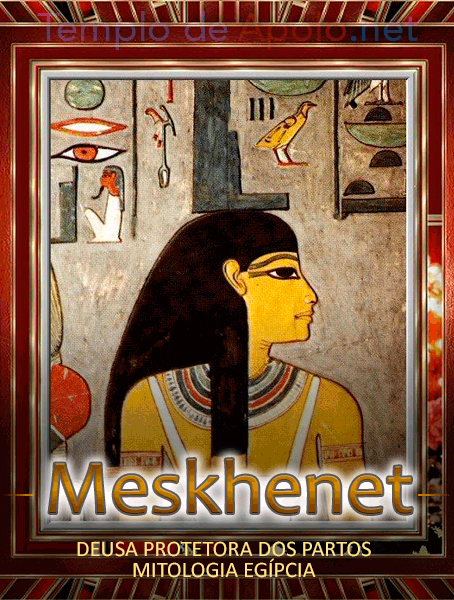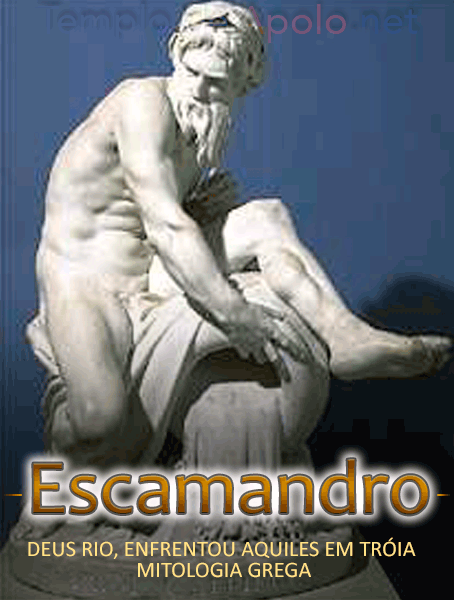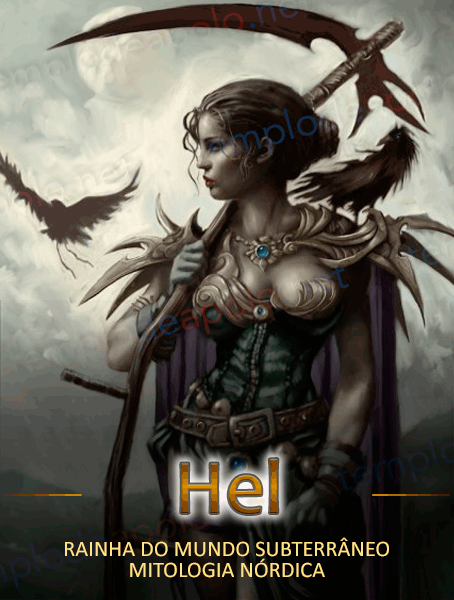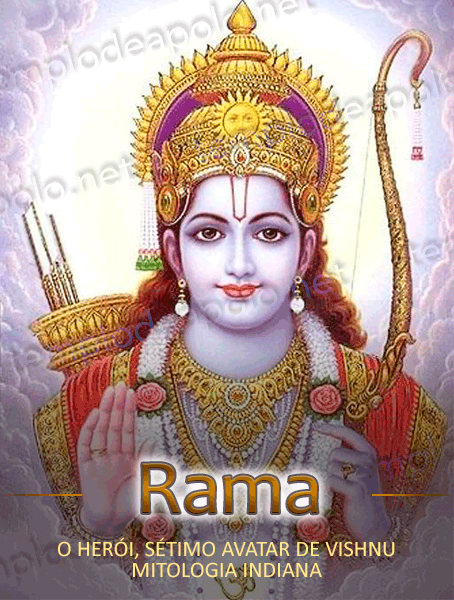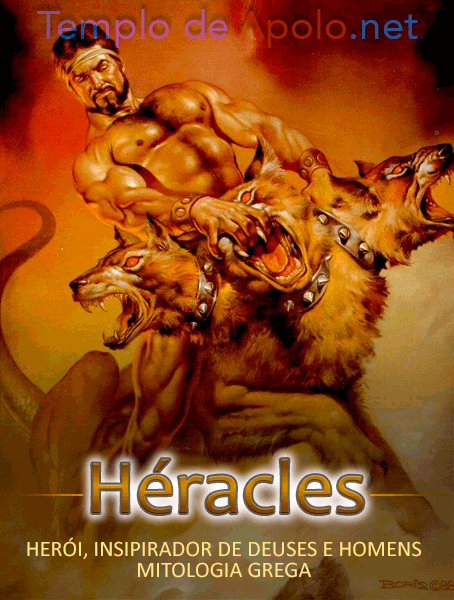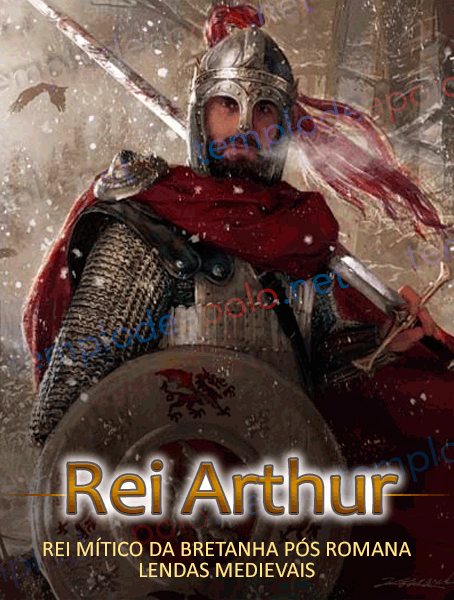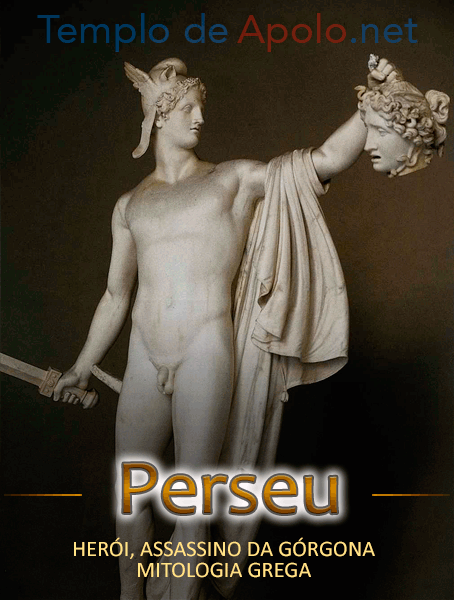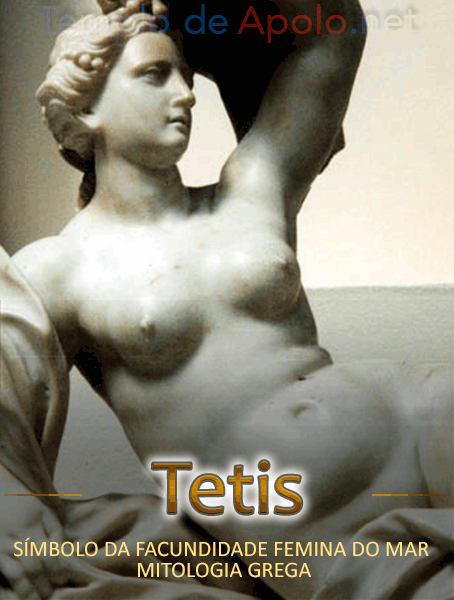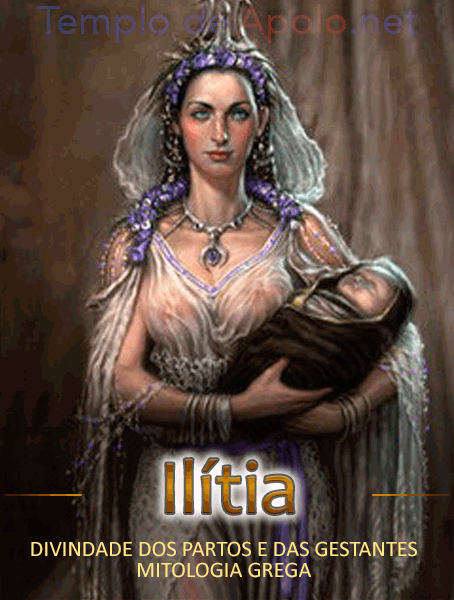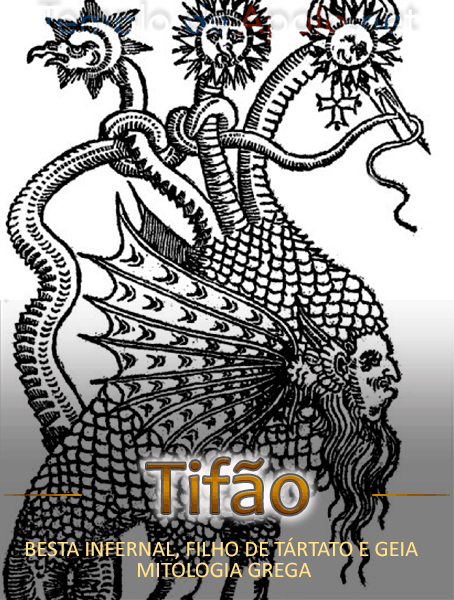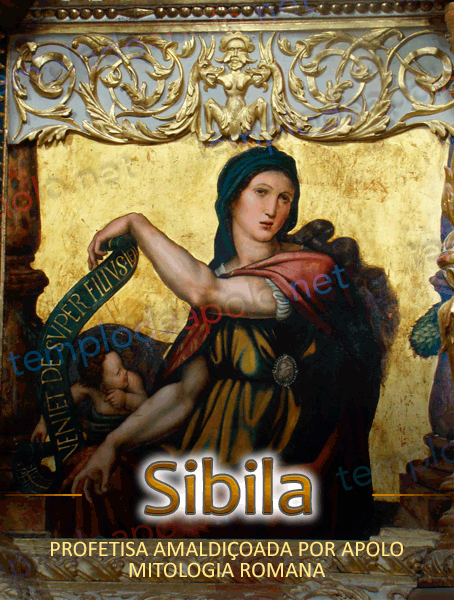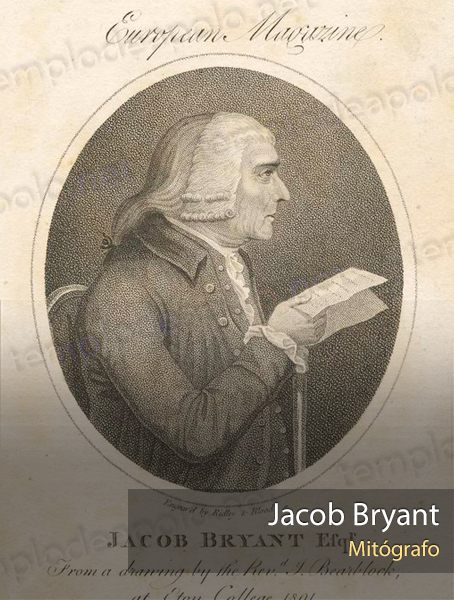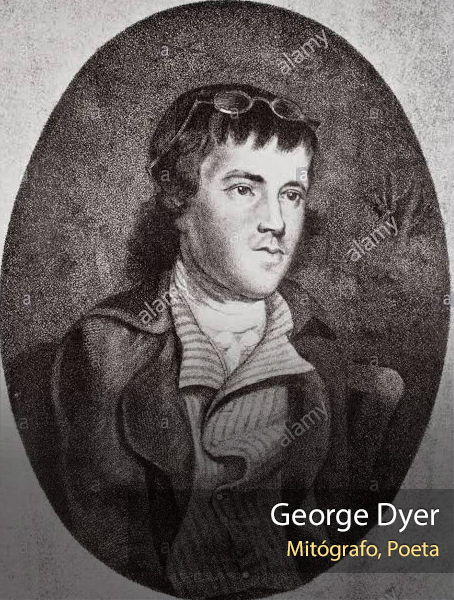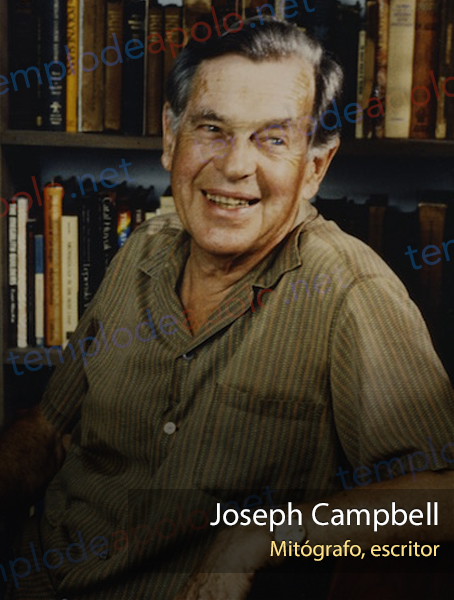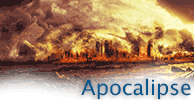





A segunda epopéia que até nos chegou sob o nome de Homero, ilustra uma das mais importantes destas conquistas: a que o povo grego fez do mar, a força de audácia, de paciência e de inteligência. Ulisses (de quem a Odisséia tirou o nome) é o herói desta conquista. Não é certo, e mesmo improvável que a Odisséia seja do mesmo autor que a Ilíada. Já os antigos o suspeitavam. A língua do poema, os costumes, as crenças religiosas são mais recentes talvez meio século que os da Ilíada. Contudo, o nascimento do poema, a sua composição pelo improviso, a sua transmissão primeiro oral no seio de uma corporação de poetas a quem chamavam os Homeridas, tudo se explica da mesma maneira que para a Ilíada. O autor que a compôs tirou sem duvida a matéria de um conjunto de poemas que formavam o vasto ciclo das lendas de Ulisses: ordenando as partes, que ele escolhia segundo as leis da arte, desenvolvendo ou reduzindo, soube dar ao poema que hoje lemos uma forte unidade, que lhe é conferida, em primeiro lugar, pela vigorosa personalidade do herói. Sem Ulisses, a Odisséia não seria mais que uma coleção de contos e aventuras de desigual interesse.
Mas não há nenhum destes contos, nenhuma destas aventuras - cujas origens são muito diversas e se perdem por vezes na noite do folclore primitivo da humanidade -, não há nenhuma destas narrativas que não nos fale da coragem ou da astucia ou da inteligência ou da sageza de Ulisses. O autor da Odisseia, aquele que a compôs, modelou, orientou uma matéria poética ainda informe, subordinando tudo, ação, episódios e personagens a Ulisses, aquele também que fixou pela escrita esta obra assim recriada, e um altíssimo artista. Mais ainda que um grande poeta. Pode-se fixar, muito proximamente, a data da composição da Odisséia na segunda metade ou mesmo nos finais do século VIII antes da nossa era. (Os sábios estão muito longe de chegar a acordo sobre esta data.) Escrita na mesma época da descoberta e da conquista do Mediterrâneo ocidental pelo povo grego, ainda que finja ignorá-las, a Odisséia é o poema da classe ascendente dos navegadores, mercadores e marinheiros, antes de se tornar a epopéia nacional do povo grego.
O nome do seu autor importa-nos pouco. Não há alias nenhum inconveniente em dar o mesmo nome, Homero (que era talvez uma espécie de nome familiar de todos os membros dos Homeridas), aos autores diferentes da Ilíada e da Odisséia. Mais de vinte e cinco séculos o fizeram antes de nós e isso não os impediu de apreciar as belezas destas obras-primas.
Sabe-se que os Gregos, ao chegarem ao seu pais, não conheciam já nem o mar nem o uso dos barcos. Os Egeus, seus mestres na arte náutica, usavam há séculos barcos a remos e a vela, descobriram os principais caminhos do mar, como diz Homero. Os que conduziam à costa asiática, os que levavam ao Egito, e, mais longe, os que abriam, a partir da Sicilia, o acesso ao Mediterrâneo ocidental. Por estes caminhos, os Egeus praticavam formas elementares de comercio, aquela a que se chama por exemplo ,troca muda, segundo a qual os marinheiros depõem na praia os produtos que querem trocar e, voltando aos seus barcos, esperam que os indígenas tenham deposto produtos de valor igual, após o que - muitas vezes depois de varias tentativas - as mercadorias são trocadas. Mas a forma mais primitiva e mais freqüente do comercio egeu ainda foi a simples pirataria. Os piratas pelasgos ficaram famosos durante muito tempo na tradição helênica: na realidade, tiveram temíveis sucessores.
Os Gregos propriamente ditos - é preciso repeti-lo - só lentamente, durante séculos, retomaram as tradições marítimas dos Egeus. Eram, acima de tudo, terrestres. Sem desdenhar a caça nem os seus magros rebanhos, tinham de aprender a cultura do solo antes da cultura do mar. Cedo a economia puramente agrícola deixou de bastar-lhes. Tiveram necessidade, tiveram desejo de produtos naturais e fabricados que só o Oriente podia proporcionar-lhes. Os nobres desejaram ouro em lingotes, jóias, tecidos bordados ou tingidos de púrpura, perfumes. Por outro lado, o Ocidente oferecia terra a quem queria tomá-la, e muito boa, dizia-se. Havia muito para tentar os indigentes, que já abundavam na jovem Grécia. Mas parece que a necessidade de certos metais contribuiu, mais que qualquer outra coisa, para impelir os Gregos para o mar. O ferro não era abundante na região. Sobretudo, o estanho faltava totalmente, tanto na Grécia como nos países vizinhos. Ora, este metal, que entra, com o cobre, na composição do bronze, era o único capaz de produzir, graças a esta liga, um bronze tão belo como resistente.
Se a espada de ferro, a partir da invasão dos Dórios, triunfara do punhal de bronze, e ainda o bronze que continua a ser no século VIII, é mais tarde, o metal por excelência da armadura defensiva do soldado pesado. Armadura de quatro peças: elmo, couraça dos ombros até ao ventre, perneiras nas canelas, escudo no braço esquerdo. Durante o tempo que esta nobre armadura reinou nos campos de batalha, o estanho era necessário àqueles que a usavam.
Foram pois nobres ousados, oriundos dos velhos clãs, que tomaram o comando das primeiras expedições de comercio. Só eles tinham meios para mandar construir e equipar barcos. Estes ricos terrestres não se enfadavam também de deitar a mão à esta nova fonte de riqueza, o comercio. Mas não bastava que tomassem o caminho do mar: precisavam de remadores, de homens de equipagem, de traficantes e de colonos. A massa dos sem-terra e dos sem-trabalho que pululavam na Grécia deu-lhes o núcleo das suas lucrativas expedições.
Mas onde encontrar esse raro estanho que exerce nos homens do século VIII uma espécie de fascinação? Em dois locais somente, pelo menos no Mediterrâneo. Ao fundo do mar Negro, na Colquida, no sopé do Cáucaso. Mileto, a grande cidade marítima da Jônia, tomou, depois de outras, este caminho oriental do estanho: com as minas do Cáucaso alimentou a sua metalurgia e a dos povos vizinhos. Mas havia um outro caminho do estanho, muito mais perigoso e desconhecido que a velha rota dos estreitos asiáticos: aquele que, contornando a Grécia pelo sul e metendo pelo mar sem ilhas, ia procurar para além do perigoso estreito de Messina, e, seguindo as costas da Itália, o estanho das minas da Etruria. Foi este o caminho das grandes cidades dos senhores da metalurgia, Calcis, na Eubeia, e Corinto.
Esta rota ocidental é também a do périplo de Ulisses, e foi sem dúvida para o público de aventureiros, de marinheiros, de colonos que o seguiam e também para esses ricos negociantes, essa oligarquia militar a quem o fabrico das armas apaixonava, que se compôs a nossa Odisséia. Ulisses tornava-se a guarda avançada desta multidão dispar de marinheiros, mercadores e aristocratas-industriais.
Contudo, a nossa Odisséia não canta em termos claros a historia da conquista do estanho. Faz o que fazem todas as epopéias. Transporta para um passado mítico as descobertas surpreendentes que um marinheiro fazia, cinqüenta ou cem anos antes (que podia fazer ainda, pensava-se), nos caminhos marítimos do Ocidente. Homero explora as narrativas dos navegadores que tinham explorado este mar desconhecido, cujas fábulas corriam por todos os portos - estórias de povos gigantes, de ilhas flutuantes, de monstros que devoram e despedaçam as naves. Por duas vezes o seu Ulisses encontra a ilha da feiticeira. E há também a estória da planta que faz esquecer ao marinheiro a pátria. A Odisséia está repleta de tais narrativas, como delas estão cheias as Mil e Uma Noites. Há nela, quaisquer que sejam a proveniência, a base histórica ou geográfica, contos que nada tem que ver, originalmente, com o regresso de Troia do chefe aqueu Ulisses, ponto de partida da nossa historia, e que são muito mais antigos que ele.
O Ulisses da Odisséia é um bom soldado, um chefe de grande autoridade que impõe a disciplina dos Tersitas do exército, um orador sutil, um diplomata. Nada o aponta como grande marinheiro. Na Odisséia, pelo contrário, todas as aventuras no gênero das de Simbad ou de Robinson Crusoe, que a imaginação popular das gentes do mar tinha forjado, parecem despejar-se sobre a sua cabeça. Atrai-as, torna-se "o homem que viu os povos numerosos, conheceu os seus costumes, suportou os males do mar, salvando a sua vida e a da sua gente". Torna-se o aventureiro dos mares, o homem "que errou por todos os lugares", o herói que sofreu sobre o mar "indizível",. Torna-se assim o antepassado e o patrono dos marinheiros perdidos nos mares do Ocidente, o legendário precursor desses corajosos aventureiros para quem Homero canta.
Mas outros elementos, anteriores ainda a estes contos de marinheiros, anteriores mesmo à navegação mediterrânica, entram na composição da figura de Ulisses. Ulisses, ou Odisseu, é o herói do conto popular do regresso do esposo. Um homem partiu para uma longa viagem. Ser-lhe-á a esposa fiel e reconhece-lo-á no regresso? Tal é o nó deste conto antigo, que se encontra igualmente nos escaldos escandinavos e no Râmayana. O marido que regressa, envelhecido ou disfarçado, e é reconhecido por três sinais que garantem a sua identidade. Os sinais variam de uma para outra versão do conto. Mas vêem-se muito bem, na Odisséia, os três sinais da versão que Homero conheceu. Só o marido é capaz de esticar o arco que possuía. Só ele sabe como foi construído o leito nupcial. Finalmente, tem uma cicatriz que só a esposa conhece - sinal que deveria ser o ultimo do conto, porque assegurava o reconhecimento dos esposos de uma maneira definitiva. Tal era a ordem provável dos sinais no conto seguido por Homero. O poeta utilizou-os em três cenas particularmente dramáticas do poema, mas invertendo-lhes a ordem, modificando-lhes o alcance, variando-lhes as circunstâncias. Nos contos populares, os acontecimentos produzem-se quase sempre em series de três. Esta repetição de três sustenta a atenção duma curiosidade ingênua. Homero, em vez de acentuar o efeito de repetição, varia tanto quanto possível as circunstancias dos três sinais. Só o sinal do leito nupcial é utilizado para o reconhecimento dos dois esposos, na cena admirável em que Penélope, ainda desconfiada, arma uma cilada a Ulisses. Ordena a Euricleia que transporte o leito nupcial para fora do quarto de dormir. Ulisses estremece. Ele próprio o construiu em tempos, afeiçoando os pés da cama num tronco de oliveira que as raízes ligam ao solo. Sabe que a ordem não pode ser executada, salvo se um miserável cortou a oliveira pela base. Di-lo, e desta maneira se faz reconhecer pela mulher. O sinal do arco é utilizado na grande cena do concurso entre os pretendentes. Ulisses, ao esticar o arco que ninguém pode retesar, e ao lançar a sua flecha contra Antinoo, faz-se reconhecer pelos pretendentes, a quem lança o seu nome como um desafio. Finalmente, o sinal da cicatriz é utilizado, antes de nenhum outro, numa cena inesperada, para nós e para Ulisses: a cicatriz fa-lo-á ser reconhecido por Euricleia, a velha serva, na cena em que ela lhe lava os pés - o que provoca uma grave peripécia na ação e faz perigar o plano sabiamente combinado de Ulisses.
Assim a arte de Homero enriquece de circunstancias vivas, imprevistas e diversas, os elementos que ele recebe, em serie do conto do regresso do esposo.
Tais são algumas das origens longínquas da Odisséia, poema do regresso de um homem à sua pátria.
É inútil contar uma vez mais este poema tão conhecido. Não esqueçamos no entanto que Ulisses não é mais que um proprietário rural muito ligado ao seu domínio, como a Penélope, sua mulher, cortejada por vizinhos na sua ausência, como a Telemaco, seu filho, a quem deixou ainda pequeno, ao partir. Conquistada Troia apos dez anos de cerco, Ulisses só pensa em regressar o mais depressa possível. Mas tem de dar a volta a Grécia para chegar à sua ilha de Itaca. É então, no cabo Maleia, que uma tempestade o atira para os mares do Ocidente, na direção da Sicilia, da Sardenha, da África do Norte, que, nos séculos que se sucedem à guerra de Troia, se tornaram regiões para além do mar desconhecido, terras assustadoras e povoadas de monstros. Assim, forçadamente, este terrestre se torna marinheiro. Mas ele só pensa no regresso, na sua Itaca, na sua família, nas suas terras.
A Odisséia é o relato dos dez anos deste regresso, e a luta contra as ciladas do mar, e depois, quando chega a casa disfarçado, a luta contra os pretendentes que lhe assediam a mulher, lhe devoram os bens, instalados na sua própria casa, e que ele chacina com a ajuda de seu filho de vinte anos e de dois servidores fieis a quem lentamente, prudentemente, se revela. A Odisséia é a reestruturação de uma felicidade familiar. Mas, para isso, quantos esforços e combates!
O mar do Ocidente é para os homens desse tempo uma realidade temível, ainda indomada. Inúmeros perigos esperam os homens que por ele se aventuram. Há correntes que arrebatam os barcos, tempestades que os despedaçam nos estreitos ou contra os rochedos dos cabos, ou então, fulminada pelo raio, a nave enche-se de enxofre e a equipagem e atirada ao mar. Ou então, ainda, é o céu que se esconde, às estrelas-bússolas que se furtam, e já ninguém sabe se está do lado das trevas onde o sol se afunda sob a terra, ou do lado da aurora donde ele emerge. São estes alguns dos riscos quotidianos que Ulisses defronta. Mas há também os piratas que esperam os barcos nos estreitos, que os pilham, e que vendem os marinheiros como escravos. Ou os selvagens que trucidam os marinheiros desembarcados numa costa desconhecida. Ou os antropófagos.
E com que barco se aventuram Ulisses e os seus no mar assustador? Um barco sem coberta, que apenas possui uma vela, a qual só pode servir com vento pela popa. Impossível navegar com vento pela frente, fazendo bordos. Se o vento é contrario, nada mais se pode fazer que remar, o que exige um esforço esgotante. Tenta-se, quase sempre, seguir ao longo da costa, na falta de outra carta que não sejam as constelações celestes, e sobretudo por causa dos víveres. Apenas se pode levar um pouco de pão - uma espécie de bolacha - e pouquíssima água. Isto exige escalas quase diárias e, muitas vezes, longas buscas em terra desconhecida para descobrir uma fonte. A não ser que se pendure no alto do mastro uma pele de carneiro que durante a noite se impregna de orvalho e que e depois espremida para conseguir uma gamela de água.
Assim é a vida do marinheiro grego do século VIII, uma vida de cão, em que o homem está entregue sem defesa a mais temerosa das forças naturais. Ulisses que - segundo a lenda - precede os conquistadores do mar nas rotas do Ocidente, avança como um herói para terras que, logo depois dele, vão povoar-se de cidades gregas. Mas avança ainda através das narrativas que dele contam as gentes do mar, para regiões fabulosas, todas eriçadas de perigos fantásticos que, na imaginação popular, duplicam ainda os perigos.
Na costa da Itália não há apenas os selvagens antropófagos, há o povo dos Ciclopes, gigantes de um só olho que vivem do queijo e do leite dos seus rebanhos, comendo também estrangeiros se a ocasião se proporcionar.
Nas ilhas do mar há também as belas deusas-fadas que retém os navegantes nas delicias e nas armadilhas dos seus amores. Entre elas, a deusa Circe que, no momento de se entregar aos homens que a desejam, lhes bate com a varinha e os transforma em leões, lobos ou outros animais. É a desgraça que acontece à maior parte dos camaradas de Ulisses, que são transformados em porcos. Mas Ulisses nunca abandona os seus. Corajosamente, ajudado pelo deus Hermes, apresenta-se no palácio da deusa, sobe a cama dela, ameaça-a com a espada e arranca-lhe o segredo do encanto. Os companheiros, que o julgavam perdido, acolhem-no "como os bezerros acolhem a manada das vacas que, de ventre repleto, tornam ao estábulo: saltam ao encontro delas, estendem o focinho, as varas do cerrado não podem conte-los, e mugindo rodeiam as mães".
Outras deusas habitam as ilhas do mar. Há a ninfa Calipso. Lançado na margem próxima da gruta da ninfa, Ulisses apaixona-se por ela, como um navegador dos mares austrais se apaixonaria por uma bela polinésia. Mas cansa-se mais depressa da sua conquista que a própria ninfa que, durante sete anos, guarda todas as noites no seu leito o mortal audacioso a quem ama e que um naufrágio privou do meio de a deixar. Todos os dias, porém, Ulisses se vai sentar num rochedo da margem e olha sem fim a extensão sem limites que o separa da terra pátria, da mulher, do filho, do seu domínio plantado de vinhas e de oliveiras. Calipso acaba por ser obrigada, por ordem de Zeus, a deixá-lo partir. Dá-lhe um machado, um martelo, cavilhas, com os quais ele constrói para desafiar a vasta extensão, não sem medo, uma simples jangada.
Há ainda, numa outra ilha do mar, as Sereias: são mulheres-aves-fadas que atraem os marinheiros cantando com uma voz maravilhosa e depois os devoram. No prado, diante delas, vêem-se ossos amontoados. Nenhum navegador que tivesse passado ao largo desta ilha pode resistir ao apelo da mágica voz. Ulisses quer escutar o canto inaudito das sereias, mas não ser vitima delas. Reflete, como é seu costume, descobre o meio de ter o que deseja e de evitar o que teme. Tapa com cera os ouvidos dos seus marinheiros e faz-se atar ao mastro do barco. Assim, para saborear uma beleza interdita ao comum dos mortais, Ulisses enfrenta um risco terrível e triunfa. Único entre os homens, ouviu sem perecer a voz das Aves-Magicas.
Estas ultimas estórias, de que o poeta da Odisséia fez maravilhosas narrativas, mostram que, para o povo grego da época homérica, o mar, por mais cheio de perigos que fosse, não tinha menos atrativos. Ulisses teme o mar, mas também o ama e quer possuí-lo no prazer. Esta extensão sem limites, cujo pensamento, diz ele, lhe "despedaça o coração", e também a grande sedutora. Oh! sem duvida, em primeiro lugar, por causa do proveito que dela se tira. É para além do mar, diz, que ,se amontoam numerosos tesouros; e percorrendo uma vasta parte do mundo que se traz para casa o esplendor do ouro, da prata e do marfim.
Por vezes, este Ulisses que só pensa em voltar para casa, parece ter pena de deixar uma certa ilha deserta que ninguém pensou em cultivar, o que o espanta. Já em imaginação dispõe as diversas regiões da ilha ainda selvagem: aqui, prados úmidos, de terra mole; além, belos vinhedos; mais adiante, campos onde a lavoura seria fácil e que produziriam belas colheitas. Apanha um punhado de terra e verifica que há "gordura debaixo da terra". Admira o porto tranqüilo, defendido do vento e da vaga, de tal maneira que os barcos nem sequer teriam necessidade de amarras. Ulisses, o terreno, parece ter alma de colono. Vê já crescerem nestas terras distantes (ainda desertas ou povoadas de monstros) as cidades que o povo construirá (que começa já a construir).
Assim o além do mar, tão forte como o medo, exerce a sua atração. E não é apenas o gosto do lucro que surge na lenda odissaica, é a infinita curiosidade do povo grego pelo mundo e suas maravilhas. Ulisses não resiste nunca ao desejo de ver coisas estranhas. Porque penetra ele na caverna do Ciclope, apesar das suplicas dos companheiros? Ele o diz: em parte porque espera obter dele, por persuasão, os presentes de hospitalidade que é uso oferecer aos estrangeiros, mas sobretudo porque quer ver esse ser estranho, esse gigante que não é "um comedor de pão". Do mesmo modo, quer ver Circe e quer ouvir as Sereias. Há em Ulisses um profundo sentimento de espanto em relação ao mundo e ao que ele contem. Ulisses, como todos os primitivos, pensa que a natureza esta cheia de mistérios, e tem medo dela - e o seu medo povoa-a de monstros. Mas quer ir ver esse mistério: quer devassá-lo e conhecê-lo. E, finalmente, dominá-lo e tornar-se senhor da natureza. É nisto que Ulisses é um homem civilizado.
Antes de conquistar o mar, de domar o mar e os caminhos do mar, Ulisses defronta-o naquilo em que ele é temível e sedutor. E dos seus sonhos e das suas esperanças que ele o povoa, assim como dos seus temores. Imagina-o, e de algum modo reinventa-o, carregado das maravilhas que cabe talvez ao homem descobrir ou inventar um dia. É este poder de reinvenção do mundo e do homem que da todo o valor, todo o encanto a um dos episódios mais belos da Odisseia, a aventura de Ulisses na terra dos Feaces, o seu encontro com Nausica.
Quem são estes Feaces? Não os procuraremos em nenhuma carta. É um povo de homens felizes que habitam, no seio do mar enfim domado, uma terra maravilhosamente fértil, onde vivem em sabedoria e em simplicidade. A terra dos Feaces - que se chama Esquefa - é um El-Dorado, é uma ilhota da idade do ouro poupada pelo tempo: a natureza e a arte rivalizam ali em belezas, em esplendores, em virtudes.
No grande pomar do rei Alcino, nunca as arvores deixam de produzir em todas as estações. Lá, cresciam grandes arvores de altas ramagens, que produziam a pêra e a romã, as belas laranjas, os doces figos e as verdes azeitonas. E nunca os frutos faltavam, de Inverno como de Verão. O bafo do Zefiro fazia rebentar uns e amadurecer outros, a pêra nova após a velha pêra, a maga apos a maga, o cacho apos o cacho, o figo depois do figo.
Quanto ao palácio de Alcino, brilha de uma luz que parece de sol e de lua. O ouro, a prata e o bronze ali resplandecem. Cães de ouro, mas vivos, obras-primas do deus Hefesto, guardam as portas. É um conto de fadas, este palácio. Neste El-Dorado, os costumes são também de ouro, o coração de Nausica é de ouro e toda a família é digna do paraíso terrestre. A navegação feace ficou nessa idade de ouro imaginada pelos infelizes marinheiros que remam contra ventos e vagas grossas: as naves dos Feaces são barcos inteligentes. Conduzem o marinheiro aonde ele quer ir, sem temer as avarias nem a perda entre as brumas.
Tal e Esqueria, que, ainda por cima, é a pátria da dança e do canto. Sem dúvida, há aqui uma parte de sonho, de conto de fadas, mas há também, no engenhoso povo grego, a idéia confusa, a imaginação clara de que os homens poderiam um dia fazer da terra um jardim maravilhoso, um pais de paz e de sabedoria, no qual levariam uma vida de felicidade...
Mas a maravilha de Esqueria ainda é Nausica, essa filha de rei, de tão graciosa simplicidade, igualmente capaz de fazer a barrela e de acolher com dignidade um estrangeiro nu como um selvagem que sai do bosque para lhe falar. Na véspera, Ulisses, atirado para a costa por uma tempestade, deitara-se sob os ramos na orla do bosque. Entretanto, nessa noite, Nausica teve um sonho. Atena dá-lhe a entender que ela breve casará e que deve, para o dia da boda, lavar a roupa da família no regato junto ao mar. Nausica vai falar ao pai e diz-lhe:
"Meu querido pai (em grego: Pappa phile), não quererás tu mandar preparar-me um carro que me conduza à beira-mar, onde devo lavar a roupa? Tu precisas de roupa lavada para ires ao Conselho. E meus três irmãos, que ainda não são casados, não querem ir ao baile sem roupa lavada de fresco..."
No entanto, Nausica cora de mencionar diante do pai as suas núpcias floridas. Mas o pai adivinhou-a e responde-lhe:
"Minha querida filha, não te recusarei nem um carro... nem coisa alguma".
Nausica parte pois com as servas e a roupa. Lavam-na calcando-a com os pés no regato, estendem-na nas pedras da margem. Merendam, depois jogam a bola. Mas uma bola cai no rio. Todas as moças gritam, e Ulisses acorda. Sai do bosque, tendo apenas o cuidado de partir um ramo para esconder a sua nudez sobre as folhas. As servas assustadas fogem para longe. Só Nausica não se mexe e espera firmemente o estrangeiro. Ulisses aproxima-se e faz a moça, a quem quer conquistar para o seu projeto, mas sem a assustar, um discurso "cheio de mel e habilidade". Ele diz:
"Sejas deusa ou mortal, ó rainha, suplico-te! Se és uma das deusas que habitam o vasto céu, penso que deves ser a filha de Zeus, Artemis, de quem tens a estatura, o talhe e a beleza. Mas se és uma das mortais que habitam a terra, três vezes felizes teu pai e tua nobre mãe, três vezes felizes teus irmãos. O seu coração deve encher-se de alegria quando eles vêem um tão belo ramo de verdura como tu entrar na dança. Mas mais feliz que ninguém no mundo, o marido que merecer lavar-te para a sua casa... Um dia, em Delos, vi um jovem tronco de palmeira de extrema beleza que, brotando do chão, subia para o céu. E, olhando-o, muito tempo fiquei estupefato de que uma coisa tão bela tivesse saído da terra... Assim, moça, te admiro e estou cheio de espanto, e tenho medo de tocar os teus joelhos..."
Depois disto conta-lhe uma parte das suas desgraças, mas sem lhe dizer o nome, e pede-lhe que o conduza ao pai. O resto passa-se como tinha de passar-se. Ulisses, estrangeiro e desconhecido, é recebido com generosidade pelo povo de Feaces. Conta então a sua historia, diz quem é. Reconduzem-no à sua pátria, onde terá ainda duros combates a travar contra os senhores que lhe pilham a casa, a pretexto de quererem casar com a mulher. Reconstrói enfim a felicidade ameaçada, à força de coragem, de inteligência e de amor.
Tais são alguns dos aspectos desta Odisséia que se tornou o poema mais popular de um povo de marinheiros - aquele em que as crianças gregas, que aprendiam a nadar logo que sabiam andar, aprendiam também a ler, decifrando-o e recitando-o em coro.
Este poema do marinheiro, feito com a experiência recente que um povo terreno tinha do mar, este poema feito de lutas e de sonhos, é também um poema de ação. Na pessoa de Ulisses, lança um povo curioso e bravo à conquista cada vez mais vasta do mar. Poucas gerações após a Odisséia, o Mediterrâneo, do Oriente ao Extremo Ocidente, será um lago grego cujas rotas principais estarão para o futuro demarcadas e conquistadas. Assim a poesia grega se liga sempre a ação: dela procede e a guia, dá-lhe uma firmeza nova.

Quando as almas descem ao Tártaro, cuja entrada principal se encontra num bosque de álamos negros ao lado do caudal do Oceano, os familiares piedosos colocam uma moeda debaixo da língua de seus respectivos cadáveres, para que elas possam pagar ao barqueiro Caronte, o avaro que as transporta em seu estranho barco através do rio Estige. Esse odioso rio faz fronteira com o Tártaro pelo lado ocidental e tem como tributários Aqueronte, Flegetonte, Cocito, Aornis e Lete. As almas sem moeda são obrigadas a esperar eternamente numa margem próxima, a menos que consigam escapar de Hermes, seu condutor, e rastejar por uma entrada posterior como a do Tênaro lacônio, ou a do Aornis tespiense. Um cão de três cabeças - ou de cinqüenta, segundo alguns - chamado Cérbero guarda a outra margem do Estige, disposto a devorar intrusos vivos ou almas fugitivas.
A primeira região do Tártaro contém os desolados Campos de Asfódelos, onde as almas dos heróis permanecem, sem propósito algum, entre as multidões de mortos menos distintos que se agitam como morcegos, e onde apenas Orion ainda tem ânimo para caçar cervos fantasmagóricos. Todos eles prefeririam viver como escravos de um camponês sem terra a governar todo o Tártaro. Seu único deleite são as libações de sangue que lhes proporcionam os vivos, e, quando bebem, voltam a se sentir quase humanos outra vez. Mas para além dessas paragens fica Érebo e o palácio de Hades e Perséfone. A esquerda do palácio, à medida que alguém se aproxima, um cipreste branco sombreia o remanso de Lete (“Esquecimento”), onde multidões de almas comuns buscam o que beber.
As almas iniciadas evitam essas águas, preferindo beber do remanso da Memória (Mnemósine), sombreado por um alámo branco, o que lhes dá certa vantagem [144] em relação às iniciantes. Perto dali, as almas recém-chegadas são julgadas diariamente por Minos, Radamanto e Éaco no ponto de confluência de três estradas. Radamanto julga os asiáticos, e Éaco se encarrega dos europeus, mas ambos submetem os casos difíceis a Minos. À medida que se emite o veredicto, as almas se dirigem a um dos três caminhos: o que as conduz de volta aos Campos de Asfódelos, se não forem virtuosas nem más; o que as conduz aos campos de punição do Tártaro, se forem más; e o que as leva aos pomares do Elísio, se forem virtuosas.
O Elísio, governado por Cronos, encontra-se perto dos domínios de Hades, apesar de não fazer parte deles e sua entrada ficar perto do remanso da Memória. É uma terra feliz onde o dia é eterno, sem frio nem neve, onde jogos, música e festas nunca terminam e seus habitantes podem decidir renascer na terra sempre que bem entenderem. Perto dali estão as ilhas dos Bem-aventurados, reservadas àqueles que encarnaram três vezes e três vezes mereceram o Elísio. Mas há quem diga que existe ainda uma outra ilha dos Bem-aventurados chamada Leuce, no mar Negro, diante da foz do Danúbio, cheia de bosques e de animais selvagens e domésticos, onde as almas de Helena e de Aquiles realizam festins e recitam versos de Homero aos heróis que participaram dos famosos acontecimentos por ele relatados.
Hades, feroz e cioso de seus direitos, jamais visita a atmosfera superior, exceto em caso de negócios ou quando é tomado por um arrebatamento súbito de luxúria. Certa vez ele fascinou a ninfa Menthe com o esplendor de sua carruagem de ouro com quatro cavalos negros, e a teria seduzido sem nenhuma dificuldade se a rainha Perséfone não tivesse aparecido bem na hora e transformado Menthe em uma perfumada planta de menta. Noutra ocasião, Hades tentou violar uma ninfa que foi igualmente metamorfoseada e é o álamo-branco que se ergue junto ao remanso da Memória. De bom grado ele jamais permitiria que nenhum de seus súditos escapasse, e são poucos os que visitam o Tártaro e conseguem voltar para descrevê-lo, o que o faz ser o mais odiado de todos os deuses. Hades nunca sabe o que ocorre no mundo superior, ou no Olimpo, salvo algumas informações fragmentadas que lhe chegam quando os mortais golpeam a terra com as mãos e o invocam com juras e maldições. [145] Sua mais preciosa possessão é o elmo que o torna invisível, presenteado como símbolo de gratidão pelos ciclopes, quando ele aceitou libertá-los por ordem de Zeus. Todas as riquezas relativas a gemas e metais preciosos escondidos no subsolo lhe pertencem, mas ele não possui propriedades no mundo superior, a não ser alguns templos tétricos na Grécia e possivelmente um rebanho de gado bovino na ilha de Eritéia, que, segundo alguns, pertence na verdade a Hélio.
Entretanto, a rainha Perséfone pode ser benigna e misericordiosa. É fiel a Hades, mas não lhe deu filhos e prefere a companhia de Hécate, deusa das bruxas, à dele. O próprio Zeus tem um respeito tão grande por Hécate que nunca a priva do antigo poder que ela sempre desfrutou: o de conceder ou negar aos mortais qualquer dom que desejem. Ela tem três corpos e três cabeças — de leão, de cachorro e de égua.
Tisífone, Alecto e Megera, as Erínias ou Fúrias, vivem no Erebo e são mais velhas que Zeus ou qualquer outra divindade do Olimpo. Sua tarefa consiste em escutar as queixas dos mortais contra a insolência dos jovens com os anciãos, dos filhos com os pais, dos anfitriões com seus hóspedes e dos amos ou assembléias com os requerentes, e em castigar esses delitos acossando implacavelmente os culpados, sem descanso ou trégua, de cidade em cidade e de país em país. Essas Erínias são velhas, têm serpentes em vez de cabelos, cabeças de cachorro, corpos negros como carvão, asas de morcego e olhos injetados em sangue. Trazem nas mãos açoites arrematados com cravos metálicos, e suas vítimas morrem devido ao tormento. E uma imprudência mencionar o nome delas numa conversa, portanto são geralmente chamadas de Eumênides, que significa “as Amáveis” — do mesmo modo como Hades é chamado de Plutão ou Pluto, “o Rico”.
Os mitógrafos tiveram de fazer um esforço considerável para reconciliar as visões contraditórias do mundo do além sustentadas pelos primitivos habitantes [146] da Grécia. Uma delas era que as almas viviam em suas tumbas, ou em cavernas ou grutas subterrâneas, de onde podiam tomar a forma de serpentes, camundongos ou morcegos, mas nunca reencarnar como seres humanos. Outra visão era que as almas dos reis sagrados podiam ser vistas caminhando sobre as ilhas sepulcrais em que seus corpos haviam sido enterrados. Uma terceira dizia que as unas podiam voltar a se converter em seres humanos, se conseguissem entrar no feijão, nas nozes ou nos peixes e fossem comidas por suas futuras mães. Uma quarta dizia que iam para o extremo norte, onde nunca brilha o sol, e voltavam, se tanto, apenas como ventos fertilizantes. Uma quinta afirmava que o destino das almas era o extremo ocidente, onde o sol se põe no oceano e existe um mundo espiritual muito parecido com o nosso. Na sexta versão consta que as almas recebiam a punição conforme a vida que haviam levado na terra. A isso os órficos finalmente acrescentaram a teoria da metempsicose, ou seja, a transmigração das almas: um processo que poderia ser, até certo ponto, controlado mediante o uso de fórmulas mágicas.
Perséfone e Hécate representavam a esperança pré-helênica de regeneração, ao passo que Hades era o conceito helênico da inevitabilidade da morte. Apesar de seus antecedentes sanguinários, Cronos continuou desfrutando dos prazeres do Elísio, já que esse havia sido sempre o privilégio do rei sagrado. A Menelau (Odisséia IV. 561) prometeu-se a mesma regalia, não por ter sido especiaimente virtuoso ou valente, mas por ter-se casado com Helena, a sacerdotisa da deusa-Lua espartana. O adjetivo homérico asphodelos, aplicado apenas a leimönes (“pradarias”), significa provavelmente “no vale do que não se reduz a cinzas” (de a =não, spodos =cinza, elos =vale) - ou seja, a alma do herói depois de seu corpo ter sido incinerado. Exceto na Arcádia, onde se comiam frutos do carvalho, as raízes e as sementes de asfódelo que se ofereciam a essas amas constituíam a dieta básica grega antes da introdução do cereal. Os asfódenos crescem livremente mesmo em ilhas sem água, e as almas, como os deuses, eram conservadoras no que se refere a dieta. Parece que Elísio significa “terra das macãs” —alisier é uma palavra pré-gálica para “sorva” —, assim como a palavra “Avalon” e a latina “Avernus”, ou “Avolnus”, ambas formadas a partir da raiz indo-européia abol, significam maçã.
Cérbero era o equivalente grego de Anúbis, o filho com cabeça de cão da deus líbia da morte Néftis, encarregado de conduzir as almas ao mundo subterrâneo. No folclore europeu, que tem origem parcialmente líbia, as almas dos malditos eram perseguidas até o Inferno Setentrional por uma matilha de cães estridentes —os sabujos de Annwm, Herne, Artur ou Gabriel —, um mito decifrado da ruidosa migração estival dos gansos selvagens para seus lugares de peregrinação no Círculo Polar Ártico. Cérbero tinha, no início, cinqüenta cabeças, [147] como a matilha espectral que destruiu Actéon, mas depois ficou com três, como sua amante Hécate.
O Estige (“odiado”), um pequeno rio na Arcádia cujas águas supostamente eram venenosas, foi situado no Tártaro somente por mitógrafos posteriores. Aqueronte (“rio de dor”) e Cocito (“lamento”) são nomes imaginativos para descrever as misérias da morte. Aornis (“sem pássaros”) é uma tradução grega equivocada do itálico “Avernus”. Lete significa “esquecimento”, e Érebo, “coberto”. Flegetonte (“ardente”) refere-se ao costume da cremação, mas também, talvez, à teoria de que os pecadores eram queimados em rios de lava. O Tártaro parece ser uma reduplicação da palavra pré-helênica tar, que compõe os nomes de lugares situados a oeste. O sentido de inferno surgiu mais tarde.
Os álamos negros eram consagrados à deusa da morte, e os álamos brancos, ou choupos, a Perséfone, como deusa da regeneração, ou a Hércules, por haver rastelado o inferno. Em sepulturas mesopotâmicas do quarto milênio a.e.c. foram encontrados diademas de ouro em forma de folhas de álamo. As tabuletas órficas não mencionam o nome da árvore que se alçava junto ao remanso da Memória, embora se tratasse provavelmente do álamo-branco em que se transformou Leuce, ou quiçá uma nogueira, símbolo da sabedoria. A madeira do cipreste branco, considerada de grande resistência, era utilizada para fazer arcas domésticas e ataúdes.
Hades tinha um templo aos pés do monte Mente, na Élida, e o fato de ter violado Menthe (“menta”) foi certamente deduzido a partir do emprego da menta nos ritos funerários, junto com o alecrim e o mirto, para eliminar o odor da decomposição. A água de cevada de Deméter, que se tomava em Elêusis, era aromatizada com menta. Embora controlasse o gado solar de Eritéia (“terra vermelha”) porque era ali que o sol morria toda noite, Hades e mais freqüentemente chamado de Cronos ou, neste contexto, de Gerião.
O relato de Hesíodo sobre Hécate demonstra que ela havia sido a deusa tripla original, suprema no céu, na terra e no Tártaro, mas os helenos enfatizaram seus poderes destrutivos em detrimento de sua força criadora, até que finalmente ela passou a ser invocada apenas nos rituais clandestinos de magia negra, especialmente em lugares onde se cruzavam três caminhos. O fato de Zeus não lhe ter negado o antigo dom de outorgar a cada mortal o que desejasse é um tributo às bruxas da Tessália, temidas por todos. Suas cabeças de leão, de cachorro e de cavalo referem-se evidentemente ao antigo ano tripartite, sendo o cachorro a estrela-cão Sírio, bem como às cabeças de Cérbero.
As Erínias, companheiras de Hécate, personificavam os remorsos depois da transgressão de um tabu - primeiro apenas o tabu do insulto, [148] da desobediência ou da violência para com a mãe. Requerentes e hóspedes encontravam-se sob a proteção de Héstia, deusa do lar, e tratá-los mal equivalia a cometer um insulto contra a deusa.
Leuce, a maior ilha do mar Negro, embora muito pequena, é atualmente uma colônia penal romena. [149]

Raramente se conseguia convencer Afrodite a emprestar às outras deusas seu cinto mágico, que fazia com que todos se apaixonassem pela portadora, pois tinha muito ciúmes de sua vantajosa posição. Zeus a havia cedido em matrimônio a Hefesto (Vulcano, entre os romanos), o deus ferreiro coxo, mas o verdadeiro pai de seus três filhos - Fobos, Deimos e Harmonia - era Ares, o impetuoso, ébrio e irascível deus da guerra, de membros fortes e bem formados. Hefesto ignorava a traição, até que, uma noite, os amantes permaneceram tempo demais na cama do palácio de Ares, na Trácia. Quando Hélio se levantou e viu que estavam se divertindo, foi contar tudo a Hefesto.
Hefesto retirou-se furioso para a sua ferraria e, a golpes de martelo, forjou uma rede de caça em bronze, tão fina como uma teia de aranha mas inquebrável, que atou secretamente aos pilares e as laterais de seu leito matrimonial. Quando Afrodite voltou da Trácia, toda sorridente, dizendo que havia resolvido certos assuntos em Corinto, seu marido lhe disse:
- Perdoe-me, querida, farei um breve retiro na ilha de Lemnos, minha favorita.
Afrodite não se ofereceu para acompanha-lo e, quando o perdeu de vista, apressou-se em chamar Ares, que veio imediatamente. Os dois se atiraram alegremente na cama, mas, ao amanhecer, viram-se envoltos na rede, nus e incapazes de escapar. Ao regressar de sua viagem, Hefesto os surpreendeu ali e chamou todos os deuses para testemunhar sua desonra. Anunciou então que não libertaria a esposa enquanto não recebesse de volta os valiosos presentes nupciais que entregara a Zeus, pai adotivo de Afrodite.
Os deuses logo se prontificaram a contemplar o embaraço de Afrodite.
As deusas, por delicadeza, ficaram em casa. Apolo cutucou Hermes:
- Você não se importaria em estar no lugar de Ares, com rede e tudo, não? - Perguntou.
Hermes disse, jurando por sua própria cabeça, que não se importaria em absoluto, mesmo que houvesse três vezes mais redes e que todas as deusas estivessem olhando com desprezo. Diante de tal resposta, ambos explodiram em gargalhadas. Mas Zeus estava tão desgostoso que se negou a devolver os presentes nupciais ou a interferir numa vulgar disputa entre marido e mulher, declarando que Hefesto era um estupido por ter propalado o assunto. Ao ver o corpo desnudo de Afrodite, Posídon apaixonou-se por ela, mas ocultou a inveja que sentia de Ares, fingindo simpatizar com Hefesto:
- Já que Zeus se recusa a ajudar - disse Posídon -, providenciarei para que Ares pague, para ser liberado, o equivalente aos presentes nupciais em questão.
- Assim está muito bem - replicou Hefesto, triste.
- Mas, se Ares não cumprir a obrigação, você terá de substitui-lo embaixo da rede.
- Em companhia de Afrodite? - perguntou Apolo, rindo.
- Não creio que Ares falte com a palavra - disse Posídon, com nobreza - Mas, se o fizer, estou disposto a pagar eu mesmo a divida e a me casar com Afrodite.
Assim, Ares foi colocado em liberdade e voltou para a Trácia, enquanto Afrodite foi para a ilha de Pafos, onde renovou sua virgindade no mar.
Lisonjeada pela sincera confissão de amor de Hermes, Afrodite passou uma noite com ele, e o fruto deste ato foi Hermafrodito, uma criatura com os dois sexos. Igualmente contente com a intervenção de Posídon em sua defesa, ela lhe deu dois filhos, Rodo e Herofilo. É desnecessário dizer que Ares se omitiu, alegando que, se Zeus não se dispôs a pagar, por que ele o faria? No final, ninguém pagou porque Hefesto estava loucamente apaixonado por Afrodite e não tinha intenções reais de se divorciar dela.
Mais tarde, Afrodite entregou-se a Dionísio, dando-lhe Priapo, um menino feio com um falo descomunal (foi Hera quem lhe deu essa aparência obscena a fim de punir Afrodite por sua promiscuidade). Ele era jardineiro e carregava consigo um podao.
Embora Zeus nunca tenha se deitado com sua filha adotiva Afrodite, como afirmam alguns, a magia de seu cinto submeteu-o a constantes tentações, e, finalmente, ele decidiu humilha-la, fazendo-a apaixonar-se perdidamente pelo mortal Anquises, o atraente rei dos dardanos e neto de Ilo. Uma noite, quando dormia em sua cabana de pastor, no monte Ida, em Troia, Afrodite veio visita-lo disfarçada de princesa frigia, envolta numa deslumbrante túnica vermelha, e se entregou a ele num leito de peles de ursos e leões, enquanto as abelhas zumbiam sonolentas ao seu redor. Quando se separaram, ao amanhecer, ela revelou sua identidade e o fez prometer que não contaria a ninguém que ela havia partilhado o leito com ele. Anquises ficou horrorizado ao descobrir que havia violado a nudez de uma deusa e suplicou-lhe que poupasse sua vida. Ela lhe garantiu que não tinha nada a temer e que o filho que teriam haveria de ser famoso. Alguns dias depois, enquanto Anquises bebia com os amigos, um deles lhe perguntou:
- Você não preferiria dormir com a filha de cicrana e beltrano a ter nos braços a própria Afrodite?
- Por certo que não - respondeu ele com imprudência. - Tendo dormido com as duas, considero absurda a pergunta.
Zeus escutou a bazofia e lançou um raio contra Anquises, que teria morrido na hora não houvesse Afrodite usado seu cinto para desviar o corisco na direção da terra onde estavam seus pés. De qualquer modo, o impacto enfraqueceu Anquises de tal maneira que nunca mais ele foi capaz de se manter em pé, e Afrodite, pouco depois de dar a luz seu filho Eneias, perdeu toda a paixão por ele.
Um dia, a mulher do rei Ciniras, do Chipre - também chamado rei Fenix, de Biblos, e rei Teias, da Assíria -, teve a leviandade de alardear que sua filha Esmirna chegava a ser mais bela que Afrodite. A deusa vingou-se desse insulto fazendo Esmirna apaixonar-se pelo pai e esgueirar-se furtivamente para a cama dele numa noite escura, depois de mandar que sua aia o embebedasse a ponto de perder a noção do que fizesse. Mais tarde, Ciniras descobriu que era ao mesmo tempo pai e avô do futuro filho de Esmima e, num ataque de ira, empunhou uma espada e a perseguiu ate expulsa-la do palácio. Alcançou-a no alto de uma colina, mas Afrodite apressou-se em transformá-la em uma árvore de mirra, que a espada cortou pela metade. Dela saiu o menino Adônis. Afrodite, já arrependida da maldade que havia cometido, escondeu o recém-nascido em um cofre e o confiou a Perséfone, Rainha da Morte, pedindo-lhe que o guardasse em um lugar escuro.
Perséfone ficou muito curiosa e abriu o cofre, encontrando Adônis lá dentro. Ele era tão adorável que ela o pegou nos braços e o levou para seu palácio. A noticia chegou a Afrodite, que imediatamente se apresentou no Tártaro para reclamar Adônis. Mas, diante da recusa de Perséfone, que o havia convertido em seu amante, apelou a Zeus. Dando-se conta de que Afrodite também queria deitar-se com Adônis, Zeus negou-se a julgar uma disputa tão vulgar e transferiu assunto para um tribunal menor, presidido pela musa Caliope. Seu veredito foi Perséfone e Afrodite tinham o mesmo direito sobre Adônis: Afrodite por ter dado o seu nascimento e Perséfone por tê-lo resgatado do cofre, mas que a deveriam ser concedidas breves ferias anuais para poder descansar das exigências amorosas dessas duas deusas insaciáveis. Portanto, Caliope dividiu o ano em três partes iguais, uma das quais Adônis dedicaria a Perséfone, outra a Afrodite e a terceira a si mesmo.
Afrodite foi ardilosa: valendo-se de seu cinto mágico, convenceu Adônis a dedicar-lhe o tempo que tinha para si mesmo e a detestar o período dedicado a Perséfone, descumprindo, portanto, a sentença do tribunal.
Perséfone, legitimamente ofendida, foi a Trácia para contar a seu benfeitor Ares que agora Afrodite o estava preterindo por causa de Adônis.
- É um simples mortal - gritou ela -, e, ainda por cima, efeminado!
Enciumado, Ares metamorfoseou-se em javali, correu ao morte Líbano, onde Adônis estava caçando, e o escornou ate a morte diante dos olhos de Afrodite. De seu sangue brotaram anêmonas, e sua alma desceu ao Tártaro. Afrodite foi ter com Zeus e, aos prantos, suplicou-lhe que Adônis não passasse mais do que a metade mais melancólica do ano com Perséfone e que fosse o seu companheiro durante os meses de verão. Zeus aquiesceu magnanimamente. Mas há quem diga que o javali era, na verdade, Apolo, vingando-se de uma ofensa que Afrodite lhe havia feito.
Certa vez, para fazer ciúmes a Adônis, Afrodite passou varias noites em Lilibeu com o argonauta Butes, com quem teve o filho Erice, que se tornou rei da Sicilia. Com Adônis teve Golgos, fundador de Golgi, no Chipre, e uma filha, Beroe, fundadora de Beroea, na Trácia. Há quem diga inclusive que foi Adônis, e não Dionísio, o pai de seu filho Priapo.
As Moiras determinaram para Afrodite um único dever divino: fazer amor. Mas um dia Atena surpreendeu-a trabalhando secretamente em um tear e foi se queixar de que suas próprias prerrogativas estavam sendo infringidas, ameaçando abandoná-las por completo. Afrodite desculpou-se profusamente e desde então jamais voltou a realizar um trabalho manual sequer.
Os helenos posteriores diminuíram a importância da grande deusa do Mediterrâneo - durante muito tempo, deusa suprema de Corinto, Esparta, Tespias e Atenas -, colocando-a debaixo da tutela masculina e considerando suas solenes orgias sexuais como indiscrições adulteras. Homero descreve Afrodite presa por Hefesto em uma rede que originalmente pertencia a ela, como deusa do mar, e que provavelmente era usada por sua sacerdotisa durante o carnaval da primavera. A sacerdotisa nórdica Holle, ou Gode, fazia o mesmo no Dia de Maio.
Príapo teve origem nas rudes imagens fálicas de madeira que presidiam as orgias dionisíacas. Foi considerado filho de Adônis por causa dos "jardins" em miniatura ofertados durante suas festas. A pereira era consagrada a Hera como deusa principal do Peloponeso e, por conseguinte, ela foi chamada de Apia.
Afrodite Urânia ("rainha da montanha'), ou Ericina ("deusa da urze"), era a deusa-ninfa de meados do verão. Ela destruiu o rei sagrado, com quem copulou no cume de uma montanha, da mesma maneira que a abelha-mestra aniquila o zangão: arrancando-lhe os órgãos sexuais. Isso explica as abelhas amantes da urze e a túnica vermelha, elementos presentes em seu romance com Anquises em cima da montanha, bem como o culto de Cibele, a Afrodite frigia do monte Ida como abelha-mestra, e a extática autocastração de seus sacerdotes em memória de seu amante Atis.
Anquises era um dos vários reis sagrados feridos com um raio ritualístico após terem sido consortes da deusa da monte-em-vida. Na versão mais antiga do mito ele era assassinado, mas nas posteriores consegue escapar: para justificar a história de como o bondoso Eneias, que levou o sagrado Paládio a Roma, conseguiu salvar seu pai quando a cidade de Tróia estava em chamas. Seu nome identifica Afrodite com Isis, cujo esposo Osíris foi castrado por Seth disfarçado de javali. De fato, "Anquises" é um sinônimo de Adônis. Um santuário de Anquises em Egesta, perto do monte Erix, levou Virgílio a concluir que ele morreu em Drépano, uma cidade vizinha, e foi enterrado na montanha. Na Trôade e na Arcádia surgiram outros santuários a ele. Um favo de mel de ouro exposto no santuário de Afrodite, no monte Erix, parece ter sido uma oferenda votiva de Dédalo por ocasião de sua fuga para a Sicília.
Como deusa da morte-em-vida, Afrodite recebeu muitos títulos que parecem incompatíveis com sua beleza e complacência. Em Atenas era conhecida como a Maior das Moiras e irmã das Erínias e, em outros lugares, como Melenis "a negra", nome que significaria, segundo uma ingênua explicação de Pausânias, que a maior parte dos atos sexuais ocorre durante a noite. Outros nomes são: Escócia ("a escura'), Andrófonos ("assassina de homens") e, segundo Plutarco, Epitímbria ("das tumbas").
O mito de Ciniras e Esmirna registra evidentemente um período da História em que o rei sagrado, numa sociedade matrilinear, decidiu prolongar seu reinado para além da duração habitual. E o fez casando-se com a jovem sacerdotisa - em teoria, sua filha - que viria a ser rainha no próximo mandato, para impedir que algum principezinho se casasse com ela e pusesse fim a seu reino.
Adonis (do fenício adon, "senhor") é uma versão grega do semideus sírio, Tamus, o espírito da vegetação anual. Na Síria, na Ásia Menor e na Grécia, o ano sagrado da deusa se dividia em três partes, regidas pelo Leão, pela Cabra e pela Serpente. A Cabra, emblema da parte central, pertencia à deusa amor, Afrodite; a Serpente, emblema da ultima parte, à deusa da morte, Perséfone; e o Leão, emblema da primeira parte, era consagrado à deusa do parto, chamada aqui de Esmirna, que não tinha nenhum direito sobre Adônis. Na Grécia esse calendário deu lugar a um ano de duas estações, dividido no estilo oriental pelos equinócios, como em Esparta e em Delfos, ou pelos solstícios, segundo estilo ocidental de Atenas e Tebas. Isso explica as diferenças entre os respectivos veredictos de Zeus e da deusa da montanha Caliope.
Tamus foi morto por um javali, como diversos personagens míticos semelhantes: Osíris, o Zeus cretense, Anceu da Arcádia, Carmanor da Lídia e o herói irlandês Diarmuid. Esse javali parece uma vez ter sido uma porca com presas em forma de meia-lua, ou seja, a própria deusa na figura de Perséfone. Mas, quando se dividiu o ano, a estação luminosa passou a ser regida pelo rei sagrado, e a metade escura, pelo seu sucessor, o rival, que aparecia disfarçado de javali selvagem - como Seth, quando matou Osíris, ou como Finn mac Cool, quando matou Diarmuid. O sangue de Tamus e uma alegoria das anemonas que cobriam de vermelho as encostas do monte Líbano depois das chuvas invernais. Em Biblos celebrava-se, a cada primavera, a Adônia, festa funeral em homenagem a Tamus. O nascimento de Adônis a partir de uma árvore de mirra - um afrodisíaco bem conhecido - demonstra o caráter orgiástico de seus ritos. As gotas de resina que essa árvore espelia são supostamente as lágrimas por ele derramadas. Higino faz de Ciniras o rei da Esfria, talvez porque o culto a Tamus parecesse ter tido ali sua origem.
Hermafrodito, filho de Afrodite, era tão jovem com cabelos longos e seios de mulher. Tal como a androgina, ou mulher barbuda, o hermafrodita tinha, naturalmente, sua extravagante contrapartida física, mas, como conceitos religiosos, ambos surgiram durante a transição do matriarcado para o patriarcado. Hermafrodito e o rei sagrado, representante da Rainha, que porta seios artificiais. Andrógina é a mãe de um clã pré-helênico que conseguiu evitar o patriarcado, e, para manter seus poderes magistrais ou enobrecer os filhos nascidos dela com um pai-escravo, adota uma barba falsa, como era o costume em Argos. As deusas barbudas, como a Afrodite cipriota, e os deuses efeminados, como Dionísio, correspondem a essas etapas sociais de transição.
Harmonia é, a primeira vista, um nome estranho para uma filha nascida de Afrodite e Ares, mas naquela época, assim como agora, o que prevalecia em um Estado que estava em guerra era mais do que simplesmente carinho e harmonia.

O Ares trácio adora a batalha pela batalha, e sua irmã Eris está sempre criando motivos para desencadear uma guerra, seja difundindo rumores ou semeando ciúmes e invejas. Como ela, Ares nunca privilegia uma cidade ou um partido, mas luta de um lado ou de outro, de acordo com sua inclinação, deleitando com a matança de gente e o saque de cidades. Todos os seus colegas imortais o odeiam, desde Zeus e Hera até o mais inferior, exceto Eris, Afrodite - que alimenta uma paixão perversa por ele - e o voraz Hades, que dá boas-vindas aos valentes jovens guerreiros mortos em guerras sangrentas.
Ares nem sempre saiu vencedor. Atena, guerreira muito mais hábil derrotou-o duas vezes em combate. Uma vez, os Aloidas o capturaram e o enceraram em um pote de bronze durante 13 meses, até que, semimorto, ele foi libertado por Hermes. Em outra ocasião, Héracles o fez voltar correndo para o Olimpo apavorado. Desprezava profundamente os litigios, nunca se apresentou diante um tribunal como pleiteador e apenas uma vez como acusado, quando os deuses o responsabilizaram pelo horrível assassinato de Halirrotio, filho de Posídon. Ele se justificou com a alegação de que agira para salvar sua filha Alcipe, da Casa de Cecrope, que ia ser violada pelo tal Halirrotio. Como ninguém havia presenciado o incidente, exceto o próprio Ares e Alcipe, que naturalmente confirmou o testemunho do pai, o tribunal o absolveu. Essa foi a primeira sentença pronunciada em um julgamento por assassinato, e a colina onde os procedimentos ocorreram ficou conhecida como Areópago, nome que ainda conserva.
Os atenienses não eram amantes da guerra, a não ser para defender sua liberdade ou por alguma outra razão igualmente urgente, e desprezavam os trácios por serem bárbaros que haviam feito da guerra um passatempo.
No relato de Pausânias sobre o assassinato, Halirrotio já havia conseguido violar Alcipe. Mas Halirrotio pode ser simplesmente um sinônimo de Posídon - e Alcipe, um sinônimo da deusa com cabeça de égua. De fato, o mito evoca o estupro de Démeter cometido por Posídon e faz referência à conquista de Atenas por sua gente, bem como a humilhação da deusa em suas mãos. Mas ele foi alterado por razões patrióticas e associado a uma lenda de algum velho julgamento por assassinato. Areiopagus significa provavelmente "colina da deusa conciliadora", areia sendo um dos títulos de Atena.


O que opõe o Norte industrial ao Sul agrícola é uma divergência mais de ordem econômica: o primeiro é protecionista, o segundo quer a liberdade de comércio. Não é, portanto, a questão do escravismo que pode explicar a origem das hostilidades e de um conflito que causará a morte de mais de 600 mil estadunidenses

A percepção da música na antiguidade era muito mais abrangente no uso dos sentidos e na proposta de harmonização entre homem e universo.

Conhecida como Idade das trevas, o período que ficou oficialmente batizado como Idade Média é lembrado como uma série de perseguições religiosas, reinados poderosos, cavaleiros andantes e o total controle da Igreja Católica exercia sobre a vida de seus seguidores.

Mesmo se o desejasse, no terceiro quarto do século V a.e.c., Atenas não poderia pretender ser reconhecida como a capital política do mundo grego. Também não era a capital economica. Há, porém, um domínio no qual da pôde legitimamente ser considerada capital do mundo grego: o do pensamento e das boas-artes.

Jano era o deus romano das aberturas e entradas de todas as espécies. Era representado como tendo duas caras, olhando cada uma na direção oposta da outra. Em termos de localização, era o deus da passagem das portas e dos cruzamentos, e as nascentes dos rios e ribeiros eram sagradas para ele. Era também o deus dos viajantes, esses que atravessam fronteiras por terra e por mar. Em termos de tempo, era o deus do crepúsculo e da aurora, as passagens entre a noite e o dia, e da transição de mês para mês e de ano para ano. O primeiro mês do ano, janeiro, derivou do seu nome. Em Roma, as portas do seu santuário estavam abertas quando era declarada guerra e fechadas em tempo de paz (um evento muito raro na história de Roma), Este era também o deus dos inícios. Os Romanos acreditavam que todos os inícios eram cruciais para o sucesso de qualquer aventura, e consideravam-nos como portais para o futuro. Contava-se com a bênção de Jano no início de cada dia, mês e ano.

O dilúvio de Deucalião, assim chamado para diferenciar-se do dilúvio de Ogigia e de outros dilúvios, foi provocado pela ira de Zeus contra os ímpios filhos de Licaão, o filho de Pelasgo. O mesmo Licaão foi o primeiro a civilizar a Arcádia, institucionalizando o culto ao Zeus Lício, mas acabou irritando Zeus ao sacrificar-lhe um menino. Por essa razão, foi transformado num lobo e sua casa foi destruída por um raio. Alguns dizem que Licaão teve, no total, 22 filhos; outros dizem que teve cinqüenta.
A notícia dos crimes cometidos pelos filhos de Licaão chegou ao Olimpo, e o próprio Zeus foi visitá-los, disfarçado de viajante miserável. Eles tiveram o descaramento de lhe servir uma sopa de miúdos, em que haviam misturado as vísceras de seu irmão Nictimo com as de ovelhas e cabras. Zeus não se deixou enganar e, derrubando a um só golpe a mesa sobre a qual haviam servido aquele repugnante banquete —o lugar ficou conhecido mais tarde como Trapezo —, converteu-os todos em lobos, exceto Nictimo, a quem devolveu a vida.
Após regressar ao Olimpo, Zeus desafogou o seu desgosto desferindo um grande dilúvio sobre a terra, com a intenção de varrer de sua face toda a raça humana. Mas Deucalião, rei de Ftia, avisado por seu pai, o titã Prometeu, que o havia visitado no Cáucaso, construiu uma arca, encheu-a de suprimentos e subiu abordo com sua mulher, Pirra, filha de Epimeteu. Então, o Vento Sul começou a soprar, a chuva desabou, e os rios se precipitaram na direção do mar, que subia com uma assombrosa rapidez, arrasando e submergindo todas as cidades do litooral e das planícies, até que o mundo todo ficou submerso, exceto alguns cumes e montanhas, e todas as criaturas mortais pareciam ter desaparecido, à exceção de Deucalião e Pirra. A arca flutuou por nove dias, quando finalmente as águas baixaram, e a embarcação pousou no monte Parnaso ou, segundo alguns, no monte Etna, no monte Atos ou ainda no monte Ótris, na Tessália. Diz-se que Deucalião obteve a confirmação do fim do dilúvio ao soltar uma pomba em vôo exploratório.
Após desembarcarem sãos e salvos, eles ofereceram um sacrifício ao Pai Zeus, protetor dos fugitivos, e desceram à margem do rio Cefiso para orar no santuário de Têmis, cujo teto se achava coberto de algas e cujo altar estava frio. Suplicaram humildemente que a raça humana renascesse, e Zeus, escutando suas vozes de longe, enviou Hermes para assegurar-lhes de que tudo o que pediam lhes seria concedido. Têmis apareceu em pessoa e disse: “Cubram suas cabeças e atirem os ossos de sua mãe para trás!” Por serem filhos de mães diferentes, ambas já falecidas, Deucalião e Pirra deduziram que a titânide se referia à Mãe Terra, cujos ossos eram as rochas que jaziam às margens do rio. Portanto, cobriram a cabeça e se inclinaram para recolher as rochas, atirando-as por cima dos ombros. As rochas se transformaram em homens ou mulheres, dependendo de quem as houvesse tocado, Deucalião ou Pirra. Dessa forma, a humanidade se renovou, e desde então “povo” (laos) e “uma pedra” (laas) têm sido a mesma palavra em diversas línguas.
Entretanto, Deucalião e Pirra não foram os únicos sobreviventes do dilúvio. Tanto que Megareu, um filho de Zeus, tendo sido despertado de seu sono pelos gritos dos grous, foi impelido a subir até o pico do monte Gerânia, lugar que não chegou a ser coberto pelas águas. Outro que escapou foi Cerambo de Pélion, que, transformado pelas ninfas num escaravelho, pôde voar para o cume do Parnaso.
De modo similar, os habitantes do Parnaso - cidade fundada por Parnaso, filho de Poseidon, que inventou a arte do agouro - foram despertados pelo uivo dos lobos e os seguiram até o alto da montanha. Em memória desses lobos, eles chamaram a sua cidade de Licoréia.
Assim, o dilúvio provou ser pouco eficaz, pois alguns parnasianos emigraram para a Arcádia e repetiram as abominações de Licaão. Até o dia de hoje, um menino é sacrificado ao Zeus Liceu, e suas vísceras são misturadas a outras numa sopa de miúdos, que é então servida a uma multidão de pastores às margens de um rio. O pastor que come as vísceras do menino (que lhe são servidas por sorteio) uiva como um lobo, pendura suas roupas num carvalho, cruza o rio a nado e se transforma em lobisomem. Por oito anos ele fica vivendo entre os lobos, mas, abstendo-se de comer carne humana durante esse período, ele pode regressar, cruzar de novo o rio a nado e recuperar suas roupas. Há algum tempo, um habitante de Parrásia chamado Damarco passou oito anos com os lobos, recuperou sua condição humana e, no décimo ano, após um período de treinamento intensivo num ginásio, ganhou o prêmio de pugilismo nos jogos olímpicos.
Esse Deucalião era o irmão da Ariadne cretense e pai de Oresteu, rei dos lócrios ózolas, em cuja época uma cadela branca pariu uma estaca que, plantada por Oresteu, cresceu e se tornou uma videira. Outro de seus filhos, Anfictião, alojou Dionísio e foi o primeiro homem a misturar vinho com água. Mas seu primeiro descendente e o mais famoso de seus filhos foi Heleno, pai de todos os gregos.
♦
A história de Zeus e as entranhas do menino não é tanto um mito quanto uma anedota moral para expressar a repugnância que provocavam, nas regiões mais civilizadas da Grécia, as primitivas práticas canibais da Arcádia ainda praticadas em nome de Zeus e consideradas “bárbaras e antinaturais”. Cécrope, o virtuoso ateniense contemporâneo de Licaão, merecia somente bolos de cevada, abstendo-se inclusive dos sacrifícios de animais. Os ritos licaones, que, segundo o autor, nunca contaram com o beneplácito de Zeus, aparentemente tinham a intenção de evitar que os lobos atacassem os rebanhos, entregando-lhes um rei humano. Lycaeus significa “da loba”, mas também "da luz”, e o raio no mito de Licaão revela que o Zeus da Arcádia era um rei sagrado que invocava a chuva a serviço da Loba divina, a Lua, a quem a matilha de lobos uivava.
Um Grande Ano de cem meses, ou oito anos solares, era dividido equitativamente entre o rei sagrado e o seu sucessor. Já os cinqüenta filhos de Licaão — um para cada mês do reinado do rei sagrado — deviam ser os que compunham a sopa de miúdos. O número 22, a não ser que seja o resultado do cálculo do número de famílias que se diziam descendentes de Licaão para participar do banquete de miúdos, refere-se provavelmente aos 22 lustros que constituíam um ciclo — o ciclo de 110 anos compunha o reinado de uma linha
O mito do dilúvio de Deucalião, aparentemente trazido da Ásia pelos heleênicos, tem a mesma origem da lenda bíblica de Noé. Porém, enquanto Noé é citado como inventor do vinho numa fábula moral hebraica que justificava a escravização imposta aos cananeus por seus conquistadores semitas e cassitas, a citação da invenção do vinho por Deucalião foi suprimida pelos gregos, que a atribuíram a Dionísio. Entretanto, Deucalião é descrito como irmão de Ariadne, que, ligada a Dionísio, era a mãe de várias tribos seguidoras do culto do vinho, e o nome dele continuou sendo “marinheiro do vinho novo” (de deucos e halieus). O mito de Deucalião registra um dilúvio mesopotâmico do terceiro milênio a.e.c., bem como a festa outonal do Ano-novo da Babilônia, Síria e Palestina. Essa festa celebrava o novo vinho doce, servido por Parnafistim aos construtores da arca, na qual (conforme o poema épico babilónico Gilgamesh) ele e sua família sobreviveram ao dilúvio enviado pela deusa Ishtar. A arca era um barco-lua, e a festa, celebrada por ocasião da Lua nova mais próxima do equinócio de outono, era uma forma de evocar as chuvas invernais. Ishtar, no mito grego, é chamada de Pirra - nome da deusa-mãe dos puresati (filisteus), povo cretense que chegou à Palestina através da Cilicia em torno de 1200 a.e.c. Em grego, pyrrha significa “vermelho vivo” e é um adjetivo que se aplica ao vinho.
Xisutros era o herói da lenda do dilúvio sumeriano, registrada por Berossus, e sua arca acabou pousando no monte Ararat. Todas essas arcas eram construídas com madeira de acácia, utilizada também por Ísis para construir o barco mortuário de Osíris.
O mito de um deus irado que decide punir as maldades do homem com um dilúvio parece ter chegado tardiamente aos gregos, que o tomaram emprestado aos fenícios ou aos judeus. Não obstante, o número de diferentes montes da Grécia, Trácia e Sicília onde se diz que a arca de Deucalião teria atracado sugere que um antigo mito do dilúvio tenha se sobreposto a uma lenda posterior sobre um dilúvio no norte da Grécia. Na primeira versão grega do mito, Têmis renova a raça humana sem ter sido previamente autorizada por Zeus. É provável, portanto, que ela, e não ele, tenha sido a responsável pelo dilúvio, como na Babilônia.
A transformação de pedras em pessoas é, talvez, outro empréstimo heládico vindo do Oriente. São João Batista referiu-se a uma lenda semelhante, declarando, num jogo de palavras com os termos hebraicos banim e abanim, que Deus podia dar filhos a Abraão a partir das pedras do deserto (Mateus III. 3-9 e Lucas III. 8).
A história da cadela branca, a deusa-Lua Hécate que pariu um ramo de videira no reinado de Oresteu, filho de Deucalião, é provavelmente o mito grego mais antigo sobre o vinho. Diz-se que o nome “ózola” deriva de ozoi, “brotos de videira”. Um dos filhos malvados de Licaão também se chamava Oresteu, o que pode justificar a conexão forçada que os mitógrafos estabeleceram entre o mito da sopa de miúdos e o dilúvio de Deucalião.
Anfictião, nome de outro filho de Deucalião, é uma forma masculina de Anfictionis, a deusa em nome da qual se havia fundado a Liga Anfictiônica, a famosa confederação setentrional. Segundo Estrabão, Calímaco e o escoliasta do Orestes de Eurípides, a liga foi regularizada por Acrísio de Argos. Os gregos civilizados, à diferença dos trácios dissolutos, abstinham-se de tomar vinho puro, e seu costume de aguá-lo nas assembléias dos estados membros celebradas na época da vindima em Antela, perto das Termópilas, deve ter sido uma maneira de evitar disputas sangrentas durante o evento.
Heleno, filho de Deucalião, era o antecessor epônimo de toda a raça helênica. Seu nome demonstra que ele era o representante real da sacerdotisa de Hele, Helen, Helena ou Selene, a Lua. Segundo Pausânias (III. 20. 6), a primeira tribo chamada helena chegou da Tessália, onde se adorava Hele.
Aristóteles (Meteorológica I. 14) diz que o dilúvio de Deucalião teve lugar “na antiga Grécia (Graecia), ou seja, num distrito perto de Dodona e do rio Aquelôo”. Graeci significa “adoradores da Velha”, presumivelmente a deusa Terra Dodona, que aparecia em tríade formando as Gréias. Conta-se que os aqueus foram obrigados a invadir o Peloponeso porque fortes chuvas, nada comuns naquela região, haviam inundado suas pastagens. O culto a Hele parece ter substituído o culto às Gréias.
O escaravelho era um emblema da imortalidade no Baixo Egito, porque sobrevivia aos transbordamentos do Nilo —o Faraó, como Osíris, embarcava em um barco-sol na forma de um escarabeu —, e sua utilização sagrada se propagou, seguindo a Palestina, o Egeu, a Etrúria e as Ilhas Baleares. Antoninus Liberalis menciona o mito de Cerambo, ou Terambo, quando cita Nicandro.

Apolo, filho de Zeus e Leto, nasceu de sete meses, mas os deuses crescem muito depressa. Temis o alimentou com néctar e ambrosia, e quando amanheceu o quarto dia ele pediu um arco-e-flecha, providenciado na mesma hora por Hefesto. Ao sair de Delos, dirigiu-se diretamente ao monte Párnaso, onde estava à sua espreita a serpente Piton, inimiga de sua mãe, e feriu-a gravemente com suas flechas. Piton fugiu para o Oraculo da Mãe Terra na cidade de Delfos, assim chamada em homenagem a seu companheiro, o monstro Delfim. Mas Apolo atreveu-se a persegui-la ate o santuário e ali a matou, junto ao precipício sagrado.
Informado pela Mãe Terra sobre esse crime, Zeus não só ordenou a Apolo que fosse a Tempe purificar-se como também instituiu os jogos piticos em homenagem a Piton, encarregando-o de presidi-los como penitência. Descaradamente, Apolo desobedeceu a ordem de Zeus e, em vez de ir a Tempe, foi purificar-se em Aigialeia, acompanhado de Artemis. Depois, como não gostara do lugar, velejou em direção a Tarra, em Creta, onde o rei Carmanor celebrou a cerimônia.
Ao regressar a Grécia, Apolo saiu a procura de Pã, o velho e desacreditado deus árcade com pernas de cabra, e, depois de persuadi-lo a revelar-lhe a arte da profecia, apoderou-se do Oráculo de Delfos e manteve sua sacerdotisa, denominada pitonisa, sob suas ordens.
Ao saber das noticias, Leto foi com Artemis a Delfos, onde buscou uma caverna sagrada para realizar um rito particular. O gigante Titio interrompeu sua veneração e estava tentando viola-la quando, ao ouvir gritos, Apolo e Artemis saíram correndo e o mataram com uma salva de flechas - vingança que Zeus, pai do gigante, achou por bem classificar de piedosa. No Tártaro, Titio havia sido torturado: seus braços e pernas foram esticados e presos firmemente ao chão, fazendo com que seu corpo ocupasse uma superfície de nada menos que nove acres e ficasse a mercê de dois abutres, que lhe devoravam o fígado.
Em seguida, Apolo matou o sátiro Mársias, seguidor da deusa Cibele. Isso aconteceu da seguinte forma: um dia, Atena confeccionou uma flauta dupla com ossos de cervo e tocou-a em um banquete dos deuses. No início, ela não entendeu por que Hera e Afrodite riam baixinho, tapando a boca com as mãos, enquanto os outros deuses pareciam deleitar-se com sua musica. Intrigada, Atena se retirou, sozinha, para um bosque frígio, empunhou a flauta junto a um ribeirão e contemplou sua imagem na água enquanto tocava. Ao dar-se conta de como a face azulada e as bochechas inchadas de ar tornavam grotesca sua aparência, ela jogou fora a flauta e lançou uma maldição sobre quem a encontrasse.
Mársias foi a inocente vítima dessa maldição. Ele tropeçou na flauta e, mesmo antes de leva-la aos lábios, ela começou a tocar sozinha, inspirada pela recordação da musica de Atena. E assim ele percorreu a Frígia, acompanhando o séquito de Cibele e deleitando os camponeses ignorantes. Estes o aclamaram, dizendo que nem mesmo Apolo, com sua lira, seria capaz de compor musica melhor, e Mársias, por ingenuidade, não se atreveu a contradize-los. Isso, claro, despertou a ira de Apolo, que lhe propôs uma competição, cujo vencedor teria o direito de infligir ao adversário o castigo que desejasse. Mársias aceitou o desafio, e Apolo convocou as musas como árbitros do torneio - que terminou empatado, porque elas ficaram encantadas com os dois instrumentos, ate que Apolo gritou a Mársias:
- Desafio você a fazer com seu instrumento o mesmo que faço com o meu: colocá-lo de ponta-cabeça e tocá-lo, cantando ao mesmo tempo!
Evidentemente, como tal feito era impossível com uma flauta, Mársias fracassou no desafio, ao passo que Apolo colocou sua lira ao contrário e entoou hinos tão melodiosos em louvor aos deuses olímpicos que as musas se viram na obrigação de emitir um veredicto a seu favor. Depois, por toda aquela doçura dissimulada, Apolo vingou-se de Mársias da maneira mais cruel: esfolou-o vivo e pendurou sua pele em um pinheiro (segundo alguns, num plátano), junto à foz de no que agora leva o seu nome.
Mais tarde, Apolo venceu um segundo desafio musical, presidido pelo rei. Dessa vez, derrotou Pã. Desde que se tornou reconhecido como o deus musica, tocou sempre sua lira de sete cordas nos banquetes dos deuses. Outro de seus deveres era o de guardar os rebanhos e as manadas que os deuses tinham em Pieria, trabalho que, mais tarde, ele acabou delegando a Hermes.
Apesar de negar-se a ter ligações matrimoniais, Apolo deixou grávidas várias ninfas e mulheres mortais, entre elas Ftia, com quem teve Doro, Polidectes e Laodoco; a musa Talia, que deu a luz os coribantes; Coronis, mãe de Asclépio; Aria, que lhe deu Mileto; e Cirene, mãe de Aristeu.
Apolo seduziu também a ninfa Driopeia, que cuidava do gado de seu pai no monte Eta, na companhia de suas amigas, as hamadriades. Apolo se disfarçou de tartaruga, com a qual todas brincaram, e, quando Driopeia a colocou sobre o peito, ele se converteu numa serpente sibilance, assustando as hamadriades e unindo-se a Driopeia. Ela então lhe deu Anfisso, que fundou a cidade de Eta e construiu um templo em homenagem ao pai, onde Driopeia serviu como sacerdotisa, ate o dia em que as hamadriades a raptaram e deixaram um choupo em seu lugar.
Apolo nem sempre teve sorte no amor. Certa vez, tentou roubar Marpessa de Idas, mas ela permaneceu fiel ao marido. De outra feita, perseguiu Dafne, a ninfa da montanha, sacerdotisa da Mãe Terra, filha do rio Peneu, na Tessalia, mas, quando a alcançou, ela suplicou por ajuda a Mãe Terra, que a fez desaparecer em um instante e reaparecer em Creta, onde se tornou conhecida como Pasifae. A Mãe Terra deixou um loureiro em seu lugar, e, com suas folhas, Apolo fez uma grinalda para se consolar.
Cabe acrescentar que sua tentativa de se aproximar de Dafne não foi um impulso repentino. Fazia muito tempo que ele andava apaixonado por ela, e já havia causado a morte de seu rival Leucipo, filho de Enomao, que se disfarçara de mulher para participar das orgias montanhesas de Dafne. Tendo se inteirado disso por adivinhação, Apolo sugeriu às ninfas que se banhassem desnudas, para se assegurarem de que todas as que ali estavam eram mulheres. As ninfas logo descobriram a impostura de Leucipo e o esquartejaram.
O mesmo aconteceu com o belo jovem Jacinto, príncipe espartano, pelo qual se apaixonou não só o poeta Tamiris - o primeiro homem a cortejar alguém do mesmo sexo - como também o próprio Apolo, o primeiro deus a faze-lo. Apolo não considerou Tamiris um rival serio. Tendo ouvido que o poeta se vangloriava de poder superar as musas com seu canto, ele, ardilosamente, tratou de informa-las. Elas não tardaram em privar Tamiris de sua voz, de sua visão e de sua memoria para tocar a harpa. Mas o Vento Oeste (Zefiro) também se enamorara de Jacinto e, um dia, ao ver Apolo ensinando o jovem a arremessar um disco, ficou loucamente enciumado, agarrou o disco no ar e lançou-o contra o crânio de Jacinto, matando-o. De seu sangue brotou a flor que leva seu nome, na qual ainda se podem ver suas iniciais.
Apolo enfureceu Zeus apenas uma vez, depois da famosa conspiração para destrona-lo. Foi quando seu filho Asclépio (Esculápio), o medico, cometeu a temeridade de ressuscitar um morto, roubando assim um súdito de Hades. Este, naturalmente, apresentou queixa ao Olimpo e, na sequencia, Zeus fulminou Asclépio, e Apolo, para se vingar, matou os ciclopes. Encolerizado pela perda de seus armeiros, Zeus só não o condenou ao desterro perpetuo no Tártaro porque Leto, implorando-lhe clemencia, comprometeu-se a fazer com que Apolo melhorasse sua conduta. A sentença reduziu-se a um ano de trabalhos forçados, e Apolo foi cuidar dos rebanhos de ovelhas do rei Admeto, de Teras. Seguindo o conselho de Leto, ele não só cumpriu humildemente sua pena como também trouxe grandes benefícios a Admeto.
Tendo aprendido a lição, ele passou a pregar a moderação em todas as coisas. As frases "Conhece-te a ti mesmo!" e "Nada em excesso!" estavam sempre em seus lábios. Trouxe para Delfos as musas de sua morada no monte Helicon, moderou seu exaltado frenesi e as orientou para tipos de danças mais formais e decorosas.
A historia de Apolo é confusa - Os gregos o fizeram filho de Leto, deusa conhecida pelo nome de Lat no sul da Palestina, mas era também deus dos hiperboreos ("homens de além do Setentrião"), que Hecataeus (Diodoro Siculo: 11.47) identificava claramente como os britânicos, embora Píndaro (Odes piticas X. 50-55) os considerasse líbios. Delos era o centro desse culto hiperbóreo que aparentemente estendia-se pelo sudeste ate a Nabateia e a Palestina, pelo noroeste até a Bretanha, e incluía Atenas. Havia um intercambio constante de visitas entre os povos unidos por tal culto (Diodoro Siculo: loc. cit.).
Entre os hiperbóreos, Apolo sacrificou quantidades enormes de asnos (Píndaro: loc. cit.), o que o identifica como o "Menino Hórus", cuja vitoria sobre seu inimigo Seth os egípcios celebravam anualmente, impelindo burros selvagens a um precipício (Plutarco: Sobre Isis e Osíris 30). Hórus queria vingar-se de Seth pelo assassinato de seu pai Osíris, o rei sagrado, amante da deusa-Lua tripla (Ísis, ou Lat), que tinha sido sacrificado pelo seu sucessor Seth no solstício estival e no invernal, e do qual o próprio Horus era a reencarnação. O mito da perseguição a Leto por parte de Píton é análogo ao da perseguição a Isis por parte de Seth (durante os 72 dias mais quentes do ano). Além disso, Píton pode ser identificado como Tifon, o Seth grego, no Hino homérico a Apolo é também pelo escoliasta de Apolônio de Rodes. De fato, o Apolo hiperbóreo é um Hórus grego.
Mas ao mito deu-se um contorno politico: diz-se que Píton foi enviado contra Leto por Hera, que o havia parido partenogenicamente, a fim de contrariar Zeus (Hino homérico a Apolo 305). Apolo, apos matar Píton (e supostamente também seu companheiro Delfim), apodera-se do templo oracular da Mãe Terra em Delfos - por ser Hera a Mãe Terra, ou Delfim, em seu aspecto profético. Parece que certos helenos do norte, aliados dos trácio-líbios, invadiram a Grécia central e o Peloponeso, onde enfrentaram a oposição dos adoradores pré-helênicos da deusa Terra, capturando, contudo, seus principais santuários oraculares. Em Delfos, eles destruíram a sagrada serpente oracular - uma serpente parecida era guardada no Erecteion de Atenas - e se apoderaram do Oraculo em nome de seu deus Apolo Esminteu. Esminteu ("murídeo"), assim como Esmun, o deus cananeu da cura, tinha como emblema um camundongo curativo. Os invasores concordaram em identifica-lo como Apolo, o Hórus hiperbóreo venerado par seus aliados. A fim de aplacar a opinião publica em Delfos, instituíram-se jogos funerários periódicos em homenagem ao herói morto Píton, e sua sacerdotisa foi mantida no cargo.
Brizo ("apaziguadora"), a deusa-Lua de Delos, indistinguível de Leto, pode ser identificada como a deusa tripla hiperbórea Brigite, cristianizada como Santa Brigite ou Santa Brígida. Brigite era a padroeira de todas as artes, e Apolo seguiu seu exemplo. O atentado do gigante Titio contra Leto aponta uma fracassada tentativa de sublevação por parte dos montanheses da Fócida contra os invasores.
As vitórias de Apolo sobre Mársias e Pã comemoram as conquistas helênicas da Frigia e da Arcádia e a consequente substituição, nessas regiões, de instrumentos de sopro por instrumentos de corda, exceto entre os camponeses. O castigo de Mársias pode referir-se ao ritual de esfolar o rei sagrado - assim como Atena despojou Palas de sua égide magica - ou ao costume de remover toda a cortiça de um amieiro jovem para se confeccionar uma flauta de pastor, sendo o amieiro personificado como deus ou semideus. Apolo era aclamado como antecessor dos gregos dórios e dos milesios, que lhe rendiam homenagens especiais. E os coribantes, bailarinos no festival de solstício de inverno, eram chamados de filhos da musa Talia com Apolo, pois ele era o deus da musica.
Sua perseguição a Dafne, a ninfa da montanha, filha do rio Peneu e sacerdotisa da Mãe Terra, aparentemente se refere a captura de Tempe por parte dos helenos. Ali, a deusa Dafene ("a sanguinária') era venerada por uma ordem de menades orgiásticas que mascavam folhas de louro. Após ter suprimido a ordem - o relato de Plutarco sugere que a sacerdotisa fugiu para Creta, onde a deusa-Lua era chamada de Pasifae, Apolo apoderou-se do louro, que, posteriormente, só a pitonisa poderia mascar. Tanto em Tempe como em Figália, Dafene devia ter cabeça de égua. Leucipo ("cavalo branco") era o rei sagrado do culto local do cavalo, esquartejado anualmente pelas mulheres selvagens, que se banhavam para purificar-se depois de mata-lo, e não antes.
O fato de Driopéia ter sido seduzida por Apolo em Oeta registra talvez a substituição do culto local ao carvalho pelo culto a Apolo, a quem o álamo era consagrado. O mesmo se pode dizer da sedução que exerceu sobre Aria. Seu disfarce de tartaruga é uma referência a lira que havia comprado de Hermes. O nome Ftia sugere o aspecto outonal da deusa. A fracassada tentativa com Marpessa ("a que agarra") parece evocar o fracasso de Apolo, ao querer apoderar-se de um templo messenio: o da deusa do trigo em seu aspecto de Porca. Seu servilismo diante de Admeto de Feres pode evocar um acontecimento histórico: a humilhação imposta a seus sacerdotes, como forma de punição pelo massacre de uma corporação de ferreiros pré-helênicos que estava sob a proteção de Zeus.
O mito de Jacinto, que, a primeira vista, parece ser apenas uma fabula sentimental para explicar o símbolo do jacinto grego, faz alusão ao herói-flor cretense Jacinto, aparentemente chamado também de Narciso, cujo culto foi introduzido na Grécia micênica e deu nome ao ultimo mês do verão em Creta, Rodes, Cos, Tira e Esparta. O Apolo dórico usurpou o nome de Jacinto em Tarento, onde o ultimo tinha uma tumba de herói. Em Amiclas, cidade micênica, outra "tumba de jacinto" converteu-se nas fundações do trono de Apolo. Naquela evoca, Apolo já era imortal, ao passo que Jacinto reinou somente durante uma estação. Sua morte em consequência de um golpe de disco recorda a de seu sobrinho Acrisio.
Apolo teve um filho, Asclépio, com Coronis ("corvo"). Este era provavelmente um dos títulos de Atena, mas os atenienses sempre negaram que ela tivesse filhos, e por isso distorceram o mito.
Na época clássica, a musica, a poesia, a filosofia, a astronomia, a matemática, a medicina e as ciências em geral estiveram sob o controle de Apolo. Inimigo do barbarismo, ele pregou a moderação em tudo. As sete cordas de sua lira estavam conectadas as sete vogais do alfabeto grego posterior, eram imbuídas de um significado místico e utilizadas como terapia musical. Finalmente, devido a sua identificação com o Menino Hórus, uma concepção solar, Apolo foi adorado como o Sol, cujo culto coríntio havia sido arrebatado pelo Zeus Solar. Sua irmã Artemis foi corretamente identificada como a Lua.
Cícero, em seu Ensaio Da natureza dos deuses (III. 23), estabelece que Apolo, filho de Leto, era o quarto de uma antiga serie de outros, homônimos: distinguem-se também Apolo, filho de Hefesto; Apolo, pai dos coribantes cretenses; e o Apolo que entregou suas leis a Arcádia.
Sem dúvida, o assassinato de Píton cometido por Apolo não é um mito tão simples como parece à primeira vista, pois a pedra Onfalo sobre a qual a pitonisa se sentava era, tradicionalmente, a tumba do herói encamado na serpente, cujos oráculos ela transmitia (Hesiquio sub o Tumulo de Arcos; Varrão: Sobre os idiomas latinos VII. 17). O sacerdote helênico de Apolo usurpou as funções do rei sagrado que, legitima e cerimonialmente, sempre havia matado seu predecessor, o herói. Isso se demonstra no rito das Esteptérias registrado por Plutarco em Por que os oráculos silenciam (15). A cada nove anos, no chão de terra batida junto a Delfos, construía-se uma cabana que representava a moradia do rei, e que era atacada repentinamente numa noite por... [aqui há uma lacuna no relato]... A mesa com as primeiras frutas era derrubada, ateava-se fogo a cabana, e os que empunhavam as tochas saiam correndo do santuário sem olhar para trás. Mais tarde, o jovem que havia participado da façanha ia purificar-se em Tempe, de onde retomava triunfante e coroado, carregando um ramo de loureiro.
O planejado assalto-surpresa ao morador da cabana faz lembrar o misterioso assassinato de Romulo por seus companheiros, bem como o sacrifício anual no festival das Bufonias de Atenas, onde os sacerdotes matavam o Zeus-boi com um machado duplo e saiam correndo sem olhar para trás. Depois, comiam a carne em um banquete publico, realizavam uma representação mimica da ressurreição do boi e levavam o machado a um tribunal, acusando-o de haver cometido um sacrilégio.
Em Delfos e em Knossos, o rei sagrado deve ter reinado até o nono ano. Sem duvida, o menino ia a Tempe porque o culto a Apolo havia se originado ali.

Efialtes e Oto eram filhos bastardos de Ifimedia, filha de Tríopas. Ela havia se apaixonado por Posídon e costumava agachar-se à beira-mar para recolher as ondas com as mãos e derramar no colo a água. Foi assim que engravidou. Efialtes e Oto eram chamados, entretanto, de Aloídas, porque Ifimedia se casou depois com Aloeu, consagrado rei de Asópia, na Beócia, por seu pai, Hélio. Os Aloídas cresciam dois metros de largura e de altura a cada ano, e, quando atingiram nove anos de idade, com nove cúbitos de largura e nove braças de altura, declararam guerra ao Olimpo. As margens do rio Estige, Efialtes jurou violar Hera, e Oto jurou fazer o mesmo com Ártemis.
Tendo decidido que Ares, o deus da guerra, devia ser o primeiro prisioneiro, os Aloídas se puseram rumo à Trácia, desarmaram-no, amarraram-no e o confinaram num vaso de bronze, que ocultaram na casa da madrasta dos dois, Enbéia, pois Ifimedia já havia morrido. Depois, iniciaram o assédio ao Olimpo e fizeram um baluarte para atacá-lo, pondo o monte Pélion em cima do monte Ossa, e, em seguida, ameaçaram arremessar montanhas no mar até convertê-lo num deserto, embora as terras baixas ficassem inundadas e se transformassem em pântanos por causa das ondas. Estavam totalmente confiantes porque, segundo a profecia, nenhum homem, nem mesmo um deus, seria capaz de matá-los.
Por recomendação de Apoio, Ártemis mandou uma mensagem aos Aloídas: se voltassem atrás em seu propósito, ela se reuniria com eles na ilha de Naxos e ali se submeteria aos assédios de Oto. Este, então, foi tomado por arroubos de alegria, mas Efialtes, que não havia recebido nenhuma mensagem similar de Hera, ficou enciumado e enraivecido. Uma briga cruenta eclodiu em Naxos, para onde eles foram juntos: Efialtes insistia em rejeitar os termos, a não ser que ele, como o mais velho dos dois, fosse o primeiro a desfrutar de Ártemis. A discussão estava no ápice quando Ártemis fez sua aparição em forma de corça branca, e os Aloídas posicionaram suas lanças para arremessá-las contra a deusa, cada qual disposto a provar que seria o melhor atirador. Quando ela passou voando por eles, veloz como o vento, os dois se atrapalharam e acabaram cravando a lança um no outro. Assim pereceram ambos, comprovando a profecia de que nenhum homem ou deus poderia matá-los. Seus cadáveres foram levados de volta para Antédon, para serem enterrados na Beócia, mas os habitantes de Naxos ainda lhes rendem honras de heróis. Eles também são lembrados como fundadores de Ascra, na Beócia, e como os primeiros mortais a adorarem as musas do Hélicon.
Uma vez levantado o cerco do Olimpo, Hermes saiu à procura de Ares e obrigou Eribéia a libertá-lo, já meio morto, do vaso de bronze. Mas as almas dos Aloídas desceram para o Tártaro, onde foram firmemente amarradas a uma coluna com cordas de nós, feitas de víboras vivas. Ali continuam sentadas, uma de costas para a outra, enquanto a ninfa Estígia, perversamente encarapitada no topo da coluna, serve como uma lembrança dos juramentos não cumpridos pelos Aloídas.
♦
Esta é mais uma versão popular da rebelião dos gigantes. O nome Efialtes, o assalto ao Olimpo, a ameaça dirigida a Hera e a profecia da invulnerabilidade dos Aloídas ocorrem em ambas as versões. Efialtes e Oto, “filhos do campo debulhado” com “a que fortalece os genitais”, netos da “Trifacetada”, ou seja, Hécate, e adoradores das musas selvagens, personificam o incubo, ou pesadelo orgiástico, que oprime e profana as mulheres durante o sono. Assim como o Pesadelo da lenda britânica, eles estão associados ao número nove. O mito se confunde com um obscuro episódio histórico relatado por Diodoro. Ele conta que um certo Aloeu, da Tessália, encarregou seus filhos de libertar a mãe Ifimedia e a irmã Pancrátis (“toda-força”) das mãos dos trácios, que as haviam levado para Naxos. A expedição foi bem-sucedida, mas brigaram entre si pela posse da ilha e acabaram se matando um ao outro. Entretanto, ainda que Estêvão de Bizâncio mencione que a cidade de Aloeium, na Tessália, assim se chamasse por causa dos Aloídas, antigos mitógrafos dizem que eles eram beócios.
O assassinato recíproco dos irmãos gêmeos evoca a eterna rivalidade pelo amor da Deusa Branca entre o rei sagrado e seu sucessor, que alternadamente atacavam-se um ao outro. O fato de se chamarem “filhos do campo debulhado” e terem escapado da destruição do raio de Zeus os relaciona mais ao culto do cereal do que ao do carvalho. O suplício a que foram condenados no Tártaro, igual ao de Teseu e Pirítoo, parece deduzir-se de um antigo símbolo calendárico em que aparecem as cabeças dos gêmeos, uma de costas para a outra em cada lado da coluna, na posição em que se sentavam na Cadeira do Esquecimento. A coluna, sobre a qual está pousada a deusa da morte em vida, marca o apogeu do verão no momento em que termina o reinado do rei sagrado e começa o de seu sucessor. Na Itália, esse mesmo símbolo converteu-se no Jano bicéfalo, mas ali o Ano-novo se celebrava em janeiro, e não por ocasião do nascer helíaco do astro bicéfalo Sírio.
O confinamento de Ares durante três meses constitui um fragmento mítico desconexo, cuja datação exata é desconhecida, e se refere talvez a um armistício combinado entre os tessalo-beócios e os trácios, que durou um ano inteiro - o ano pelasgo tinha 13 meses período em que os símbolos bélicos de ambas as partes foram guardados dentro de um recipiente de bronze, num templo de Hera Eribéia. Pélion, Ossa e Olimpo são montanhas ao leste da Tessália, das quais se tem uma visão distante do Quersoneso trácio, onde possivelmente foi travada a guerra que terminou graças a esse armistício.

Em vingança pela destruição dos gigantes, a Mãe Terra deitou-se com Tártaro e pouco tempo depois, na caverna Corícia, deu à luz seu filho mais novo, Tífon, o maior monstro que já existiu. Das coxas para baixo ele não era nada mais que serpentes enroscadas. Seus braços, estendidos, chegavam a 600 quilômetros de comprimento cada um, e em vez de mãos ele tinha, na ponta de cada braço, inúmeras cabeças de serpente. Sua cabeça, ornada de crinas de asno, roçava as estrelas, suas enormes asas ensombreciam o Sol, seus olhos lançavam chamas, e de sua boca saíam rochas flamejantes. Quando entrou em disparada no Olimpo, os deuses fugiram aterrorizados para o Egito, onde se disfarçaram de animais: Zeus se converteu num carneiro; Apolo, num corvo; Dionísio, em cabra; Hera, numa vaca branca; Ártemis, num gato; Afrodite, em peixe; Ares, em javali; Hermes, num íbis, e assim por diante.
Só Atena enfrentou, altiva, a situação, e escarneceu da covardia de Zeus até que este, recuperando a forma original, lançou contra Tífon um raio seguido de um golpe com a mesma foice de pedra lascada que servira para castrar seu avô Urano. Ferido e aos gritos, Tífon fugiu para o monte Casio, ao norte da Síria, e ali travou-se um terrível combate. Tífon enrolou em Zeus sua miríade de caudas, arrancou-lhe a foice e, após cortar-lhe os tendões das mãos e dos pés, arrastou-o para a caverna Corícia. Embora imortal, Zeus, a essa altura, não podia mover um dedo pois Tífon havia escondido os tendões numa pele de urso vigiada por Delfina. uma irmã-monstro com cauda de serpente.
A notícia da derrota de Zeus semeou o desânimo entre os deuses, mas Hermes e Pã conseguiram entrar furtivamente na caverna. Ali, Pã assustou Delfina um grito espantoso, enquanto Hermes subtraía habilmente os tendões e os colocava de volta nos membros de Zeus.
Mas alguns dizem que foi Cadmo quem persuadiu Delfina a entregar-lhe os tendões de Zeus, dizendo que precisava deles para fabricar as cordas de uma lira, com a qual iria dedicar-lhe uma música maviosa, e que foi Apolo quem a matou.
Zeus voltou ao Olimpo num carro puxado por cavalos alados e mais uma vez perseguiu Tífon com seus raios. O monstro havia se dirigido ao monte Nisa, onde as três Parcas lhe ofereceram frutos efêmeros como se fossem revigorantes, quando, na verdade, eram letais. Ele chegou ao monte Hemo, na Trácia, e, erguendo montanhas inteiras, lançou-as contra Zeus, que interpôs seus raios de maneira que eles ricochetearam para cima do monstro, provocando-lhe feri das horrendas. Os jorros de sangue de Tífon deram nome ao monte Hemo. O monstro, então, fugiu para a Sicília, onde Zeus pôs fim à perseguição atirando em cima dele o monte Etna, cuja cratera até hoje cospe fogo.
---
Diz-se que “corício” significa “da sacola de couro”. Talvez seja uma referência ao antigo costume de encerrar ventos em sacos, adotado por Éolo e conservado pelas bruxas medievais. Na outra caverna Corícia, a de Delfos, a serpente companheira de Delfina se chamava Píton, e não Tífon. Píton (“serpente”) era a personificação do destrutivo Vento Norte, o Setentrião - os ventos eram habitualmente representados com caudas de serpente - , que se precipita sobre a Síria a partir do monte Casio, e sobre a Grécia a partir do monte Hemo. Tífon, por outro lado, significa “fumo estupefaciente”, e seu aspecto é o de uma erupção vulcânica, daí a lenda de que Zeus o derrotou, enterrando-o finalmente sob o monte Etna. Mas o nome Tífon significava também o ardente siroco do deserto meridional que causava estragos na Líbia e na Grécia, trazendo consigo um odor vulcânico. Ele era retratado pelos egípcios como um asno do deserto. O deus Set, cujo hálito seria o próprio Tífon, mutilou Osíris quase do mesmo modo como Píton mutilou Zeus, embora ambos tenham sido finalmente derrotados. Não obstante, o paralelismo fez com que se confundisse Píton com Tífon.
Esse vôo divino para o Egito, como observa Luciano, foi inventado para justificar a adoração dos egípcios a deuses em forma animal: Zeus-Amon como carneiro; Hermes-Tot como íbis; Hera-Isis como vaca; Ártemis-Pasht como gato, e assim por diante. Mas historicamente pode referir-se também ao êxodo de sacerdotes e sacerdotisas que fugiram assustados das ilhas do Egeu, quando uma erupção vulcânica sepultou metade da grande ilha de Tera, pouco antes do ano 2000 a.e.c. Os gatos não eram animais domésticos na Grécia clássica. Uma outra fonte dessa lenda parece ser o poema épico babilônico da Criação, o Enuma Elish, conforme o qual, na primeira versão de Damascius, a deusa Tiamat, seu consorte Apsu e seu filho Mummi (“confusão”) soltam Kingu e uma horda de outros monstros contra a recém-nascida trindade de deuses: Ea, Anu e Bei. Em seguida vem a fuga provocada pelo pânico, até que Bei reúne seus irmãos, controla a situação e derrota as forças de Tiamat, esmagando seu crânio com uma clava e partindo-a em dois “como um linguado”.
O mito de Zeus, Delfina e a pele de urso registra a humilhação de Zeus diante da Grande Deusa, adorada, como a Ursa, cujo oráculo principal estava em Delfos. Desconhece-se o momento histórico, mas os cadmeus da Beócia pareciam preocupados em manter o culto a Zeus. Os “frutos efêmeros” entregues aTífon pelas três Parcas são, ao que parece, as típicas maçãs da morte. Numa versão proto-hitita do mito, a serpente Illyunka vence o deus da tormenta e lhe arranca os olhos e o coração, que ele recupera mediante um estratagema. O Conselho Divino chama então a deusa Inara para executar a vingança. A seu convite, a serpente Illyunka vai a uma festa e come até empanturrar-se. Nisso, Inara a amarra com uma corda, e o deus da tormenta a aniquila.
O monte Casio (atualmente Jebel-el-Akra) é o monte Hazzi que aparece na história hitita de Ullikummi, o gigante de pedra que crescia a uma velocidade surpreendente e que recebera ordens do pai, Kumarbi, para destruir os setenta deuses do Céu. O deus da tormenta, o deus do Sol, a deusa da beleza e as demais divindades fracassaram em suas tentativas de matar Ullikummi, até que Ea, a deusa da sabedoria, utilizando-se da faca que originalmente separara o céu da terra, cortou os pés do monstro e jogou-os no mar. Certos elementos dessa história ocorrem no mito de Tífon e também no dos Aloídas, que cresciam com a mesma velocidade e utilizavam as montanhas como escadas para subir ao Céu. Os cadmeus foram provavelmente os que levaram essas lendas para a Grécia a partir da Ásia Menor.

Os estudos modernos sobre o orfismo chegaram a conclusões muito contrastantes entre si: a uma tendência que, com muita segurança, pensava poder reconstruir o fenômeno do orfismo nas suas várias dimensões e, até mesmo, explicar com o próprio orfismo não só grande parte da vida espiritual grega, mas também grande parte do pensamento filosófico (e que, conseqüentemente, foi justamente chamada de “panórfica”), se contrapôs uma tendência no sentido contrário e decididamente hipercrítica, a qual não só sistematicamente pôs em dúvida o fundamento de uma série de convicções comumente aceitas sobre o orfismo, mas reduziu radicalmente as suas influências até quase anulá-las, chegando a sustentar que certas teses consideradas tipicamente órficas devem, ao invés, ser consideradas invenções dos filósofos, em primeiro lugar de Pitágoras e, depois, de Empédocles e de Platão. Entre estas duas tendências extremas, a crítica busca hoje um justo equilíbrio, tentando evitar não só asserções que não sejam suficientemente críticas, mas também as hipercríticas e céticas em excesso.
Na verdade, trata-se de um equilíbrio bem difícil de alcançar, dado o estado verdadeiramente problemático da literatura órfica que nos chegou. Antes de tudo, deve-se observar que as obras integrais que nos foram transmitidas como órficas são falsificações de época muito tardia, situando-se provavelmente na época dos neoplatônicos e, portanto, cerca de um milênio posteriores ao orfismo original. Estas obras [175] são: 1) 87 hinos (precedidos de um poema) num complexo de 1.133 versos dedicados a várias divindades e distribuídos segundo uma ordem conceituai precisa, 2) um poema com o título Argonautas, composto de 1.376 hexâmetros épicos, 3) um pequeno poema de 774 versos, também em hexâmetros épicos, intitulado Líticos. Nos Hinos estão contidos, além de idéias órficas, teses extraídas do Pórtico e até mesmo de Fílon de Alexandria; nos Argonautas (dedicado à mítica viagem dos famosos heróis) as teses órficas são muito limitadas, enquanto nos Líticos (que tratam das virtudes mágicas das pedras), de órfico não há quase nada. É evidente, portanto, que tais obras só servem para compreender as posições de alguns epígonos do orfismo.
Para reconstruir as posições do orfismo primitivo, nosso interesse aqui, possuímos apenas testemunhos e fragmentos. Otto Kem, na sua coletânea de 1921, que permanece até hoje canônica, apresenta 262 testemunhos indiretos e 363 fragmentos, para um montante de mais de 600 versos. Mas também o valor deste material é muito heterogêneo. De fato, entre os testemunhos, só um pertence ao século VI, poucos são do século V e IV a.e.c., enquanto a maior parte pertence à tardia antigüidade. Quanto aos fragmentos, a sua genuinidade e antigüidade são muito dificilmente acertáveis, dado que nos foram transmitidos, na maioria dos casos, por autores pertencentes ao período tardo-antigo. [176]
A perplexidade dos estudiosos tem, pois, sérios fundamentos e é, indubitavelmente, correto usar de grande cautela crítica: todavia, o ceticismo em excesso não parece justificado.
Deve-se observar que já o poeta Ibico, no século VI a.e.c., fala de “Orfeu de nome famoso”, atestanto assim a grande notoriedade da personagem naquela época, o que só se explica supondo a existência e a difusão do movimento religioso que a ele se remetia. Eurípides e Platão atestam que na sua época corria um grande número de escritos sob o nome de Orfeu, referentes aos ritos e purificações órficas. De ritos e iniciações órficas nos falam Heródoto e Aristófanes. Mas talvez o mais interessante de todos os testemunhos é o de Aristóteles, segundo o qual Onomácrito pôs em versos doutrinas atribuídas a Orfeu. Ora, dado que Onomácrito viveu no século VI a.e.c., temos um ponto de referência seguro: no século VI a.e.c. se compunham seguramente escritos em versos sob o nome do mítico poeta e, portanto, existia um movimento espiritual que reconhecia em Orfeu o seu patrono e inspirador.
Mais difícil se apresenta a situação no que concerne à doutrina, dado que, de um lado, certas crenças que, como veremos, só podem ser órficas, nem sempre são qualificadas como tais pelas nossas fontes, e, de outro lado, os fragmentos diretos muito amiúde não são datáveis. Todavia, como veremos, considerando alguns testemunhos paralelos, pode-se chegar a uma elevada probabilidade de atribuir aos órficos certas doutrinas. Os numerosos versos órficos pertencentes à assim chamada teogonia rapsódica (Discursos sacros em vinte e quatro rapsódias), primeiro considerados genuínos, depois considerados falsificações de época tardo-antiga, são hoje reconsiderados sob nova luz: o autor da teogonia rapsódica parece ter utilizado um material antigo, sistematizando-o e completando-o. Mas um fato particularmente [177] importante demonstrou recentemente que a hipercrítica não se sustenta: um fragmento de teogonia, típica expressão do sentimento “panteísta” órfico, reportado no Tratado sobre o cosmo por Alexandre, atribuído a Aristóteles, considerado como composição da época helenística, assim como o Tratado, resultou muito mais antigo, a partir da descoberta de um papiro de Derveni, ocorrida em 1962. O papiro, de fato, pertence à época socrática, mas, dado que o carme é submetido a um comentário, isso quer dizer que, naquela época, ele já gozava de autoridade e notoriedade consideráveis e, portanto, pertencia a uma época ainda mais antiga.
Estas especificações eram indispensáveis para esclarecer a objetiva complexidade da situação, assim como a necessidade de fornecer uma abundante documentação mesmo num trabalho de síntese como é o nosso.
A novidade de fundo do orfismo
Nos documentos literários gregos que nos chegaram aparece pela primeira vez em Píndaro uma concepção da natureza e dos destinos do homem praticamente desconhecida aos gregos das épocas precedentes, e expressão de uma crença revolucionária sob muitos aspectos, a qual, justamente, foi considerada como elemento de um novo esquema de civilização. De fato, começa-se a falar da presença no homem de algo divino e não mortal, que provém dos deuses e habita no próprio corpo, de natureza antitética à do corpo, de modo que este algo só é ele mesmo quando o corpo dorme ou quando se prepara para morrer e, portanto, quando enfraquecem os vínculos com ele, deixando-o em liberdade.
Eis o célebre fragmento de Píndaro:
O corpo de todos obedece à poderosa morte, em seguida permanece ainda viva uma imagem da vida, pois só esta vem dos deuses: ela dorme enquanto os membros agem, mas em muitos sonhos [178] mostra aos que dormem o que é furtivamente destinado de prazer e de sofrimento1.
Os estudiosos há tempo observaram que esta concepção tem paralelos exatos, mesmo terminológicos, além de conceituais, por exemplo em Xenofonte, no final da Ciropédia, e num fragmento que nos chegou da obra exotérica de Aristóteles, Sobre a filosofia.
Eis a passagem de Xenofonte:
Quanto a mim, filhinhos, jamais consegui persuadir-me disso: que a alma, enquanto se encontra num corpo mortal, viva; quando se libertou dele, morra. Vejo, com efeito, que a alma torna vivos os corpos mortais por todo o tempo em que neles reside. E tampouco jamais me persuadi de que a alma seja insensível, uma vez separada do corpo, o qual é insensível. Antes, quando o espírito se separa do corpo, então, livre de toda mistura e puro, é logicamente mais sensível do que antes. Quando o corpo do homem se dissolve, vemos as partes individuais juntarem-se aos elementos da sua própria natureza, mas não a alma: só ela, presente ou ausente, foge à vista. Observai em seguida — prosseguiu —, que nenhum dos estados humanos é mais próximo da morte que o sono: e a alma humana então, melhor do que nunca, revela com clareza a sua natureza divina, prevendo o futuro, sem dúvida porque então é quando se encontra mais livre2.
Eis o fragmento aristotélico:
Aristóteles diz que a noção dos deuses tem nos homens uma dupla origem, do que acontece na alma e dos fenômenos celestes. Mais precisamente do que acontece na alma em virtude da inspiração e do poder profético, próprios a ela, que se produzem no sono. Quando, de fato, diz ele, no sono a alma se recolhe em si mesma, então, assumindo a sua verdadeira e própria natureza, profetiza e vaticina o futuro. Assim também ela é quando, no momento da morte, separa-se do corpo. E assim ele aprova o poeta Homero por ter observado o seguinte: representou a Pátroclo que, no momento de ser morto, vaticinou a morte de Heitor, e Heitor vaticinou o fim de Aquiles. De fatos deste gênero, diz ele, os homens suspeitaram que existe algo divino, que é em si semelhante à alma e, mais do que todas as outras coisas, é objeto de ciência3.
O novo esquema de crenças consiste, pois, numa concepção dualista do homem, que contrapõe a alma imortal ao corpo mortal e [179] considera a primeira como o verdadeiro homem ou, melhor dizendo, o que no homem verdadeiramente conta e vale. Trata-se de uma concepção, como foi bem notado, que inseriu na civilização européia uma nova interpretação da existência humana.
Não parece dubitável que esta concepção seja de origem órfica. Com efeito, Platão refere uma concepção, ligada estreitamente a esta, expressamente aos órficos, como fica claro desta passagem do Crátilo:
De fato alguns dizem que o corpo é túmulo [sema] da alma, como se esta estivesse nele enterrada: e dado que, por outro lado, a alma exprime [semainei] com ele tudo o que exprime, também por isso foi chamado justamente “sinal” [sema]. Todavia, parece-me que foram sobretudo os seguidores de Orfeu a estabelecer este nome, como se a alma expiasse as culpas que devia expiar, e tivesse em torno de si, para ser custodiada [sozetai], este recinto, semelhante a uma prisão. Tal cárcere, portanto, como diz o seu nome, é “custódia” [soma] da alma, enquanto esta não tenha pago todos os seus débitos, e não há nada a mudar, nem mesmo uma só letra4.
O conceito da divindade da alma resulta também central nas “lâminas áureas” encontradas em alguns túmulos, das quais se extrai que tal conceito constituía o fulcro da fé órfica.
Eis uma das lâminas encontradas em Turi:
Venho pura dos puros, ó rainha dos infernos,
Eucles e Eubuleu e vós, deuses imortais,
pois me orgulho de pertencer à vossa estirpe feliz;
mas a Moira me suplantou, e outros deuses imortais
... e o fulgor arrojado pelas estrelas.
Voei para fora do círculo que traz afano e opressora dor,
e subi com pés velozes para alcançar a desejada coroa, depois emergi no seio da Senhora, rainha das profundezas, e desci da desejada coroa com pés velozes,
“Feliz e bem-aventurado, serás deus e não mortal”. Cordeiro, caí no leite5.
Esta solene proclamação de que a alma pertence à estirpe dos deuses resulta ser também volta a ser tematizada em outras lâminas, e é expressa até com a mesma fórmula ou com uma fórmula de [180] significado totalmente análogo: “eu sou filha da terra e do céu cintilante”. Mas sobre isto voltaremos adiante.
Este novo esquema de crença, como dizíamos, estava destinado a revolucionar a antiga concepção da vida e da morte, como diz de modo paradigmático um célebre fragmento de Eurípides:
Quem sabe se o viver não é morrer e o morrer, viver?6
E Platão, no Górgias, partindo exatamente desta idéia, mostra toda a carga revolucionária da nova mensagem: ela postula uma nova concepção de toda a existência, e, em particular, postula uma mortificação do corpo e de tudo o que é próprio do corpo, e uma vida em função da alma e do que é a alma.
O orfismo e a crença na metempsicose
Já acenamos ao fato de que a opinião mais difundida dos estudiosos é que, na Grécia, foram os órficos a difundir a crença na metempsicose. Já Zeller, embora resistindo muito a admitir que os mistérios tivessem uma incidência de relevo sobre a filosofia, escrevia: “[...] em todo caso, parece seguro que, entre os gregos, a doutrina da transmigração das almas não veio dos filósofos aos sacerdotes, mas dos sacerdotes aos filósofos”.
Todavia, como alguns estudiosos contestaram este ponto, vale a pela esclarecê-lo, porque entre as vozes de dissenso (que, contudo, não são muitas) elevou-se a autorizada voz de Wilamowitz-Moellendorf.
Nenhuma fonte antiga nos diz expressamente que foram os órficos a introduzir a crença na metempsicose; antes, algumas fontes tardias dizem até mesmo que foi Pitágoras. [181]
Todavia, deve-se observar o seguinte: a) Píndaro conhece esta crença e não se pode demonstrar que ele a tenha derivado dos pitagóricos e não dos órficos; b) as antigas fontes, ademais, quando falam da metempsicose, referem-na como doutrina revelada por “antigos teólogos”, “adivinhos” e “sacerdotes”, ou usam expressões com as quais comumente aludem aos órficos; c) numa passagem do Crátilo, Platão menciona expressamente os órficos, atribuindo-lhes a doutrina do corpo como lugar de expiação da culpa original da alma, que pressupõe estruturalmente a metempsicose, e também Aristóteles refere expressamente aos ófficos doutrinas que implicam a metempsicose; d) algumas fontes antigas fazem depender expressamente Pitágoras de Orfeu e não vice-versa.
Eis dois fragmentos de Píndaro, cujo teor é já por si eloqüente, enquanto não parece remeter ao pitagorismo:
E daqueles de quem Perséfones aceitará a punição
pelo antigo luto, no nono ano restitui novamente
as almas ao esplendor do sol, no alto; delas surgem
reis augustos e grandes homens, subitâneos por força e sabedoria:
e heróis sagrados são chamados pelos mortais do tempo vindouro.
... Sim, se quem possui a riqueza conhece o futuro,
se sabe que os ânimos violentos dos mortos daqui logo
pagaram a pena — enquanto sob a terra alguém julga
os erros neste reino de Zeus, declarando
a sentença com hostil necessidade;
mas gozando da luz do sol em noites
sempre iguais e em dias iguais, os nobres recebem
uma vida menos difícil, sem turbar a terra com o vigor
da sua mão, nem a água marinha,
por uma vazia subsistência; e, ao invés — junto aos favoritos dos deuses que gozaram da fidelidade aos juramentos —
eles percorrem um trecho de vida sem lágrimas,
enquanto os outros suportam uma prova que o olhar não suporta. E os que tiveram a coragem de permanecer por três vezes
em um e no outro mundo, e guardar totalmente a alma
de atos injustos, percorreram até o fim a estrada de Zeus [182] para a torre de Crono: lá as brisas oceânicas sopram ao redor da ilha dos bem-aventurados...7.
Já o pitagórico Filolau — e isto é muito indicativo — escrevia: Atestam também os antigos teólogos e adivinhos que a alma está unida ao corpo para pagar alguma pena; e nele como numa tumba está sepultada8.
Platão, no Ménon, ao reportar a primeira passagem de Píndaro acima lida, escreve:
[...] Dizem, de fato, que a alma do homem é imortal, e que às vezes chega a um fim — o que chamam morte — às vezes ressurge novamente, mas nunca é destruída: justamente por isso é preciso transcorrer a vida da maneira mais sensata possível |...9.
E noutras passagens ele usa expressões análogas e, em particular, a expressão “discurso antigo”, com a qual só se podem entender os discursos sagrados dos órficos.
Análogas conclusões devem ser tiradas do seguinte fragmento aristotélico do Protrético:
Considerando estes erros e estas tribulações da vida humana, parece às vezes que viram algo aqueles antigos, seja profetas, seja intérpretes dos desígnios divinos na narração das cerimônias sagradas e das iniciações, os quais disseram que nascemos para pagar o preço de algum delito cometido numa vida anterior, e parece verdade o que se encontra em Aristóteles, ou seja, que sofremos um suplício semelhante ao que sofreram aqueles que em outros tempos, quando caíam nas mãos dos piratas etruscos, eram mortos com uma crueldade refinada: os corpos vivos eram atados aos mortos com a máxima precisão, adaptando a parte posterior de um vivo à parte posterior de um morto. E como aqueles vivos eram conjugados com os mortos, assim as nossas almas estão estreitamente ligadas aos corpos10.
Já lemos acima a passagem platônica do Crátilo, na qual os órficos são mencionados expressamente. Mas não menos interessante é a seguinte passagem aristotélica, tirada do tratado Sobre a alma, onde claramente se diz que os órficos admitiam uma preexistência da alma: [183]
A tal erro confronta-se também o discurso que se encontra na assim chamada poesia órfica: esta diz, com efeito, que a alma, levada pelos ventos, do universo penetra nos seres quando respiram, e não é possível que isto ocorra com as plantas, e nem mesmo com certos animais, enquanto nem todos os animais respiram: mas isto escapou àqueles que têm tais convicções11.
Depois, o fato de antigas fontes afirmarem que Pitágoras pôs em versos certas doutrinas, atribuindo-as a Orfeu, se não pode ser considerado literalmente, testemunha, todavia, qual era a mais antiga convicção sobre as relações entre os dois personagens.
A metempsicose tem, fundamentalmente, um significado moral, o qual é muito bem destacado já por Platão, além das páginas do Fédon conhecidas por todos, em duas passagens das Leis que convém ler:
Isto seja dito como prelúdio ao tratamento desta matéria, e acrescente-se a isso a tradição, à qual, quando ouvem falar disso, muitos daqueles, que nas iniciações aos mistérios se interessam por estas coisas, prestam muita fé, ou seja, que no Hades se dá uma punição por tais erros, e que os seus autores, voltando novamente, devem necessariamente pagar a pena natural, isto é, aquela de padecer o que fizeram, terminando assim por mãos de outros a nova vida12.
Aquele mito, portanto, ou tradição, ou como quer que se o deva chamar, diz claramente, como nos foi transmitido por antigos sacerdotes, que a vigilante justiça, vingadora do sangue dos parentes, segue a lei há pouco referida; e, portanto, estabeleceu que quem comete um delito deste gênero, deve necessariamente padecer o mesmo que fez: se mata o pai, deve suportar que o mesmo tratamento lhe seja um dia violentamente infligido por obra dos filhos; e se a mãe, ele deve necessariamente renascer como mulher e, mais tarde, deixar a vida por obra dos filhos: pois não há outra expiação do sangue delituosamente derramado, nem a mácula pode ser lavada sem que a alma culpada tenha pagado o assassinato com o assassinato, o semelhante com o semelhante, e tenha aplacado a ira de toda a parentela13.
Entre os estudiosos modernos, Dodds esclareceu melhor do que todos o significado destas passagens, do seguinte modo: “O castigo [184] de além-túmulo [...] não conseguia explicar por que os deuses aceitam a existência da dor humana e, em particular, a dor imerecida dos inocentes. A reencamação, ao invés, o explica: para esta não existem almas inocentes, todas pagam, em diversos graus, culpas de várias gerações, cometidas nas vidas anteriores. E toda esta soma de sofrimentos, neste mundo e no outro, é só uma parte da longa educação da alma, que encontrará o seu último termo na libertação do ciclo dos renascimentos e no retorno da alma à sua origem divina. Só deste modo, e sob a medida do tempo cósmico, pode ser realizada completamente, por cada alma, a justiça entendida no sentido arcaico, isto é, segundo a lei do ‘quem pecou pagará”’.
O fim último da alma segundo o orfismo
Se o corpo é prisão da alma, ou seja, lugar onde paga a pena de uma antiga culpa, e se a reencarnação é como a continuação desta pena, é claro que a alma deve libertar-se do corpo e, justamente, este é o seu fim último, o “prêmio” que lhe compete.
A literatura grega anterior ao século VI a.e.c. fala de castigos e prêmios no além, mas só em sentido muito restrito: trata-se, com efeito, de castigos por algumas culpas excepcionalmente graves e prêmios por méritos igualmente excepcionais; e, sobretudo, num e noutro caso, trata-se de destinos que tocam exclusivamente a alguns indivíduos, a pouquíssimos e, ademais, a indivíduos de épocas passadas. Em Homero, aos homens do presente, como já foi observado, não cabe nem prêmio nem castigo.
A revolução do orfismo é, pois, evidente, e é errado supervalorizar os antecedentes dos quais falamos: de fato, segundo a nova concepção, a todos os homens, sem exceção, compete um prêmio ou uma pena, segundo o modo como tenham vivido. Assim aquilo que era a exceção torna-se a regra, aquilo que era o caso privilegiado torna-se o destino comum a todos.
Desta nova crença, Píndaro, mais uma vez, nos oferece a primeira expressão completa. Na segunda Ode olímpica fala explicitamente [185] de um além, no qual os maus são implacavelmente julgados pelos seus erros e, conseqüentemente, condenados, enquanto os bons são premiados:
Para estes refulge o poder do sol, enquanto aqui embaixo é noite;
junto à cidade está a sua sede, nos prados das rosas vermelhas,
de sombrias plantas de incenso [...] e é carregada
[de árvores] de frutos de ouro; e uns se alegram
com os cavalos e os exercícios do corpo, outros com os jogos de xadrez, outros com o som da lira, e entre eles prospera em plenitude
a abundância: um perfume amável se difunde sobre aquela terra, enquanto levam sempre ao fogo, que de longe se distingue ofertas de todas as espécies sobre os altares dos deuses.
Píndaro, na verdade, vivifica o além com a sua acesa fantasia, valendo-se das cores do aquém (como é sabido, os estudiosos consideram que esta não foi a pessoal crença do poeta, mas, antes, a da pessoa à qual a sua poesia era dirigida) e, sobretudo, não nos diz qual é o destino supremo das almas dos bons. Isto, ao invés, é dito com toda clareza nas lâminas órficas.
Na lâmina encontrada em Hipônio, diz-se que a alma purificada no além fará um longo caminho pelas vias que percorrem também os outros iniciados e possuídos por Dionísio. Na lâmina encontrada em Petélia, diz-se que a alma reinará junto com outros heróis. Em uma das lâminas de Turi, diz-se que a alma purificada, assim como originariamente pertencia à estirpe dos deuses, será Deus e não mortal. Enfim, em outra lâmina de Turi, diz-se que de homem ela se tornará Deus.
Eis o texto desta bela lâmina:
Mas, apenas a alma abandona a luz do sol
à direita ... encerrando, ela que conhece tudo junto.
Alegra-te, tu que sofreste a paixão: antes não havias ainda sofrido isto De homem te tornaste Deus: cordeiro caíste no leite.
Alegra-te, alegra-te, tomando o caminho à direita
para os prados sagrados e os bosques de Perséfone14.
“De homem, nascerás Deus, porque do divino derivas”: eis a mais revolucionária novidade do novo esquema de crenças, cujo [186] acolhimento estava destinado a transformar o mais antigo significado da vida e da morte.
A teogonia órfica, o mito de Dionísio e os Titãs e a gênese da culpa original que a alma deve expiar
Não é tarefa nossa aprofundar-nos neste ponto na reconstrução da teogonia órfica, pois só indiretamente interessa ao tema principal que estamos tratando. Tal reconstrução resulta, ademais, muito complexa e incerta, pois apresenta diferentes variantes. Recordemos que a antigüidade tardia distinguia três diferentes teogonias órficas: a) a referida a Eudemo, discípulo de Aristóteles, b) a assim chamada de Jerônimo e de Helânico e c) a dos Discursos sagrados em vinte e quatro rapsódias (a assim chamada teogonia rapsódica), da qual já falamos. Dos poucos acenos de Platão e Aristóteles, unidos ao que nos restou de Eudemo, extraem-se apenas poucos traços, totalmente insuficientes; da teogonia de Jerônimo e de Helânico possuímos um breve resumo transmitido por Damásio. Da teogonia rapsódica possuímos numerosos fragmentos, sobre os quais, porém, gravam as pesadas hipotecas sobre as quais falamos no início.
A idéia de fundo das teogonias órficas é, em grande parte, a mesma da teogonia de Hesíodo. Nela se explica em nível mitológico e, portanto, fantástico-poético, o que era no princípio de tudo, como nasceram progressivamente os vários deuses e se instauraram os seus vários reinos, e a geração de todo o universo.
Com relação à teogonia hesiodiana, todavia, duas parecem ser as diferenças, uma e outra de considerável importância.
Em primeiro lugar, aquela parece ser, embora sob a capa mítica, mais conceituai, como já notava Rohde: “Atendo-se claramente àquela antiqüíssima teologia grega que se recolhera no poema hesiodiano, estas Teogonias órficas descreviam o devir e o desenvolvimento do [187] mundo, dos obscuros impulsos primitivos até a variedade bem determinada do cosmo ordenado à unidade; e o descreviam como a história de uma longa série de potências e figuras divinas que, desenvolvendo-se uma de outra e uma superando a outra, revezam-se na obra de formar e governar o mundo e absorvem em si o Todo, para restituí-lo, depois, animado por um único espírito e Uno na sua infinita pluralidade. Certamente estes não são mais deuses do antigo tipo grego. Não só as divindades recriadas pela fantasia órfíca e subtraídas, pela força do símbolo, à possibilidade de uma clara representação sensível, mas também as figuras tiradas do Olimpo grego são aqui pouco menos que personificações de conceitos. Quem reconheceria o Deus de Homero no Zeus órfico, o qual, absorvendo em si o deus que está em toda parte, e tendo ‘assumido a força de Eripeu, tornou-se por sua vez o Todo: ‘Zeus é o princípio, o meio é Zeus, em Zeus o Todo se cumpre’. Aqui o conceito alarga de tal modo a personalidade, que ameaça fazê-la explodir; ele tira os contornos às figuras individuais e, com sábia ‘mistura de deuses’, confunde-os entre si”.
Ora, o que dizia Rohde, ao nosso ver, adquire hoje importância ainda maior, pois o fragmento de teogonia ou, pelo menos, o carme em que Zeus é chamado de princípio, meio e fim, e no qual parece perder as suas aparências míticas para se tornar o Todo e o fundamento do Todo, resulta ser do século V a.e.c., como já recordamos.
Eis o fragmento:
Zeus nasceu primeiro, Zeus do fulgurante brilho é o último; Zeus é a cabeça, Zeus é o meio: por Zeus tudo se cumpre; Zeus é o fundo da terra e do céu brilhante;
Zeus nasceu varão, Zeus imortal foi menina;
Zeus é o sopro de todas as coisas, Zeus é o ímpeto do fogo imperecível. Zeus é a raiz do mar, Zeus é o sol e a lua;
Zeus é o rei, Zeus do fulgurante brilho é o dominador de todas as coisas: de fato, depois de ter escondido todos, novamente do coração sagrado trouxe-os à luz cheia de alegria, operando ruínas15.
Em segundo lugar, como sobretudo Guthrie observou, as teogonias órficas, diferentemente da hesiodiana, terminavam com o mito de [188] Dionísio e os Titãs (do qual logo falaremos) e com a explicação das origens dos homens, assim como do bem e do mal que neles existem. Por conseqüência, enquanto “uma [isto é, a teogonia hesiodiana] não poderia nunca se tornar uma doutrina de base para a vida espiritual, a outra [isto é, a teogonia órfica] podia constituir esta doutrina, e com efeito a constituía”.
Ora, a idéia de fundo da parte final da teogonia era a seguinte. Dionísio, filho de Zeus, foi triturado e devorado pelos Titãs, os quais, por punição, foram queimados e incinerados pelo próprio Zeus, e das suas cinzas nasceram os homens.
É evidente em que sentido e medida este mito pode constituir a base de uma ética. Ele explica a constante tendência ao bem e ao mal presente nos homens: a parte dionisíaca é a alma (e liga-se a ela a tendência ao bem), a parte titânica é o corpo (e liga-se a ela a tendência ao mal). Daqui deriva a nova tarefa moral de libertar o elemento dionisíaco (a alma) do elemento titânico (o corpo). A reencarnação e o ciclo dos renascimentos são, portanto, a punição desta culpa, e estão destinados a continuar até que o homem se liberte da própria culpa.
Alguns estudiosos puseram em dúvida a antigüidade deste mito, não considerando suficiente o testemunho de Pausânias, que o relaciona a Onomácrito (portanto, ao século VI a.e.c.), e notando que a expressa conexão do elemento dionisíaco com a alma só se encontra nos neoplatônicos. Mas, ao contrário, foi observado que a natureza seguramente arcaica do mito, assim como alguns acenos de Platão (que não se podem explicar a não ser supondo que aludam a este mito) garantem a sua autenticidade.
O mistério do homem e o seu sentimento de ser um misto de divino e beluíno, com os opostos impulsos e as contrastantes tendências, eram assim explicados de modo verdadeiramente radical. Platão tirará inspiração desta intuição e, transpondo-a e fundando-a no plano metafísico, construirá a visão do homem “em duas dimensões”, da qual falaremos amplamente, que condicionou largamente o pensamento ocidental. [189]
As iniciações e as purificações órficas
Para concluir, devemos ainda acenar às práticas que os órficos uniam a estas crenças, e às quais atribuíam essencial importância.
Nessas práticas podemos distinguir dois momentos: o que implicava a participação em ritos e cerimônias e o que comportava a adesão a um certo tipo de vida, cuja regra fundamental era abster-se de comer carne.
Nas cerimônias de iniciação, provavelmente, representava-se e imitava-se o assassinato e o dilaceramento de Dionísio pelos Titãs, realizavam-se ritos e pronunciavam-se fórmulas de caráter mágico.
A purificação da culpa, em suma, era em larga medida confiada ao elemento não racional ou, como dissemos, mágico.
Já Pitágoras e os pitagóricos, embora conservando ainda muitos elementos deste gênero, começaram a atribuir à música e, posteriormente, à ciência o meio de purificação, como vimos acima. Mas a grande revolução foi operada, mais uma vez, por Platão, o qual, numa passagem exemplar do Fédon, teorizou, de maneira esplêndida, que a verdadeira força purificadora está na filosofia, e apresentou esta sua asserção como a verdade da antiga intuição órfica.
Eis a célebre passagem:
E certamente não foram tolos aqueles que instituíram os Mistérios: e na verdade já dos tempos antigos nos revelaram de maneira velada que aquele que chega ao Hades sem ter-se iniciado e sem ter-se purificado jazerá em meio à lama; ao invés, aquele que se iniciou e se purificou, chegando lá, habitará com os deuses. De fato, os intérpretes dos mistérios dizem que ‘os portadores de tirso são muitos, mas são poucos os Bacantes’. E estes, penso eu, não são senão aqueles que praticam retamente a filosofia16. [190]

Já foi há muito tempo observado que o antecedente da cosmologia filosófica é constituído pelas teogonias e cosmogonias mítico-poéticas, das quais é muito rica a literatura grega, e cujo protótipo paradigmático é a Teogonia de Hesíodo, a qual, explorando o patrimônio da precedente tradição mitológica, traça uma imponente síntese de todo o material, reelaborando-o e sistematizando-o organicamente. A Teogonia de Hesíodo narra o nascimento de todos os deuses; e, dado que alguns deuses coincidem com partes do universo e com fenômenos do cosmo, além de teogonia ela se torna também cosmogonia, ou seja, explicação fantástica da gênese do universo e dos fenômenos cósmicos.
Hesíodo imagina, no proêmio, ter tido, aos pés do Hélicon, na Beócia, uma visão das Musas, e ter recebido delas a revelação da verdade da qual ele se faz, mediatamente, arauto. Em primeiro lugar, diz ele, gerou-se o Caos, em seguida gerou-se Gea (a Terra), em cujo seio amplo estão todas as coisas, e nas profundidades da Terra gerou- se o Tártaro escuro, e, por fim, Eros (o Amor) que, depois, deu origem a todas as outras coisas. Do Caos nasceram Erebo e Noite, dos quais se geraram o Éter (o Céu superior) e Emera (o Dia). E da Terra sozinha se geraram Urano (o Céu estrelado), assim como o mar e os montes; depois, juntando-se com o Céu, a Terra gerou Oceano e os rios.
Procedendo no mesmo estilo, Hesíodo narra a origem dos vários deuses e numes divinos. Zeus pertence à última geração: de fato, foi gerado de Crono e de Rea (que, por sua vez, tinham sido gerados da Terra e de Urano); e, como Zeus, fazem parte da última geração todos os outros deuses do Olimpo homérico, vale dizer, os deuses que o grego então venerava.
Ora, como dissemos, é indubitável que a Teogonia de Hesíodo e, em geral, as representações teogônico-cosmológicas são o antecedente da cosmologia filosófica; todavia, é igualmente indiscutível que entre essas tentativas e a cosmologia filosófica (mesmo a mais primitiva, isto é, a de Tales) há uma nítida diferença. Para compreender a diferença entre uma e outra, voltemos às três características que acima indicamos como distintivas da filosofia, ou seja, a) a representação da totalidade do real, b) o método de explicação racional, c) o puro [41] interesse teórico. Ora, não há dúvida de que as teogonias possuem a primeira e a terceira dessas características, mas carecem da segunda, que é qualificante e determinante. Elas procedem com o mito, com a representação fantástica, com a imaginação poética, com intuitivas analogias sugeridas pela experiência sensível; portanto, permanecem aquém do lógos, ou seja, aquém da explicação racional.
E quando Aristóteles disse que o amante do mito é de algum modo filósofo1, disse-o referindo-se exatamente ao fato de que, como a filosofia, o mito nasce para satisfazer a admiração ou o puro desejo de saber, não por fins pragmáticos2: mas o mito permanece mito, parente da filosofia, não filosofia.
É dado que sobre este ponto, recentemente, se discutiu, e alguns acreditaram poder negar a existência dessa diferença, é bom que nos detenhamos em reafirmar alguns conceitos que consideramos essenciais. Jaeger escreveu: “Na Teogonia hesiodiana reina de alto a baixo o mais obstinado intelecto construtivo, com toda a coerência de um ordenamento e de uma pesquisa racional. Na sua cosmologia, por outra parte, há ainda uma força inata de intuição mítica, a qual permanece eficaz, além do limite no qual costumamos apontar o começo do reino da filosofia ‘científica’, nas doutrinas dos ‘físicos’ e sem a qual nos resultaria incompreensível a maravilhosa fecundidade filosófica daquele antiquíssimo período científico. As forças naturais de atração e de repulsão da doutrina de Empédocles, o Amor e o Ódio, têm a mesma origem espiritual do Eros cosmogônico de Hesíodo. O início da filosofia científica não coincide, pois, nem com o do pensamento racional nem com o fim do pensamento mítico. Encontramos ainda a mais genuína mitogonia no núcleo da filosofia de Platão e de Aristóteles, como no mito platônico da alma ou na intuição aristotélica do amor das coisas para com o motor imóvel do mundo”3. Mas Jaeger é vítima de uma ilusão de ótica: ninguém nega que antes do advento da filosofia existisse a razão e ninguém afirma que na Teogonia hesiodiana (assim como na épica homérica) não existam mais que mito e fantasia e nada de razão; assim como ninguém nega, ao contrário, que na filosofia permaneçam por muito tempo elementos míticos e fantásticos. Mas o ponto essencial está no papel determinante que desempenham uns e outros fatores; e veremos logo que, enquanto em Hesíodo ou nos autores de teogonias, o papel determinante é dado ao elemento fantástico-poético-mitológico, em Tales será, ao invés, dado ao lógos e à razão: e é precisamente por isso que a tradição chamou Tales de primeiro filósofo, dando-se perfeitamente conta de que no seu discurso algo mudara radicalmente com relação ao discurso dos poetas, e que esse algo assinalava a passagem do mito ao lógos.
De resto, note-se que na Teogonia hesiodiana falta exatamente o ponto que qualifica a cosmologia filosófica, vale dizer, a tentativa de individuar o primeiro princípio imprincipiado, a fonte absoluta de tudo. E o próprio Jaeger, contradizendo a tese da qual falamos acima, revela-o escrevendo: “O pensamento genealógico de Hesíodo considera advindo também o caos. Ele não diz: no princípio era o caos, mas: primeiro adveio o caos, depois a terra etc. Neste ponto se apresenta a questão de se não deve haver também um início do devir que, por sua vez, não seja advindo. A tal questão Hesíodo não responde, nem sequer a põe. Isso pressupõe uma lógica de pensamento ainda muito longe dele”4.
Mas, note-se, não põe a questão e não pode pô-la, justamente porque a fantasia, que se alimenta do sensível e das analogias extraídas do sensível, quando chega ao caos se apaga, e, não sabendo mais imaginar formas ulteriores, se detém; e a fantasia pode se representar como gerando o próprio caos, vale dizer, a realidade primeira, justamente porque vê que tudo é gerado (deuses e coisas); para representar-se isso em sentido contrário, ela deveria ir contra si mesma e, portanto, negar-se. E é exatamente isso que fará a filosofia desde o seu nascimento: irá contra a fantasia, a imaginação e os sentidos e inferirá suas figuras especulativas com a força do lógos, contestando o mito e as aparências sensíveis, criando algo completamente novo.
E quando se diz que a Teogonia é de grande importância para o advento da futura filosofia, diz-se algo justo: mas o advento da filosofia pressupõe a aquisição do novo plano do lógos, isto é, uma revolução, como em seguida veremos.

O túmulo do faraó Tutmósis III, no Vale dos Reis, é de difícil acesso,- primeiro temos de subir uma escada de metal instalada pelo Serviço das Antiguidades e depois entrar num estreito túnel que penetra rocha adentro. Os claustrófobos vêem-se obrigados a desistir; mas o esforço é recompensado porque, no fim da descida, descobrimos duas salas: uma de teto baixo, com paredes decoradas com figuras de divindades, e outra mais vasta, a Câmara da Ressurreição. Em suas paredes, os textos e as cenas do Amâuat, "O Livro da Câmara Oculta", revelam as etapas da ressurreição do Sol nos espaços noturnos e a transmutação da alma real no Além.
Num dos pilares, uma cena surpreendente: uma deusa, saída de uma árvore, amamenta Tutmósis III. Amamentado desse modo para a eternidade, o faraó é regenerado para sempre. O texto hieroglífico indica-nos a identidade dessa deusa de inexaurível generosidade: ísis. Mas ísis é também o nome da mãe terrena desse rei, uma mãe cujo rosto foi preservado numa estátua descoberta no famoso esconderijo do templo de Karnak:1 de faces cheias, tranqüila e elegante, a mãe real ísis exibe longas tranças e um vestido de alças. Está sentada, com a mão direita sobre a coxa, e tem na mão esquerda um cetro floral. Apenas sabemos que o filho a venerava, e que ela tinha o nome da mais célebre das deusas do Antigo Egito.
A paixão e a demanda de ísis
ísis, a Grande, reinara nas Duas Terras, o Alto e o Baixo Egito, muito antes do nascimento das dinastias. Em companhia do seu esposo Osíris, governava com sabedoria e conhecia uma felicidade perfeita. Até que Seth, irmão de Osíris, o convidou para um banquete. Tratava-se de uma cilada, pois Seth estava decidido a assassinar o rei para ocupar o seu lugar. Utilizando uma técnica original, o assassino pediu ao irmão que se deitasse num caixão para ver se era do seu tamanho. Imprudente, Osíris aceitou. Seth e seus acólitos pregaram a tampa e lançaram o sarcófago ao Nilo.
Os pormenores dessa tragédia são conhecidos graças a um texto de Plutarco, iniciado nos mistérios de ísis e Osíris,- as fontes mais antigas mencionam apenas a morte trágica de Osíris, cujas desgraças prosseguiram, pois o seu cadáver foi retalhado. Seth convenceu-se de que aniquilara o irmão para sempre.
Ísis, a viúva, recusou a morte.
Mas o que podia ela fazer, além de chorar o marido martirizado? Um projeto insano nasceu em seu coração: encontrar todos os pedaços do cadáver, reconstituí-lo e, graças à magia sagrada cujas fórmulas conhecia, restituir-lhe a vida.
Assim começou a busca de ísis, paciente e obstinada. E quase conseguiu! Todas as partes do corpo foram reunidas, menos uma: o sexo de Osíris, engolido por um peixe. Desta vez ísis tinha de desistir.
Mas não desistiu: convocou a irmã Néftis, cujo nome significa "a senhora do templo", e organizou uma vigília fúnebre.2 Eu sou a tua irmã bem- amada, disse ela ao reconstituído cadáver de Osíris, não te afastes de mim, clamo por ti! Não ouves a minha voz? Venho ao encontro, e nada me separará de ti! Durante horas, Isis e Néftis, de corpo purificado, inteiramente depiladas, com perucas encaracoladas, a boca purificada com natrão (carbonato de sódio), pronunciaram encantamentos numa câmara funerária obscura e perfumada com incenso, ísis invocou todos os templos e todas as cidades do país para que se juntassem à sua dor e fizessem a alma de Osíris regressar do Além. A viuva tomou o cadáver nos braços, seu coração bateu de amor por ele, e murmurou-lhe ao ouvido: Tu, que amas a vida, não caminhes nas trevas.
O cadáver, desgraçadamente, permaneceu inerte.
Isis transformou-se então num falcão fêmea, bateu as asas para restituir o sopro da vida ao defunto e pousou no lugar do sexo desaparecido de Osíris, que ela fez reaparecer por magia. Desempenhei o papel de homem, afirma ela, embora seja mulher. As portas da morte abriram-se diante de Isis, que conheceu o segredo fundamental, a ressurreição, agindo como nenhuma deusa o fizera antes: ela, a quem chamavam "a Venerável, nascida da Luz, saída da pupila de Aton (o princípio criador)", conseguiu fazer regressar aquele que parecia ter partido para sempre e ser fecundada por ele.
Assim foi concebido o seu filho Hórus, nascido da impossível união da vida e da morte. Um acontecimento importante, porque este Hórus, filho do mistério supremo, foi chamado a ocupar o trono do pai, doravante monarca do Além e do mundo subterrâneo.
Seth não se deu por vencido. Só havia uma solução: matar Hórus. Ciente do perigo, ísis guardou o filho entre os papiros do Delta. Não faltaram perigos -— a enfermidade, as serpentes, os escorpiões, o assassino que ronda... Mas Isis, a Maga, conseguiu preservar seu filho Hórus de todas as desgraças.
Seth não admitiu o fracasso e contestou a legitimidade de Hórus, que era no entanto sobrenatural, convocando então o tribunal das divindades para conseguir a condenação do herdeiro de Osíris. Como o tribunal se reuniu numa ilha, Seth usou o seu engenho para que uma decisão iníqua fosse adotada: o barqueiro devia impedir as mulheres de entrarem em sua barcaça, e assim Isis não poderia defender a sua causa.
Mas iria a viúva desistir, ao cabo de tantas provações? Por conseguinte, ela convenceu o barqueiro, oferecendo-lhe um anel de ouro,- apresentou-se diante do tribunal, venceu a má fé e os argumentos infundados, e fez aclamar Hórus como faraó legítimo.
Esposa perfeita, mãe exemplar, Isis tomou-se também a responsável pela transmissão do poder régio — aliás, o seu nome significa "o trono". Percebe-se que, segundo o pensamento simbólico egípcio, é o trono ou, por outras palavras, a Grande Mãe, a rainha ísis, que gera o faraó.
Isis, maga e sábia
Isis é a mulher-serpente3 que se transforma em uraeus, a naja fêmea que se ergue na fronte do rei para destruir os inimigos da Luz,- uma desastrosa evolução e o desconhecimento do símbolo primitivo tomaram a boa deusa-serpente no réptil tentador do Gênesis que causa a perdição do primeiro casal. ísis e Osíris, pelo contrário, afirmam a vivência de um conhecimento luminoso graças ao amor e ao que está para além da morte.
Sob a forma da estrela Sótis, ísis anuncia e desencadeia as cheias do Nilo; debruçada em choro sobre o corpo de Osíris, faz subir as águas benfazejas que depositam o limo nas margens e asseguram a prosperidade do país — aliás, a cabeleira de ísis não forma os tufos de papiros emergindo do rio?
Essa magia cósmica de ísis nasce da sua capacidade para conhecer os mistérios do universo e, entre eles, o nome secreto de Rá, encarnação da Luz divina. É certo que o coração de Isis era mais hábil do que o dos bem-aventurados e que era conhecida dos céus e da Terra, ignorando apenas o famoso nome secreto de Rá, que este não confiara a ninguém, nem mesmo às outras divindades. Isis lançou-se ao assalto do bastião: recolheu um escarro de Rá, amassou-o com terra e formou uma serpente. Escondeu o réptil sagrado num arbusto que ficava no caminho do deus e, quando este passou, o réptil o mordeu. O coração de Rá ardeu e, depois de tremer, os seus membros arrefeceram. Embora fora do alcance da morte, o veneno causou-lhe grande sofrimento, e ninguém conseguiu curá-lo.
ísis decidiu intervir e restituir-lhe a saúde, contanto que Rá lhe confiasse o seu nome secreto. O divino Sol tentou enganá-la, confiando-lhe vários nomes, mas nunca mencionando o nome correto. Intuitiva, ísis não se deixou enganar, e Rá, exausto, foi obrigado a revelar-lhe o seu verdadeiro nome. ísis curou-o... e guardou o segredo para sempre.
Os lugares de ísis
Cada parte do corpo de Osíris deu origem a uma província, e assim todo o Egito foi assimilado ao seu ressuscitado esposo, animando a totalidade do país. ísis sentia-se, pois, em toda parte como na sua própria casa.
Por isso, quando percorremos o Egito, descobrimos três lugares particularmente ligados a ísis, de norte para sul: Behbeit el-Hagar, Dendera e Filae.
Behbeit el-Hagar, no Delta, é um local desconhecido dos turistas. Uma vez saídos de um labirinto de ruelas, sofremos uma viva decepção quando chegamos lá. O que resta do grande templo de ísis, além de um monte de enormes blocos de granito ornados de cenas rituais? ísis foi venerada ali, mas o seu templo foi destruído e utilizado como pedreira, sem nenhum respeito pelo seu caráter sagrado. É impossível deixar de pensar na época em que ali se erguia um santuário colossal dedicado à senhora dos céus.
O nascimento de ísis é situado simbolicamente em Dendera, no Alto Egito. O santuário da deusa Hathor está parcialmente conservado, mas o templo coberto e o mammisi (templo do nascimento de Hórus) existem ainda, bem como um pequeno santuário, onde, segundo os textos, a bela ísis veio ao mundo com uma pele rosada e uma cabeleira negra. Foi a deusa dos céus que lhe deu vida, enquanto Amon, o princípio oculto, e Chu, o ar luminoso, lhe concediam o sopro vital.
Na fronteira meridional do Antigo Egito reina Filae, a ilha-templo de ísis,- ali viveu a derradeira comunidade iniciática egípcia, aniquilada por cristãos fanáticos. Ameaçados de destruição pela inundação do "alto dique" — a grande barragem de Assuã—, os templos de Filae foram desmontados pedra por pedra e reconstruídos numa pequena ilha vizinha. A "pérola do Egito" foi salva das águas. A visão daquele lugar constitui uma experiência inesquecível. De acordo com a vontade dos egípcios, os ritos continuam a ser celebrados graças aos hieróglifos gravados na pedra,- a presença de Isis é inteiramente palpável, e ouvem-se as palavras pronunciadas nas cerimônias pelas sacerdotisas da grande deusa: Isis, criadora do universo, soberana do céu e das estrelas, senhora da vida, regente das divindades, maga de excelentes conselhos, Sol feminino que tudo marca com o seu selo; os homens vivem às tuas ordens, sem o teu acordo nada se faz4.
A eternidade de Isis
Vitoriosa sobre a morte, isis sobreviveu à extinção da civilização egípcia, desempenhando um importante papel no mundo helenístico até o século V seu culto espalhou-se por todos os países da bacia mediterrânica e mais além.
Tornou-se a protetora de numerosas confrarias iniciáticas, mais ou menos hostis ao cristianismo, que a consideravam o símbolo da onisciência, detentora do segredo da vida e da morte, e capaz de assegurar a salvação dos seus fiéis5.
Mas Isis não exigia apenas uma simples devoção, - para a conhecerem, seus adeptos deviam sujeitar-se a uma ascese, não se contentando com a crença, mas subindo na escala do conhecimento e transpondo os diversos graus dos mistérios.
Sendo o passado, o presente e o futuro, a mãe celestial de infinito amor, Isis foi durante muito tempo uma temível concorrente do cristianismo. Mas nem mesmo o dogma triunfante conseguiu aniquilar a antiga deusa; no hermetismo, tão presente na Idade Média, ela continuou sendo "a pupila do olho do mundo", o olhar sem o qual a verdadeira realidade da vida não poderia ser apercebida. Aliás, não se dissimulou ísis sob as vestes da Virgem Maria, tomando o nome de "Nossa Senhora" à qual tantas catedrais e igrejas foram dedicadas?
Isis, modelo da mulher egípcia
Uma civilização molda-se de acordo com um mito ou conjunto de mitos. Todavia, no mundo judaico-cristão, Eva é pelo menos suspeita, e daí o inegável e dramático déficit espiritual das mulheres modernas que se regem por esse tipo de crença. Isso não acontecia no universo egípcio, pois a mulher não era fonte de nenhum mal ou deturpação do conhecimento. Muito pelo contrário,- era ela que, através da grandiosa figura de Isis, enfrentava as piores provações, tendo descoberto o segredo da ressurreição.
Modelo das rainhas, Isis foi também o modelo das esposas, das mães e das mulheres mais humildes. Aliava à fidelidade uma indestrutível coragem perante a adversidade, uma intuição fora do comum e uma capacidade fantástica para penetrar nos mistérios. Por conseguinte, a sua busca servia de exemplo a todas quantas procuravam viver a eternidade.

Regressemos a esse outro método de investigação, de decifração da vida humana e do mundo — a tragédia grega. Tanto quanto a ciência e a filosofia, a tragédia apresenta-se como um modo de explicação e de conhecimento do mundo. E de facto o é, nessa idade ainda religiosa do pensamento grego que é a segunda metade do século V. Nessa época são ainda raros os pensadores e os poetas que para resolver os problemas da vida humana os não apresentem à luz cintilante do céu, não os entreguem à vontade imperiosa dos seus habitantes. Sófocles, entre todos, é crente — crente contra ventos e marés, crente contra as evidências da moral e a ambiguidade do destino. Um mito parece ter acompanhado a longa e vigorosa velhice do poeta: o mito de Édipo, terrível mais que nenhum outro, que fere o senso humano da justiça como parece ferir a fé. Sófocles, a quinze anos de distância, trava duas vezes luta com este mito. Em 420 escreve Rei Édipo: tem setenta e cinco anos. Em 405, aos noventa anos, retoma, sob uma forma nova, quase o mesmo assunto, como se hesitasse ainda sobre o desenlace que lhe dera: escreve Édipo em Colono. Quer ir até ao fim do seu pensamento, quer saber, no fim de contas, se sim ou não os deuses podem castigar um inocente... Saber o que será do homem num mundo que tais deuses governam.
Conhece-se o tema do mito. Um homem assassina seu pai, sem saber que ele é seu pai; casa com a mãe por acidente. Os deuses punem-no destes crimes, para que o tinham destinado antes mesmo que ele tivesse nascido. Édipo acusa-se destas faltas, de que nós o não consideramos responsável, proclama a sabedoria da divindade... Estranha religião, moral chocante, situações [375] inverosímeis, psicologia arbitrária. Pois bem: Sófocles quer explicar ao seu povo esta história extravagante, este mito escandaloso. Quer, sem os despojar do seu carácter inelutável, inserir neles uma resposta do homem, que. de alto a baixo, lhes modifique o sentido.
I
"Vê, espectador, com a corda dada até ao fim, de tal modo que a mola se desenrola com lentidão ao longo de toda uma vida humana, uma das mais perfeitas máquinas construídas pelos deuses infernais para o aniquilamento matemático de um mortal."
Com estas palavras se ergue, em Cocteau, o pano deste Édipo moderno que o autor tão rigorosamente intitulou A Máquina Infernal. O título valeria também para a obra antiga. Pelo menos exprimiria ao mesmo tempo o seu sentido mais aparente e a sua progressão.
Sófocles, com efeito, constrói a acção do seu drama como se monta uma máquina. O êxito da montagem do autor rivaliza com a habilidade de Aquele que dispôs a armadilha. A perfeição técnica do drama sugere, na sua marcha rigorosa, a progressão mecânica desta catástrofe tão bem composta por Não-Se-Sabe-Quem. Máquina infernal, ou divina, feita para dissociar até à explosão a estrutura interna de uma felicidade humana — é um prazer ver todas as peças da acção, todas as molas da psicologia ordenarem-se umas às outras de maneira a produzirem o resultado necessário. Todas as personagens, e Édipo em primeiro lugar, contribuem, sem o saber, para a marcha inflexível do acontecimento. Elas próprias são peças da máquina, correias e rodas da acção que não poderia avançar sem a sua ajuda. Ignoram tudo da função que Alguém lhes destinou, ignoram o fim para, que avança o mecanismo em que estão empenhados. Sentem-se seres humanos autónomos, sem relação com esse engenho cuja aproximação distinguem vagamente ao longe. São homens ocupados nos seus assuntos pessoais, na sua felicidade corajosamente ganha por uma honesta prática do ofício de homem — pelo exercício da virtude... E de repente descobrem a poucos metros essa espécie de enorme tanque que puseram em movimento sem saber, que é a sua própria vida que marcha sobre eles para os esmagar. [276]
A primeira cena do drama apresenta-nos a imagem de um homem no ornáculo da grandeza humana. O rei Édipo está nos degraus do seu palácio. De joeIhos, o seu povo dirige-lhe uma súplica pela voz de um sacerdote. Uma desgraça caiu sobre Tebas, uma epidemia destrói os germes da vida. Noutro tempo Édipo libertara a cidade da esfinge. Cabe-lhe salvar outra vez a terra, que é, aos olhos dos seus súbditos, "o primeiro, o melhor dos homens". Arrasta atrás de si o cortejo magnífico das suas acções passadas, das suas proezas, dos seus benefícios. Sófocles não fez deste grande rei um princípe orgulhoso, uma senhor duro. embriagado pela fortuna. Apenas lhe atribui sentimentos de bondade, gestos de atenção para o seu povo. Antes mesmo que viessem implorar, ele reflectira e agira. Édipo enviara a Delfos Creonte, seu cunhado, a consultar o oráculo, marcando assim o seu habitual espírito de decisão. Agora, ao apelo dos seus, comove-se e declara que sofre mais do que nenhum dos tebanos, pois é por Tebas inteira que sofre. Sabemos que diz a verdade. Sente-se responsável pela pátria que dirige e que ama. A sua figura encarna, desde o começo do drama, as mais altas virtude do homem e do chefe. Para o ferirem, os deuses não podem alegar orgulho ou insolência. Tudo e autêntico neste homem; nesta alta fortuna, tudo é merecido. Primeira imagem que se grava em nós. No mesmo lugar, no alto da escadaria, aparecerá, na última cena, o proscrito de olhos sangrentos — imagem de um cúmulo de miséria que sucede a um cúmulo de grandeza.
Esperamos esta reviravolta: conhecemos o desenlace deste destino. Desde o princípio da peça que certos toques de ironia — essa "ironia trágica" que dá o seu tom ao poema — se pousam sobre as palavras das personagens, sem que elas o saibam, e nos advertem. Estas, com efeito, ignorantes do drama antigo em que tiveram a sua parte, drama já cumprido e que não tem de trazer à luz do dia o seu horror, pronunciam tal ou tal palavra que para elas tem um sentido banal e tranquilizador, um sentido em que as vemos apoiar-se confiantemente. Ora, esta mesma palavra, para o espectador que sabe tudo, passado e futuro, tem um sentido inteiramente diferente, um sentido ameaçador. O poeta toca o duplo registo da ignorância da personagem e do conhecimento do espectador. Os dois sentidos ouvidos ao mesmo tempo são como duas notas confundidas numa horrível dissonância. Não se trata, aliás, de um simples processo de estilo. Sentimos essas palavras irônicas como se elas se formassem nos lábios ias personagens, sem que estas o saibam, pela acção da potência misteriosa escondida atrás do acontecimento. Um deus troça da falsa segurança dos homens... [277]
A construção da sequência do drama é uma sucessão de quatro "episódios em que, de cada vez, o destino desfere em Édipo um novo golpe. O último derruba-o.
Esta composição é tão clara que o espectador logo de entrada vê a direcção e o fim dela. Vê esses quatro passos que o destino dá ao encontro do herói trágico. Não pode imaginar de que maneira o deus vai ferir o homem, uma vez que o poeta inventará de cada vez uma situação que a lenda não conhecia. Mas compreende de golpe a ligação dos episódios entre si, a coerência das quatro cenas sucessivas pelas quais a acção progride à maneira de um movimento de relojoaria. Para Édipo, pelo contrário, tudo o que, aos olhos do espectador, é sequência lógica, execução metódica de um plano concertado pelo deus, apresenta-se como uma série de incidentes, de acasos cujo encadeamento ele não pode distinguir e que, a seus olhos, apenas interrompem ou desviam a marcha rectilínea que ele deve seguir na sua busca do assassino de Laio. Édipo é ao mesmo tempo conduzido por uma mão de ferro, e em linha recta com efeito, para um fim que não distingue, para um culpado que é ele próprio, e contudo perdido em todos os sentidos em pistas divergentes. Cada incidente lança-o numa direcção nova. Cada golpe o aturde, por vezes de alegria. Nada o adverte. Há pois, na marcha da acção, dois movimentos distintos que nós seguimos simultaneamente: por um lado o avanço implacável de um raio luminoso no coração das trevas, por outro lado a marcha às apalpadelas, a marcha rodopiante de um ser que esbarra na escuridão com obstáculos invisíveis, progressivamente atraído, sem que o sonhe, para o foco luminoso. De súbito as duas linhas cortam-se: o insecto encontrou a chama. Num instante tudo acabou. (Ou parece ter acabado... Será ainda desse foco desconhecido que vem agora a luz, ou do homem fulminado?...)
O primeiro instrumento de que o destino se serve para ferir é o adivinho Tirésias. Édipo mandou vir o velho cego para ajudar a esclarecer o assassínio de Laio. Apolo determina, para salvação de Tebas, a expulsão do assassino. Tirésias sabe tudo: o cego é o vidente. Ele sabe quem é o autor do assassínio de Laio, sabe mesmo que é Édipo e que este é filho de Laio. Mas como o dira ele? Quem acreditará? Tirésias recua diante da tempestade que a verdade levantaria. Recusa-se a responder, e esta recusa é natural. É igualmente natural que esta recusa irrite Édipo. Tem diante de si um homem que só tem uma [278] palavra a dizer para salvar Tebas, e esse homem cala-se. Que pode haver de mais escandaloso para o bom cidadão que é Édipo? Que pode haver de mais suspeito? Uma só explicação se apresenta: Tirésias foi cúmplice do culpado a quem procura cobrir com o seu silêncio. Ora, a quem aproveitaria este silêncio? A Creonte, herdeiro de Laio. Conclusão: Creonte é o assassino procurado. Édipo julga subitamente o seu inquérito próximo do fim, e encoleriza-se contra Tirésias cujo silêncio lhe barra o caminho, e que lhe recusa, porque sem duvida esteve metido na conspiração, os indícios de que precisa.
Esta acusação levantada pelo rei contra o sacerdote engendra, por sua vez, com igual necessidade, uma situação nova. O jogo psicológico, conduzido com rigor, faz avançar a máquina infernal. Tirésias, ultrajado, não pode fazer outra coisa senão proclamar a verdade: "O assassino que procuras, és tu mesmo..." Eis o primeiro golpe desferido, eis Édipo posto em presença dessa verdade que e!e persegue e que não pode compreender. Na sequência da cena, que sobe com o fluxo da cólera, o adivinho vai mais longe: entremostra um abismo de verdade ainda mais terrível: "O assassino de Laio é tebano. Matou seu próprio pai. mancha o leito de sua mãe." Mas Édipo não pode apreender esta verdade que Tirésias lhe oferece. Ele bem sabe que não matou Laio, que é filho de um rei de Corinto, que nunca teve nada com a terra tebana antes do dia em que, adolescente, a salvou da esfinge. Entra em casa aturdido, mas não abalado. Vai lançar-se com o seu costumado ardor na nova pista que o destino lhe aponta — a conspiração imaginária de Creonte.
Jocasta é o instrumento escolhido pela divindade para dar em Édipo o segundo golpe. A rainha intervém na disputa que rebenta entre o marido e o irmão. Quer acalmar o rei, tranquilizá-lo sobre as declarações de Tirésias. Pensa consegui-lo ao dar-lhe uma prova evidente da inanidade dos oráculos. Em tempos, um adivinho predissera a Laio que ele pereceria pela mão de um filho. Ora este rei foi assassinado por bandidos, numa encruzilhada, durante ama viagem que ele fazia pelo estrangeiro — e o único filho que ele jamais tivera fora exposto na montanha para aí morrer, três dias após o nascimento. Eis o crédito que se pode dar aos adivinhos.
Estas palavras de Jocasta, destinadas a sossegar Édipo, são aquelas que, precisamente, pela primeira vez, vão morder a certeza que ele tem da sua inocência. Na máquina infernal havia uma pequena mola que podia transformar a firmeza em dúvida, a segurança em angústia. Sem o saber, Jocasta tocou nessa mola. Deu sobre a morte de Laio um desses pormenores insignificantes [279] que se metem numa narrativa sem pensar: disse, de pasagem, que Laio fora assassinado "numa encruzilhada". Este pormenor mergulhou no subconsciente de Édipo, removeu toda uma massa esquecida de lembranças. O rei revê subitamente essa encruzilhada de uma antiga viagem, essa disputa que tivera com o condutor de uma atrelagem, esse velho que lhe batera com um chicote, a sua brusca cólera de homem vigoroso e o golpe que desferira... Terá Tirésias dito a verdade? Não que Édipo tenha ainda a menor suspeita da rede de acontecimentos que o levaram àquela encruzilhada. Na narração de Jocasta, uma vez ouvidas as palavras a respeito da "encruzilhada de três caminhos Édipo, todo entregue às suas recordações, deixou passar a frase, aquela que falava da criança exposta, que poderia obrigar o seu pensamento a meter por um caminho muito mais temeroso. É-lhe pois impossível supor que tenha podido matar seu pai, mas é obrigado a admitir que pode ter matado Laio. Édipo persegue Jocasta com perguntas. Espera encontrar no assassínio que ela lhe conta uma circunstância que não concorde com o assassínio que ele se lembra agora de ter cometido. "Onde era essa encruzilhada?" O lugar concorda "Em que época foi esse crime?" O tempo concorda. "Como era esse rei? Que idade tinha?" Jocasta responde: "Era alto. A cabeça começava a embranquecer. Depois, como se o notasse pela primeira vez: "Parecia-se um pouco contigo. Compreende-se aqui o poder da ironia trágica e qual o sentido, ignorado de Jocasta, que o espectador dá a esta semelhança... Um pormenor, contudo, não acerta. O único servo escapado ao extermínio da encruzilhada declarara (adivinhamos que ele mentiu para se desculpar) que o seu senhor e os seus companheiros tinham sido mortos por um grupo de bandidos. Édipo sabe que estivera sozinho. Manda chamar o servo. Agarra-se a este pormenor falso, ao passo que o espectador espera precisamente deste encontro a catástrofe.
Terceira ofensiva do destino: o mensageiro de Corinto. No decurso da cena anterior, Édipo falara a Jocasta de um oráculo que lhe fora dado na juventude: ele devia matar o pai e casar com a mãe. Por causa disso deixara Corinto e tomara o caminho de Tebas. Eis que um mensageiro lhe vem anunciar a morte do rei Políbio, esse pai que ele devia assassinar. Jocasta triunfa: "Mais um oráculo mentiroso!" Édipo partilha da sua alegria. Recusa-se contudo a regressar a Corinto, com medo de se expor à segunda ameaça do deus. O mensageiro procura tranquilizá-lo. Como Jocasta ainda há pouco, vai. com as melhores intenções, pôr a funcionar uma peça da máquina e precipitar a catástrofe. "Porque hás-de recear o leito de Mérope?", diz. "Ela não é tua [280] mãe." Mais adiante: "Políbio era tanto teu pai como eu." Nova pista divergente oferecida à curiosidade de Édipo. Precipita-se por ela. Agora está a cem léguas do assassínio de Laio. Só pensa — com uma alegre excitação — em desvendar o segredo do seu nascimento. Aperta o mensageiro com perguntas. O homem diz-lhe que ele próprio o entregara, criancinha ainda, ao rei de Corinto. Recebera-o de um pastor do Citerão, servo de Laio.
De golpe, Jocasta compreendeu. Num relâmpago, junta os dois oráculos falsos numa só profecia verídica. Ela é a mãe da criança exposta: nunca esquecera a sorte do pequeno infeliz. Eis porque, ao ouvir esta outra história de criança exposta — a mesma história —, é a primeira a compreender. Édipo, pelo contrário, deu pouca atenção à sorte do filho de Laio, se é que ouviu o pouco que Jocasta lhe havia dito. Por outro lado, só o enigma do seu nascimento o preocupa naquele momento e o desvia de todo o resto. Em vão Jocasta lhe suplica que não force este segredo. Leva o pedido à conta da vaidade feminina: a rainha teme certamente ter de vir a corar do nascimento obscuro do marido.
Obscuridade de que ele se glorifica.
"Filho afortunado do destino, o meu nascimento não me desonra. A boa estrela é minha mãe e o decurso dos anos me fez grande, de ínfimo que era." E isto é verdade: ele foi grande. Mas esta grandeza que é sua obra de homem, o destino a que ele a liga só lha concedeu para lha tirar — e troçar dele.
O destino dá o seu primeiro golpe. Basta a confrontação, presidida por Édipo, do mensageiro de Corinto e do pastor de Citerão que lhe entregara a criança desconhecida. Por um hábil arranjo do poeta, este pastor é o servo salvo do drama da encruzilhada. A preocupação da economia que marca aqui Sófocles concorda com o estilo sóbrio da composição. Um drama em que os golpes se sucedem com tanta precisão e rapidez nada pode tolerar de supérfluo.
Por outro lado, o poeta quiz que Édipo soubesse ao mesmo tempo e com uma so palavra toda a verdade. Não em primeiro lugar que era o assassino de Laio e só depois que Laio era seu pai. Uma catástrofe em dois tempos não teria a intensidade dramática do desenlace que — pelo facto de que uma só personagem detém toda a verdade — vai rebentar, num único e terrível som de trovão, sobre a cabeça de Édipo. Quando o rei sabe pelo servo do pai que é o filho de Laio, nem sequer precisa de perguntar quem matou Laio. A verdade torna-se de súbito cegante. E ele corre a cegar-se a si próprio.
Então — enforcada Jocasta — oferece-se a nós a imagem nova daquele que foi "o primeiro dos homens": a Face de olhos mortos. Que tem ela para nos dizer? [281]
Toda a última parte do drama — após o terrível relato dos ganchos furando as pupilas em golpes repetidos — é o lento final de um poema cujo andamento fora até aqui cada vez mais precipitado. O destino satisfeito suspende a sua carreira e restitui-nos a respiração. O movimento vertiginoso da acção imobiliza-se de súbito em longos lamentos líricos, em adeuses, em pesares, em retornos sobre si mesmo. Não pensemos que por isto a acção se detém ou apenas se interioriza, nesta conclusão do drama, no próprio coração do herói. O lirismo é aqui acção: é activa meditação de Édipo sobre o sentido da sua vida, e o reajustamento da sua pessoa à presença do universo que o evento lhe descobre. Se a "máquina infernal" executou magnificamente a operação do "aniquilamento matemático" de uma criatura humana, eis que neste ser aniquilado através do nosso horror, a acção vai retomar a sua marcha, seguir a lenta via das lágrimas e, contrariamente à nossa expectativa, desabrochar em piedade fraternal, florir em coragem.
Para os modernos, toda a tragédia acaba em catástrofe. Rei Édipo parece-lhes a obra-prima do género trágico, porque o seu herói parece afundar-se no horror. Mas esta interpretação é falsa: esquece todo esse fim lírico em que se situará a resposta de Édipo. Enquanto não for validamente explicada ests conclusão de Rei Édipo, magnífica em cena, outra coisa se não terá feito sem alterar o setido deste grande poema: na verdade Rei Édipo não terá sido compreendido.
Mas olhemos esse ser que avança tacteando e cambaleando. Está ele realmente aniquilado? Iremos nós comprazer-nos em contemplar nele o horror de um destino sem nome? "Povo mortal, o mundo pertence ao Destino, resigna-te!" Não, nenhuma tragédia grega — e nem sequer Édipo — convido, jamais um público ateniense a esta resignação, bandeira branca da derrota consentida. Para além do que parece gritos de desespero, protesto de abandono, encontraremos essa "força de alma" que é o duro núcleo de resistência inquebrável desse velho (Sófocles-Édipo) e do seu povo. Sentimos já que nesse ser votado ao aniquilamento, a vida bate ainda: ela reaprenderá a sua marcha. Édipo vai erguer como novas armas essas pedras com que o Destino o lapidou, revive para se bater de novo, mas numa perspectiva mais justa da sua condição de homem. É esta perspectiva nova que ele descobre na última parte de Rei Édipo.
A tragédia Rei Édipo abre-nos pois na quarta e última parte do seu percurso horizontes que não tínhamos sequer suspeitado ao princípio. Todo [282] drama, desde o primeiro instante, nos tinha falaciosamente tendido para a angústia do minuto em que Édipo conheceria o sentido da sua vida passada: parecia todo ele concebido e dirigido para produzir esse sábio crime concertado pelos deuses, que é o verdadeiro crime da peça — o assassínio de um inocente.
"Parecia..." Mas, não. O poeta revela-nos nesta conclusão do drama, pela ampla beleza desse fuste lírico com que coroa a sua obra, que o termo, o fim dessa obra não era a simples destruição de Édipo. Tomamos lentamente consciência de que a acção, por mais severa que tenha sido sobre nós a sua dominação, não nos conduzia à ruína do herói, mas antes nos fizera esperar, ao longo da peça e no mais profundo de nós próprios, uma coisa desconhecida, ao mesmo tempo temida e esperada, essa resposta que Édipo derrubado pelos deuses teria a dar a esses deuses. — Resposta que temos agora de descobrir.
II
Chorar as lágrimas trágicas, é reflectir... Nenhuma obra de grande poeta é escrita para nos fazer pensar. Uma tragédia propõe-se comover-nos e agradar-nos. É perigoso interrogarmo-nos sobre o sentido de uma obra poética e formular esse sentido em termos intelectuais. Contudo — se o nosso espírito não tem compartimentos estanques — toda a obra que nos comove ressoa na nossa inteligência e toma posse de nós. E foi também com todo o seu ser que o poeta a compôs. Atinge o nosso pensamento pelo caminho do estranho prazer do sofrimento partilhado com as criaturas nascidas da sua alma. É o terror, é a piedade, é a admiração e o amor pelo herói trágico que nos obrigam a perguntar a nós próprios: "Que acontece a este homem? Qual é o sentido deste destino?" O poeta impõe-nos pois a procura do sentido da sua obra como uma reacção natural do nosso entendimento ao estado de emotividade em que nos lança.
Parece-me distinguir em nós, a propósito de Édipo, três reacções deste gênero, três sentidos que o nosso pensamento atribui a esta tragédia, à medida que ela caminha e progride em nós, três etapas do nosso espírito para a sua plena significação.
A primeira etapa é a revolta. [283] Um homem está diante de nós, apanhado numa armadilha diabólica. Este homem é um homem de bem. Essa armadilha é montada por deuses que ele respeita, por um deus que lhe impôs esse crime que lhe imputa. Onde está o culpado? Onde está o inocente? Nós gritamos a resposta: Édipo está inocente. O deus é criminoso.
Édipo está inocente porque, em nossa opinião primeira, não existe falta fora duma vontade livre que tenha escolhido o mal.
Ésquilo, tratando o mesmo assunto, dava ao oráculo o sentido de uma proibição feita a Laio de ter um filho. A procriação dessa criança era desde logo um acto de desobediência aos deuses. Édipo pagava a falta do pai, não sem ter-lhe acrescentado, aliás, no curso da sua vida, uma falta sua. O deus de Ésquilo feria com justiça.
Mas esta interpretação do mito não é de modo algum a de Sófocles. O oráculo de Apolo a Laio é apresentado pelo poeta de Rei Édipo como uma predição pura e simples do que acontecerá. Nenhuma falta, nenhuma imprudência dos mortais justifica a ira dos deuses. Laio e Jocasta fazem tudo quanto lhes é possível para deter o crime em marcha: expõem o filho único. Do mesmo modo procede Édipo quando recebe o segundo oráculo, abandona os pais. No decorrer do drama, nem a boa vontade de Édipo nem a sua fé claudicam, seja qual for a circunstância.
Ele só tem um desejo, salvar Tebas. Para o conseguir conta com o apolo dos deuses. Se toda a acção deve ser julgada segundo a sua intenção, Édipo está inocente de um parricídio e de um incesto que ele não quis nem conheceu.
Quem é pois o culpado? O deus. Só ele desencadeou, sem sombra de razão, toda a sequência dos acontecimentos que levam ao crime. O papel do deus é tanto mais revoltante quanto é certo ele só intervir em pessoa nas circunstâncias em que o homem, à força de boa vontade, pareceria ir fugir ao destino. Assim, ao dar a Édipo o segundo oráculo, o deus sabe que esse oráculo será erradamente interpretado.
Especulando com a afeição filial e a piedade da sua vítima, revela do futuro exactamente quanto baste para que ele se realize com o concurso da virtude. A sua revelação faz que funcionem os elementos livres da alma humana, precisamente no sentido do mecanismo do destino. Estes pequenos empurrões da divindade são revoltantes.
Mas divertem o deus. As palavras de ironia trágica são o eco do seu riso nos bastidores.
Menos ainda que todo o resto, é este escárnio que nós não podemos [284] perdoar à divindade. Se os deuses mofam de Édipo inocente, ou por culpa deles culpado, como não sentiremos a sorte do herói como um ultrage à nossa humanidade? A partir daí, no sentimento da nossa dignidade ferida, apossamo-nos da tragédia para fazer dela um acto de acusação contra a divindade, um documento da injustiça que nos é feita.
Esta reacção é sã. Sófocles sentiu esta revolta legítima. A dura estrutura da acção que ele construiu no-la inspira. Contudo, Sófocles não se detém neste movimento de cólera, contra os nossos senhores inimigos. Ao longo de toda a peça, há sinais que nos advertem, obstáculos que entravam em nós a revolta, que nos impedem de nos instalarmos nela, que nos convidam a ultrapassar este sentido primeiro do drama e a interrogar novamente a obra.
Primeira barreira à nossa rebelião: o coro.
Sabemos a importância do lirismo coral em toda a tragédia antiga. Ligado à acção, como a forma à matéria, o lirismo elucida o sentido do drama. Em Édipo, após cada um dos episódios que aumentam a nossa indignação contra os deuses, os cantos do coro são surpreendentes profissões de fé na divindade. Inalterável é a dedicação do coro ao seu rei, inalterável a sua fidelidade e o seu amor pelo benfeitor da cidade, mas também inalterável é a confiança do coro na sabedoria da divindade. Nunca o coro opõe Édipo e os deuses. Onde nós procuramos um inocente e um culpado, uma vítima e o seu carrasco, o coro une o rei e o deus num mesmo sentimento de veneração e de amor. No centro deste drama em que vemos afundar-se no nada o homem, a sua obra e a sua fortuna, o coro assenta firmemente a certeza de que existem coisas que duram, afirma a presença, para lá das aparências, de uma realidade esplêndida e desconhecida que solicita de nós mais do que uma negação revoltada.
Todavia, no exacto momento em que o coro afirma assim a sua fé, sentem-se passar frémitos de dúvida que tomam essa fé mais autêntica.
Como se resolverá esta oposição que parece por momentos dividir Édipo e os deuses, nem o coro, nem o próprio Sófocles o sabem ainda plenamente. Para dissolver estas aparentes e fugidias contrariedades, estas antinomias no seio da verdade, serão precisos quinze anos. será preciso que Sófocles escreva Édipo em Colono.
Uma outra personagem, de maneira inversa, nos desvia da revolta: Jocasta. A figura desta mulher é estranha. Jocasta é ela própria uma negação. Nega os oráculos, nega o que não compreende e o que teme. Julga-se mulher de experiência, é uma alma limitada e céptica. Pensa não ter medo de nada: para se tranquilizar, declara que não há nada no fundo do ser senão o acaso. "Para [285] que serve ao homem amedrontar-se?", diz ela. "Para ele, o acaso é o senhor soberano. O melhor é que se lhe abandone. Deixa de temer o leito de tua mãe. Muitos homens, em sonhos, partilharam o leito maternal. Quem despreza esses terrores suporta facilmente a vida." Esta maneira de atribuir tudo ao acaso para tirar aos nossos actos o seu sentido, esta explicação rasamente racionalista (ou freudiana) do oráculo que aterroriza Édipo — tudo isto é de uma sabedoria medíocre que nos afasta de Jocasta e nos impede de seguir uma via em que a nossa inquietação em relação aos deuses se apaziguaria na recusa de dar atenção à sua linguagem obscura. Sentimos na argumentação desta mulher uma baixeza de olhar que nos afasta subitamente de julgar levianamente os deuses e o mistério que eles habitam. A falsa sabedoria da rainha obriga-nos a tocar com o dedo a nossa própria ignorância.
Quando a verdade surge, Jocasta enforca-se. O seu suicídio enche-nos de horror. Mas não temos lágrimas para esta alma réproba.
Finalmente, eis, no momento da catástrofe do drama, um último e imprevisto obstáculo que nos proíbe de condenar os deuses. Édipo não os condena Nós acusamo-los de terem ferido um inocente e o inocente proclama-se culpado, Todo o fim da tragédia — essa vasta cena em que, agora que a acção explode feriu Édipo no rosto, contemplamos com o herói o seu destino como um mar de sofrimento imóvel — , todo este final do drama é, indiquei-o já, essencial à sua significação.
Édipo sabe agora donde veio o golpe que o derruba. Grita: "Apoio, sim. Apolo, meus amigos, é que é o único autor das minhas desgraças!" Sabe que é "odiado pelos deuses": di-lo e repete-o. Contudo, não tem, em relação a eles, o mais pequeno movimento de ódio.
A sua maior dor é estar despojado deles. Sente-se separado deles: "Agora, estou privado de deus." Como alcançar a divindade, ele, o culpado, o criminoso? Nenhuma acusação, nenhuma blasfémia na sua boca. O seu inteiro respeito pela acção dos deuses para com ele, a sua submissão à autoridade na provação em que se lançaram, advertem-nos de que entreviu o sentido do seu destino e convidam-nos a procurá-lo com ele.
Com que direito nos revoltaríamos, se Édipo não se revolta? Com ele queremos conhecer a ordem dos deuses — essa ordem que, mesmo para lá da justiça, se impõe aos homens. [286]
Conhecimento tal é a segunda etapa da nossa reflexão sobre esta tragédia. Toda a tragédia nos abre uma perspectiva sobre a condição humana, e esta mais do que qualquer outra.
A tragédia de Édipo é a tragédia do homem. Não a de um homem particular, com o seu carácter distinto e o seu debate interior próprio.
Nenhuma tragédia antiga é menos psicológica que esta, nenhuma é mais "filosófica". Aqui é a tragédia do homem na plena posse de todo o poder humano e esbarrando com aquilo que no universo recusa o homem.
Édipo é apresentado pelo poeta como a perfeição do homem. Ele possui toda a clarividência humana — sagacidade, juízo, poder de escolher em cada caso o melhor partido. Possui também toda a "acção" humana (traduzo uma palavra grega) — espírito de decisão, energia, poder de inserir o seu pensamento no acto. E, como diziam os Gregos, senhor do logos e do ergon, do pensamento e da acção. É aquele que reflecte, explica, e aquele que age.
Além disso, Édipo pôs sempre esta acção reflectida ao serviço da comunidade. E esse é um aspecto essencial da perfeição do homem. Édipo tem uma vocação de cidadão e de chefe. Não a realiza como "tirano" (apesar do falso título, em grego, da peça), mas em lúcida submissão ao bem da comunidade. O seu "erro" nada tem que ver com um mau emprego dos seus dons, com uma vontade má que procuraria fazer prevalecer o interesse particular sobre o bem geral. Édipo está pronto, a todo o momento, a dedicar-se inteiramente à cidade. Quando Tirésias lhe diz, pensando que o amedronta: "A tua grandeza perdeu-te", ele responde: "Que importa perecer, se salvo a minha terra?"
Acção reflectida é acção votada à comunidade, tal é a perfeição do homem antigo... Por onde pode o destino agarrar um homem assim? Simplesmente e precisamente no facto de ele ser um homem — e por a sua acção de homem estar submetida às leis do universo que regem a nossa condição. Não devemos situar o erro de Édipo na sua vontade. O universo não se ocupa destas coisas, não cuida de serem boas ou más as nossas intenções, da moral que construímos ao nosso nível de homem. O universo ocupa-se apenas do acto em si mesmo, para o impedir de perturbar a ordem que é a sua, ordem na qual se insere a nossa vida mas que se mantém estranha a nós.
A realidade é um todo. Cada acto do homem ressoa nesse todo. Sófocles sente intensamente a lei de solidariedade que liga, queira-o ele ou não, o homem ao mundo. Quem age liberta de si um ser novo — o seu acto — que, separado do seu autor, continua a agir no mundo, de maneira inteiramente [287] imprevisível para aquele que o desencadeou. Este primeiro autor do evento nem por isso é menos responsável — não de direito, mas de facto — pelas suas últimas repercussões. De direito, esta responsabilidade só deveria ligar-se a ele se ele conhecesse todas as consequências do seu acto. Não as conhece. O homem não é omnisciente — e tem de agir. Essa é a tragédia. Todo o acto nos expõe. Édipo, homem no mais alto grau, está supremamente exposto
Assim se aponta uma ideia singularmente dura e, de certo ponto de vista, muito moderna, da responsabilidade. Um homem não é somente responsável pelo que quis, é-o também pelo que se verifica ter feito à luz do acontecimento que os seus actos engendram, sem que tenha disposto de qualquer meio de calcular e, com mais forte razão, de impedir esse resultado.
Sermos tratados pelo universo como se fôssemos omniscientes, surda ameaça de todo o destino, se o nosso saber é misto de ignorância, se o mundo em que somos forçados a agir para subsistir, nos é, no seu funcionamento secreto, ainda quase inteiramente obscuro. Sófocles adverte-nos. O homem não conhece o conjunto das forças cujo equilíbrio constitui a vida do mundo. A boa vontade do homem, prisioneira da sua natural cegueira, é pois ineficaz para o preservar da desgraça.
Tal é o conhecimento que o poeta nos revela na sua tragédia. Disse-o já duro conhecimento. Mas responde tão exactamente a toda uma parte da nossa experiência que ficamos deslumbrados pela sua verdade. O prazer do verdadeiro livra-nos da revolta. O destino de Édipo — mesmo se o seu caso não é mais que um caso-limite — parece-nos de súbito exemplar de todo o destino humano.
E isto mais ainda do que se ele pagasse um erro no sentido corrente da palavra. Se ele se comportasse como senhor iníquo e brutal, como o tirano de Antígona, por exemplo, tocar-nos-ia sem dúvida na sua queda, mas de maneira menos aguda, porque nós pensaríamos poder evitar a sua sorte. Pode-se evitar ser um homem mau. Como evitar ser um homem? Édipo é homem apenas — homem que triunfou como nenhum outro na sua carreira. A sua vida é toda construída de boas obras. E esta vida acabada manifesta de súbito a sua impotência, faz explodir a vaidade das obras perante o tribunal do universo.
Não é que o seu exemplo nos desanime de agir. Uma poderosa vitalidade se desprende da sua pessoa, mesmo no fundo do abismo donde nos fala. Mas nós sabemos agora, graças a ele — sim, nós sabemos: pelo menos isto se ganhou — , o preço que poderemos ter de pagar pela acção, e que o fim dessa [288] acção, por vezes, não nos pertence. O mundo que nos aparecia falsamente claro, quando pensávamos poder construir nele, à força de sabedoria e de virtude, uma felicidade inteiramente preservada dos golpes que ele nos destina. A realidade que nós imaginávamos maleável, revelam-se subitamente opacos, resistentes, cheios de coisas, de presenças, de leis que não nos amam, que existem não para nosso uso e serviço, mas no seu ser desconhecido. Sabemos que é assim, que a nossa vida paira numa vida mais vasta, que talvez nos condene. Sabemos que quando olhávamos tudo com olhos claros era então que estávamos cegos. Sabemos que o nosso saber é pouca coisa, ou antes, que das intenções do universo a nosso respeito uma só é certa: a condenação dada contra nós pelas leis da biologia.
Sófocles fez da cegueira de Édipo um admirável símbolo, prenhe de sugestões múltiplas. Ao cegar-se, Édipo torna visível a ignorância do homem. Faz mais ainda. Não apresenta apenas o nada do saber humano, alcança na noite uma outra luz, acede a um outro saber, que é o conhecimento da presença em redor de nós de um mundo obscuro. Este conhecimento do obscuro não é já cegueira, é olhar,
O mesmo tema se anunciava no diálogo de Tirésias e do rei, o cego via pelo olhar do Invisível, ao passo que o vidente se mantinha mergulhado nas trevas. No final do drama, ao rebentar os seus olhos de homem, Édipo não manifesta apenas que só o deus é vidente, entra na posse duma luz que lhe é própria, que lhe permite sustentar a visão do universo tal como ele é, e, contra toda a expectativa, aí afirmar ainda a sua liberdade de homem.
O gesto dos olhos rebentados permite-nos atingir, com efeito, na sua espantosa realização, a significação mais alta da tragédia.
Porque passa em nós, espectadores, uma espécie de frémito de alegria, quando a visão da face sangrenta se apresenta sobre a cena em vez de simplesmente nos encher de horror?
Porquê? Porque finalmente nós temos nesses olhos rebentados a resposta de Édipo ao destino. Édipo cegou-se a si mesmo. Ele o proclama com veemência:
"Apolo votou-me à desgraça. Mas eu, com as minhas próprias mãos, me ceguei."
Assim ele reivindica, escolhe o castigo que o destino lhe reservava. Dele faz o seu primeiro gesto de homem livre que os deuses não repelirão. Édipo, não passivamente, mas com toda a profundeza do seu querer, adere com violência ao mundo que lhe é preparado. A sua energia é, neste acto, singular, e [289] assustadora, tão cruel, em verdade, como a hostilidade do mundo em relação a ele.
Mas que significa este impulso poderoso que, subindo das raízes do seu ser como uma seiva, o leva a exceder a sua desgraça, senão que, nesta derradeira provação da rivalidade que o opõe ao mundo, Édipo toma agora o comando da corrida, e que, resolvido a alcançar o seu destino, o alcança, ultrapassa, o deixa enfim atrás de si, ei-lo livre.
O último sentido do drama é. ao mesmo tempo, adesão e libertação. Adesão. Édipo quer o que o deus quis. Não que a sua alma se junte misticamente na alegria do Ser divino. O trágico grego não desagua senão muito raramente no misticismo, se alguma vez chega a desaguar nele. Funda-se antes na verificação objectiva de que existem no mundo forças ainda ignoradas do homem, que regem a sua acção. Essa região desconhecida do Ser, esse mistério divino, esse mundo que está separado do dos homens por um profundo abismo todo esse divino é sentido por Édipo como um outro mundo, um mundo estrangeiro. Um mundo que talvez um dia seja conquistado, que se explicará em linguagem de homem. Mas por agora (o agora de Sófocles) um mundo fundamentalmente estrangeiro, quase um corpo estranho que é preciso expulsar da consciência humana. Não, como acontece com o místico, um mundo que a alma deve desposar. Na realidade, um mundo a humanizar.
Para ganhar a sua liberdade em relação a esse mundo, Édipo lançou-se no abismo que o separa do nosso. Por um acto de coragem inaudita, foi procurar no mundo dos deuses um acto deles, preparado para o punir nesse acto que lhe devia ser desferido como uma ferida, a si mesmo o aplicou "com as suas próprias mãos", dele fez um acto do mundo humano, quer dizer, um acto livre. Obrigado o homem a admitir que esse estrangeiro é capaz de lhe tomar a direcção da sua própria vida, acontece que o herói trágico não pode dar-lhe um lugar no seu pensamento, não pode aceitar determinar a sua conduta sobre a experiência que daí tira, se não estiver persuadido de que, no seu ser desconhecido, esse Senhor é de alguma maneira digno de ser amado. Édipo, ao escolher a cegueira, adapta a sua vida ao conhecimento que a sua desgraça lhe deu da acção divina no mundo. É nesse sentido que ele quer o que o deus quis. Mas esta adesão ao divino, que é acima de tudo um acto de coragem meditada, ser-lhe-ia impossível se não implicasse uma parte de amor. Amor que procede de um duplo movimento da natureza do homem: em primeiro lugar, o respeite do real e das condições que ele impõe a quem quer viver plenamente, e em [290] segundo lugar muito simplesmente o impulso que lança para a vida toda a criatura viva.
Para aceitar o preço de uma ofensa que cometeu sem saber como, é preciso que Édipo admita a existência de uma realidade cujo equilíbrio perturbou, é preciso que distinga, ainda que confusamente, no mistério em que esbarra, uma ordem, uma harmonia, uma plenitude de existência a que o impele a associar-se o amor ardente que sempre dedicou à vida, à acção, e que traz em si, agora, na plena consciência das ameaças que elas reservam a quem quer viver com grandeza.
Édipo faz um acto de adesão ao mundo que o despedaçou porque esse mundo é, seja o que for que ele empreenda em relação ao nosso, o receptáculo do Deus vivo. Acto religioso que exige, além da coragem lúcida, um inteiro desprendimento, pois essa ordem que ele pressente para além das aparências, não é uma ordem que o seu espírito de homem possa apreender claramente, uma ordem que lhe diga respeito, um plano da divindade que tenha o homem como fim, uma providência que o julgue e vise ao seu bem segundo as leis humanas da moral.
Que é então essa ordem universal? Como apreender essas leis inapreensíveis? Existe no fundo do universo, diz o poeta, "uma adorável santidade". Ela conserva-se a si própria. Não tem necessidade alguma do homem para se manter. Se acontece perturbá-la, por engano, qualquer imprudente, o universo restabelece, à custa do culpado, a ordem sagrada. Aplica a lei: o falso corrige-se a si mesmo, como que automaticamente. Se o herói do drama de Sófocles nos parece triturado por uma máquina, é porque o mundo, perturbado na sua harmonia pelo parricídio e pelo incesto, espontaneamente, mecanicamente, restabeleceu o seu equilíbrio esmagando Édipo. O castigo do culpado não tem outro sentido: é uma "correcção", no sentido de rectificação de um erro. Mas, na passagem da catástrofe que devasta a sua vida, Édipo reconhece que a vida do universo manifestou a sua presença. Ama essa pura fonte do Ser, e esse amor distante que dedica ao Estrangeiro, de maneira imprevista, alimenta e regenera a sua própria vida, desde o momento que aceitou que seja restaurada, pelo seu castigo, a santidade inviolável do mundo que o esmaga.
O deus que fere Édipo é um deus duro. Não é amor. Um deus-amor teria certamente parecido a Sófocles subjectivo, feito à imagem do homem e das suas ilusões, maculado de antropomorfismo e de antropocentrismo ao mesmo tempo. Nada na experiência de Édipo sugere um tal deus. O divino é mistério e [291] ordem. Tem a sua própria lei. É omnisciente e todo-poderoso. Não há mais nada a dizer dele... Contudo, se é difícil supor que nos ame, pelo menos ainda é possível ao homem concluir, com dignidade, um pacto com a sua sabedoria desconhecida.
Deus reina — incognoscível. Os oráculos, os pressentimentos, os sonhos — vaga linguagem que ele nos dirige — são como bolhas que do fundo do seu abismo sobem para as regiões humanas. Sinais da sua presença, mas que não permitem compreendê-lo e julgá-lo, se têm algo de sentido de uma predesti nação, são muito mais, para o homem, a ocasião de entrever a omnisciência de Deus, de contemplar o necessário, a lei. Esta visão colhida pelo homem dirige doravante o seu comportamento de criatura sem dúvida débil, mas decidida a viver de harmonia com as leis severas do Cosmos. Desde que. através da sua linguagem confusa, ouve o apelo que o Universo lhe dirige. Édipo lança-se para o seu destino com um impulso semelhante ao do amor. Amor fati, diziam os antigos (ou Nietzsche, condensando o seu pensamento) para exprimir esta forma nobre do sentimento religioso, esse esquecimento das ofensas, esse perdão do homem ao mundo. Ou ainda essa reconciliação no coração dividido do homem, do seu destino, que é o de ser esmagado pelo mundo, e da sua vocação, que é de amar e de concluir o mundo.
Adesão no amor que é criação. Ao mesmo tempo: Libertação. Édipo parece subitamente aprumar-se. Ele declara:
"Tão grandes são os meus males, que ninguém entre os homens poderia suportar-lhes o peso — a não ser eu."
É que o círculo do fatal está quebrado e ultrapassado, no momento que Édipo colabora na sua própria desgraça e a leva ao cúmulo, no momento que ele remata, com um acto deliberado, essa imagem absoluta da desgraça que os deuses se comprouveram a modelar na sua pessoa. Édipo passou para o outro lado do muro, está fora do alcance do deus, desde o instante em que, tendo-o conhecido e admitido como um facto, não rigorosamente definível, mas certo, tendo-o experimentado no desastre da sua vida, o substitui na sua função de justiceiro, a ele se substitui e de algum modo o demite.
Não rivaliza Édipo com ele até na sua função de criador, se essa obra-prima da Desgraça que o artista divino concebera é o gancho levantado pela mão de Édipo que vai procurá-la no fundo das suas pupilas para a apresentar à luz do dia?
E agora a grandeza de Édipo, a alta estatura do homem, ergue-se novamente diante de nós. [292]
Oferece-se aos nossos olhos invertida. Não já no sentido que imaginávamos no começo do drama, que a grandeza de Édipo tombaria no chão aniquilada, mas no sentido de que ela se transforma numa grandeza inversa.
Era uma grandeza de fortuna, grandeza de ocasião e como que emprestada, medível pelos bens exteriores, à altura desse trono conquistado, por esse amontoado de proezas, feita de tudo o que o homem pode arrancar à sorte de surpresa. E agora uma grandeza de infortúnio e de provação, não de catástrofes que ficaram alheias, mas de sofrimentos assumidos, recebidos na intimidade da carne e do pensamento, sem outra medida, de futuro, que a desgraça infinita do homem, essa desgraça que Édipo fez sua. Participando da imensidade da nossa miséria nativa, essa grandeza iguala enfim aquele que aceita reparar pelo preço do seu sofrimento o mal que não quisera com Aquele que o havia inventado para consumar a sua perda.
A grandeza que os deuses lhe recusavam à claridade do sol, restaura-a Édipo na paz não nocturna mas constelada da alma. Pura doravante dos seus dons, da sua graça, do seu serviço, alimentada da sua maldição, dos seus golpes, das suas feridas, feita de lucidez, de resolução, de possessão de si.
Assim o homem responde ao destino. Da violência da sua servidão, faz ele o instrumento da sua libertação.
III
Rei Édipo mostrava que em todas as circunstâncias e até no rigor da ofensiva dirigida contra ele pelo Destino, o homem está em condições de manter a sua grandeza e o seu prestígio.
A ameaça trágica pode tudo contra a sua vida, nada pode contra a sua alma, contra a sua força de alma.
Esta firmeza de alma, vamos nós reencontrá-la intacta no herói de Édipo em Colono, afirmada por ele próprio logo nos primeiros versos como a virtude suprema que o mantém de pé na terrível provação que defronta pelas estradas, há anos.
Quando Sófocles escreve Édipo em Colono, ultrapassou os limites ordinários da vida humana: reflectiu muito sobre Édipo, viveu muito com Édipo. A [293] resposta que na última parte de Rei Édipo o herói dava ao destino, não lhe parece, agora que ele próprio se aproxima da morte, absolutamente satisfatória. Continua válida, decerto, para o momento da vida de Édipo em que foi dada mas a vida de Édipo continuou... Não retomaram os deuses o diálogo? Retomaram a ofensiva? Édipo em Colono é uma continuação do debate entre Édipo e os deuses, continuação feita à luz íntima da experiência que Sófocles tem da velhice extrema. É como se Sófocles, próximo da morte, tentasse lançar, nesta tragédia, uma ponte, uma simples passagem entre a condição humana e a condição divina. Édipo em Colono é a única tragédia grega que franqueia o abismo que separa o homem da divindade — a Vida da Morte. É a história da morte de Édipo, uma morte que o não é, a passagem de um homem. eleito pelos deuses (porquê? ninguém o sabe) à condição de herói.
Os heróis são na religião antiga seres poderosos, por vezes intratavelmente benevolentes, por vezes claramente malévolos. O herói Édipo era o patrono da aldeia de Colono, onde nasceu e cresceu Sófocles. A criança, o adolescente prosperou sob o olhar desse demónio caprichoso que habitava nas profundezas da terra da sua aldeia.
Em Édipo em Colono, Sófocles procura preencher a distância que, para os Gregos, para o seu público ateniense e para si mesmo, existia entre o velho rei criminoso expulso de Tebas, o fora-da-lei condenado a rondar pelas estradas da Terra e esse ser benéfico que leva uma estranha sobrevivência no solo da Ática, esse deus à sombra do qual o jovem génio de Sófocles ganhou forças.
Esta tragédia tem pois por tema a morte de Édipo. mais exactamente a passagem da condição humana à condição divina. Mas por causa da referência implícita à juventude de Sófocles — essa juventude campestre cheia de oliveiras e de loureiros silvestres, de rouxinóis, de barcas e de cavalos — e dessa outra referência à velhice do poeta — carregada de conflitos, de desgostos cruéis e finalmente esplendente de serenidade — , por causa desta dupla referência, esta tragédia única contém, transporta num maravilhoso poema, tudo quanto podemos entrever das esperanças que Sófocles, na extrema margem da vida, põe na morte e nos deuses.
Édipo ganha a sua morte em três etapas. Conquista-a em três combates: contra os velhos camponeses de Colono, contra Creonte, contra seu filho Polinices. Em cada um destes combates contra pessoas que lhe querem tirar a sua morte, Édipo mostra uma energia singular num velho, manifesta uma [294] paixão, prova uma violência que, da última vez, na luta contra o filho, atinge um grau de intensidade quase intolerável.
Contudo, estas cenas de combate que nos conduzem à morte como a um bem a conquistar são tomadas numa corrente inversa de alegria, de ternura, de amizade, de confiante espera da morte. As cenas de luta são pois ligadas entre si e preparadas por cenas em que o velho reúne as suas forças no meio daqueles a quem ama, Antígona. Ismene, Teseu o rei de Atenas, em que saboreia na paz da natureza as últimas alegrias da vida, ao mesmo tempo que se prepara para essa morte que ele deseja e espera: faz passar na memória as dores da sua vida, essas dores que dentro em pouco lhe não farão mais mal. Toda esta corrente de emoções tranquilas nos leva para a serenidade da morte prometida a Édipo. Essa morte remata magnificamente o drama.
A morte de Édipo está pois situada no termo de duas correntes alternadas de paz e de luta: é o preço de um combate, é o cumprimento de uma espera.
Caminhamos, se assim posso dizer, para uma espécie de conhecimento da morte se estas palavras pudessem ter sentido. Graças à arte de Sófocles. tudo se passa como se o tivessem.
A primeira cena da tragédia é de uma poesia familiar e de uma beleza patética. O velho cego e a rapariga descalça avançam pelo caminho pedregoso. Há quantos anos andam assim pelas estradas, não o sabemos. O velho vem cansado, quer sentar-se. Pergunta onde está. Quantas vezes esta cena se repetiu? Antígona vê pelo velho, descreve-lhe a paisagem. Vê também por nós, espectadores. Sem dúvida havia um cenário com árvores pintadas numa tela. Sófocles inventou e empregou o cenário pintado. Mas o verdadeiro cenário é a poesia que brota dos lábios de Antígona que no-lo dá. A rapariga descreve o bosque sagrado com os seus loureiros e as suas oliveiras bravas, com a sua vinha; dá-nos a ouvir o canto dos rouxinóis: vemos o banco de pedra à beira da estrada e, ao longe, as altas muralhas da cidadela de Atenas.
O velho senta-se, ou antes Antígona senta-o na pedra. Retoma fôlego. O texto indica todo este pormenor com uma precisão pungente. Três coisas, diz Édipo a sua filha, bastaram para o preservar na sua provação: a paciência, o que ele chama, com uma palavra que significa igualmente "amar", a resignação, essa resignação que se confunde com o amor dos seres e das coisas. Finalmente, a terceira coisa e a mais eficaz, "a firmeza de alma", uma nobreza, ama generosidade da sua natureza que a desgraça não pôde alterar. [295]
Passa um caminheiro na estrada, interrogam-no. "Aqui", diz ele, "é o bosque sagrado das temíveis e benévolas filhas da Terra e da Escuridão, as Euménides."
O velho estremece; nestas palavras reconhece o lugar da sua morte, prometido por um oráculo. Com veemência — toda a energia do antigo Édipo — afirma que o não arrancarão daquele lugar. Reclama a sua morte, que lhe dará enfim o repouso. O caminheiro afasta-se para ir avisar Teseu. Édipo, sozinho com Antígona, roga às "deusas dos olhos terríveis" que tenha piedade dele, que lhe concedam a paz do último sono. Já o seu corpo não eéais que uma maceração: vai deixar este invólucro emurchecido, vai morrer.
Ouvem-se passos na estrada. É um grupo de camponeses de Colono, avisados de que entraram estrangeiros no bosque sagrado: indignam-se com o sacrilégio. O primeiro movimento de Édipo é penetrar no bosque, não deixar que lhe tirem a sua morte. Os camponeses espreitam-no da orla das árvores De súbito surge Édipo, que não é homem para se esconder muito tempo. Vem defender a sua morte. Apertado com perguntas indiscretas, declina a sua horrível identidade, sacudindo os camponeses de um arrepio de horror. Esquecendo a promessa feita de que não usariam de violência, o coro grita: "Fora daqui, fora desta terra." Édipo é um ser contaminado: eles o expulsarão.
A partir deste primeiro combate, Édipo, ao contrário do que fazia em Rei Édipo, proclama e advoga a sua inocência. Parece ter sido através dos seus longos sofrimentos que ele tomou consciência dessa inocência — no lento e doloroso caminhar da estrada. Não que este novo sentimento o faça insurgir-se contra os deuses que o feriram. Simplesmente, sabe ao mesmo tempo estas duas doisas: os deuses são os deuses e ele está inocente. Além disso, porque os deuses o tocaram e cada dia mais ainda, porque o acabrunham de miséria, dai lhe vem um carácter sagrado. Édipo sente e exprime confusamente que um ser atingido pelos deuses está fora do alcance das mãos humanas — essas mãos ameaçadoras dos camponeses que se estendem para o agarrar. O seu corpo sagrado deve ficar, depois da sua morte, neste bosque das Euménides. Carregado de maldições divinas, sujo de máculas recebidas contra vontade, este corpo ao mesmo tempo impuro e sagrado (é a mesma coisa para os povos primitivos) dispõe doravante de um novo poder. É como uma relíquia, fonte permanente de bênçãos para aqueles que a conservem. Édipo anuncia-o orgulhosamente aos camponeses do coro trazendo o seu corpo aos habitantes da Ática, oferece um benefício a toda a região, à cidade de Atenas, cuja grandeza ele assegurará. [296]
Os camponeses recuam. Édipo ganhou o seu primeiro combate. ... O drama prossegue em muitas peripécias.
A cena mais desgarradora e a mais decisiva é a da súplica de Polinices e da intratável recusa do pai a ouvi-lo.
O filho está diante do pai — o filho que expulsou o pai, que o votou à miséria e ao exílio. Polinices está perante a sua obra: diante dela se mostra aniquilado. Este velho que se arrasta pelos caminhos com os olhos mortos, a cara cavada de fome, os cabelos mal tratados, tendo sobre ele um manto sujo cuja imundície se pega à do seu velho corpo — esse refugo de humanidade, é seu pai. Aquele a quem se propunha implorar, talvez levá-lo à força, para que o salve dos seus inimigos e lhe devolva o trono... Já nada pode pedir. Apenas pode confessar o seu erro e pedir perdão. Fá-lo com uma simplicidade que afasta qualquer suspeita de hipocrisia. Tudo é autêntico nas suas palavras. Édipo escuta-o. Não responde. Odeia este filho. Polinices esbarra com um bloco de ódio. Pergunta a Antígona que há-de fazer. Esta diz apenas: Recomeça e continua. Ele toma ao princípio, fala da questão que o opõe a Etéocles. Não fala somente por si, mas por suas irmãs, por seu pai mesmo, a quem se propõe instalar no palácio.
Esbarra sempre com o mesmo muro de rancor implacável. Édipo mantém-se imóvel e selvagem.
Finalmente, uma palavra do corifeu lhe roga que responda, por deferência para com Teseu que lhe enviou Polinices. O selvagem odiento é um homem cortês. Responde, pois, mas somente por consideração para com o seu hospedeiro. E para explodir em horríveis imprecações. Este velho tão perto da morte e que deseja a paz do último sono, este velho não desarma, neste momento em que vê o filho pela última vez — o filho pródigo e arrependido — o pai não desarma o seu ódio inexpiável.
Em numerosas cenas deste amplo drama pudemos ver um Édipo apaziguado, um Édipo tranquilo, conversando na alegria da amizade com Teseu, na doçura da afeição com Ismene ou Antígona reencontradas. Este abrandamento da cólera era sempre devido no velho à longa aprendizagem do sofrimento que lhe impôs a sua condição de miserável: aprendeu ao longo das estradas a suportar a sorte, vergou-se à sua vida de pobre diabo. Mas o perdão, o esquecimento das injúrias, não os aprendeu ele. Não sabe perdoar aos inimigos. Seus filhos trataram-no como inimigo: responde aos golpes com golpes. Maldiz os filhos. As maldições de um pai são terríveis entre todas as maldições. [297]
"Não, não, nunca derrubarás a cidade de Tebas. Tu serás o primeiro a cair, manchado de um assassínio, tu, e teu irmão contigo! Eis as imprecações que lancei contra vós..."
Repete as fórmulas consagradas, a fim de que as maldições invocadas ajam por si mesmas.
"Que, de mão de irmão, tu mates e sucumbas por tua vez, vítima de quem te baniu!... Invoco também a sombra terrível do Tártaro para que ela te colha em seu seio, invoco as deusas deste lugar, e Ares que vos pôs no coração, a ambos, essa execração mortal. Vai-te! Tais são os dons que Édipo neste dia reparte entre seus filhos."
Depois de assim amaldiçoar o filho, o velho cala-se bruscamente, fecha-se de novo no seu silêncio de pedra — enquanto Antígona e Polinices choram longamente. Por fim, o rapaz retoma o caminho para o seu destino.
Nunca, no decurso do drama, foi Édipo tão terrível. Nunca esteve talvez tão longe de nós. Acaba de liquidar ferozmente as suas contas com a vida.
E agora os deuses vão glorificar este homem inexpiável.
Ressoa o trovão. Édipo reconhece a voz de Zeus que o chama. Pede que mandem chamar Teseu, que deverá, sozinho, assistir à sua morte, e receber um segredo que transmitirá aos descendentes.
Édipo está livre de todo o temor. À medida que o momento solene se aproxima, sentimo-lo como que libertado do peso do seu corpo mortal e miserável. A cegueira já não é um obstáculo à sua marcha.
"Daqui a pouco", diz a Teseu, "sem nenhuma mão que me guie. conduzir-te-ei ao lugar onde devo morrer."
Sente nos membros uma "luz obscura" que o toca. É conduzido por essa luz invisível que penetra no bosque sagrado, seguido de suas filhas e de Teseu. O coro canta o eterno sono.
Um mensageiro chega. "Morreu?", pergunta o coro. E o homem não sabe que responder. Relata as últimas palavras de Édipo, os adeuses às filhas. Depois o velho meteu-se pelo bosque, apenas acompanhado de Teseu. Uma voz então ressoou no Céu, chamando Édipo pelo nome. O trovão ribomba outra vez.
Os outros tinham-se afastado. Quando se voltaram, "Édipo já ali não estava; não havia mais ninguém. Só o rei conservava a mão diante dos olhos, como se qualquer prodígio lhe tivesse aparecido, insuportável à vista. Depois prosternou-se, adorando a Terra e os deuses" [298]
Como morreu Édipo? Ninguém o sabe. Terá morrido? E que é a morte? Haverá uma relação entre a vida de Édipo e esta morte maravilhosa? Qual? Não podemos responder a estas perguntas, mas temos o sentimento de que, por esta morte estranha em que o herói desaparece no deslumbramento duma luz demasiado viva, os deuses quebraram para Édipo o curso da lei natural. A morte de Édipo parece (a Nietzsche, por exemplo) fundar um mundo novo, um mundo onde deixaria de haver Destino.
A interpretação de Édipo em Colono é delicada. Antes de mais, falemos uma vez ainda da diferença importante que separa esta tragédia da do Rei Édipo. No mais antigo dos dois dramas, Édipo confessava o seu erro e tomava sobre si a responsabilidade dele. No segundo, ao longo da tragédia e diante da maior parte das personagens, protesta a sua inocência. Apresenta o seu caso como legítima defesa, que, com efeito, diante de um tribunal ateniense, lhe valeria uma sentença de absolvição.
Contudo, esta contradição entre os dois dramas — além de que pode justificar-se pelo tempo que, na vida de Édipo, separa as duas acções — é apenas aparente. Por várias razões. A mais importante é que o Édipo do segundo drama não defende a sua inocência senão do ponto de vista da lógica humana e do direito humano. Fala a homens que vão estatuir sobre a sua sorte, quer obter deles protecção e justiça. Afirma que os homens justos não têm o direito de o condenar, que está humanamente inocente.
A sua inocência é pois encarada relativamente às leis da sociedade humana. Édipo está "inocente segundo a lei". Não é afirmada de maneira absoluta. Se o fosse, a consciência nova que Édipo daí tiraria marcar-se-ia por uma reviravolta da sua atitude para com os deuses. O respeito da acção deles na vida, o misto de terror e de adoração que ele sente em Rei Édipo por ter sido escolhido para ilustrar a omnipotência divina, daria lugar a um sentimento de revolta por ter sido atingido apesar da sua inocência. Nada disto se indica no nosso segundo drama.
Exactamente como em Rei Édipo, proclama a intervenção dos deuses na sua vida e fá-lo com simplicidade, mesmo nas próprias passagens que apoiam a sua inocência humana. ("Assim o quiseram os deuses", ou "Os deuses tudo conduziram.") Nenhuma acrimónia em Édipo, tanto numa como noutra peça.
Em Édipo em Colono como em Rei Édipo, verifica, como o mesmo espírito de objectividade, o mesmo desprendimento de si:
"Cheguei aonde cheguei, sem nada saber. Eles, que sabiam, me perderam." [299]
A sua perda prova, pois (inocente ou culpado: palavras demasiadamente humanas), a sua ignorância e a omnisciência dos deuses.
Contudo, no final de Rei Édipo como ao longo de Édipo em Colono, é dos deuses e só deles — nunca dos seus próprios méritos — que o rei derrubado espera a libertação. A sua salvação depende de uma livre decisão dos deuses.
A concepção da salvação que se manifesta no nosso drama confirma pois e verifica inteiramente a concepção do erro e do castigo tal como ela se manifestava na primeira tragédia. Édipo não merece a salvação, tal como não quis a sua falta nem mereceu o seu castigo.
É evidente que a apoteose que remata o drama de Édipo e coroa o seu destino não poderá, de modo algum, ser interpretada como recompensa de uma atitude moral.
Por isso não é a inocência do rei, o seu arrependimento, o seu perdão aos filhos que determinam a intervenção benévola dos deuses. Uma só e única circunstância parece decidi-los: a extensão das suas desgraças.
Podemos agora tentar precisar o sentido religioso de Édipo em Colono sem esquecer o de Rei Édipo.
Em Rei Édipo, Édipo era castigado não por uma falta pessoal mas como homem ignorante e actuante, pela lei da vida com que esbarra todo o ser actuante. A sua única falta residia na sua existência, na necessidade em que o homem está posto de agir num mundo cujas leis ignora. A condenação que o atingia, despojada de todo o carácter de punição, não atingia na sua pessoa senão o homem actuante.
Édipo em Colono faz aparecer no universo uma outra lei de que os deuses são guardiões, uma lei complementar da precedente, a lei que salva o homem sofredor. A ascensão de Édipo ao nível do herói não é concedida a Édipo pessoalmente, como recompensa dos seus méritos e da sua virtude. É concedida, como graça, ao homem sofredor. Tal como Édipo fora no primeiro drama a perfeição da acção, assim o vemos, em Colono, na ponta extrema do sofrimento humano. Não tenho que enumerar os males de Édipo, estabelecer o inventário pormenorizado deste sofrimento.
Um só verso da primeira cena basta para recordar o abismo de miséria em que caiu este homem feito para agir e para reinar. Édipo, esgotado, diz a Antígona:
"Senta-me e olha pelo cego." [300]
É total o contraste desta imagem do velho, mais fraco que uma criança, com a imagem do rei protector e salvador do seu povo que nos é oferecida no princípio de Rei Édipo.
Ora, é a este velho acabrunhado pela sorte, a este homem sofredor que os deuses vão salvar, que eles escolheram para glorificar, não tanto por causa da maneira como suportou os seus males, mas para manifestar o seu resplandecente poder de deuses. Não só Édipo será salvo, como se tornará ele próprio salvador. O seu corpo maculado vai revestir-se de uma virtude singular: dará a vitória ao povo e a prosperidade à terra.
Porque foi Édipo escolhido? Não o sabemos exactamente. Senão porque sofria. Os deuses são deuses uma vez mais: a sua graça é livre.
Quando muito, entrevemos que existe para Sófocles como que uma lei de compensação no mistério do universo. Se os deuses atingem Édipo sem razão, se o levantam sem razão, a verdade é que é o mesmo homem que sucessivamente e ferido e levantado. Quando Édipo se espanta ao saber por Ismene o oráculo que confere ao seu corpo esse poder salutar, Ismene responde.
"Os deuses te levantam depois de te terem derrubado."
Ismene não formula esta verificação como uma lei. Mas parece que Sófocles quer fazer-nos entrever que no coração do universo não há apenas a dura indiferença dos deuses, há também uma clemência, e o homem — o mesmo homem — pode, no curso da vida, encontrar uma e outra.
De Édipo, diz-nos ele "que levado por um deus ou recolhido no seio benévolo da Terra, está ao abrigo de todo o sofrimento".
A morte de Édipo não é nem a purificação de um culpado nem a justificação de um inocente. Não é outra coisa que a paz após os combates da
vida, que o repouso aonde um qualquer deus nos conduz.
Sófocles sabe, sem que isso o perturbe, que a morte é o único cumprimento possível duma vida humana. O homem nasceu para o sofrimento. (Édipo o diz. "Nasci sofredor.") Viver é arriscar o sofrimento. Mas esta mesma natureza temporal que nos expõe ao sofrimento é também a que cumpre a nossa libertação. Édipo reza às deusas do bosque sagrado:
"Concedei-me agora este termo da minha vida. Concedei à minha existência este desenlace, se dele vos não pareço indigno, eu que, durante a minha vida inteira, mais do que nenhum outro, fui sujeito à desgraça."
Édipo fala como um bom servidor que cumpriu bem a sua tarefa de ser sofredor. Reclama o seu salário: a paz da morte. [301]
Sófocles nada mais parece pedir à morte que esta paz, que é a fonte escondida da vida. Nenhuma imortalidade pessoal lhe parece necessária. Simplesmente, não fala dela. O sentido que dá à morte de Édipo parece-lhe suficiente, uma vez que os deuses querem que seja assim. Uma vez mais, somos reconduzidos ao rochedo da fé de Sófocles: admitir o que é.
No entanto, aqui somos voltados pelo poeta para uma outra face do Ser Se os deuses são assaz pérfidos, ou assaz indiferentes à vida, à felicidade humana, para deixarem que um deles monte a armadilha abominável que constitui a vida de Édipo, a sua volúvel indiferença compreende também, nas suas inumeráveis opções, a bondade. Mudaram de humor como uma mulher muda de vestido. Após o vestido cor de sangue e incêndio, o vestido cor do tempo.
Menos trágica talvez, esta cor é mais humana: e depois, nós somos homens, o que faz que o drama inteiro nos prenda e nos retenha por uma fibra mais terna. O céu mudou. Ganhou — por uma vez — rosto humano. Daí que no drama surjam tantos momentos tranquilos, calmas conversas, presenças amigas, atenta serenidade. E a viva beleza dos cavalos e das árvores. E as aves que cantam e que voam. E os pombos torcazes que arrulham. E essa longa, longa vida de Édipo (e de Sófocles) que, apesar de tudo, fluiu dia após dia, respirou como se bebe quando se tem sede.
Em Rei Édipo toda a mostra de amizade, toda a intenção de tranquilizar, carregadas de ironia, tinham um sentido mortal. Em Édipo em Colono, a lenta preparação da morte de Édipo é, por momentos, tão cheia de amigável bondade que, juntando-se por acaso à bondade divina, estas atenções humanas dão finalmente ao conjunto do drama, que é o drama da morte de Édipo, um sentido de vida.
Este sentido de vida está presente ao longo da tragédia. Corre por ela sem cessar, como esse fio vermelho tecido na brancura das velas da marinha inglesa, que, em caso de naufrágio, permitia descobrir a origem dos destroços. Assim todo este drama de morte tem constante e precioso valor de vida. Mas esse sentido culmina na última cena pelo dom insigne que os deuses concedem aos despojos de Édipo.
Édipo foi escolhido pelos deuses para tomar-se após a sua morte uma imagem exemplar da vida humana, infeliz e corajosa, uma força de vida que defenderá o solo da Ática para sempre. Tal como foi, assim ficará. Era vingativo, até ao ponto de cuspir, raivoso, a maldição sobre o filho.
Mas este traço convém à sua nova natureza de herói. Um sábio diz dos heróis: "Estes [302] seres superiores são eminentemente potências maléficas: quando ajudam, também prejudicam, e se nos acodem com o seu socorro, fazem-no com a condição de nos trazerem prejuízo."
A imortalidade do herói Édipo não é, de modo algum, a imortalidade da pessoa de Édipo num além longínquo; é, pelo contrário, no próprio lugar onde acabou a sua vida. a duração de um poder excepcional concedido pelos deuses a sua forma mortal, ao seu corpo sepultado, à sua cólera contra os adversários da comunidade ateniense. Édipo já não existe: concluiu a sua existência pessoal e histórica. Contudo, o sangue quente dos seus inimigos, correndo sobre a terra de Colono, virá um dia reaquecer de paixão o seu cadáver gelado. Ele o deseja, o declara no próprio coração do drama. O seu destino pessoal está doravante terminado. O seu túmulo fica em lugares onde se manifesta, sobre o solo do povo ateniense, o poder activo dos deuses.
Se ainda tem existência humana, essa existência é muito menos pessoal que colectiva. Existirá na medida em que Teseu, o seu povo, os seus descendentes, se lembrarem e se servirem dele. A sua existência está, de futuro, estreitamente ligada à da comunidade de que os deuses o fizeram protector.
Este sentido público da morte de Édipo ressalta claramente das últimas instruções que o velho dá às filhas. Insiste para que não assistam à sua morte: apenas Teseu, o chefe do Estado, estará presente e transmitirá aos sucessores o segredo cuja guarda Édipo lhe confiará.
Assim já a morte de Édipo lhe não pertence, nem àquelas a quem amou mais do que ninguém no mundo poderá amar. A sua morte não é uma questão privada: pertence a Atenas e ao seu rei. Esta morte tem, finalmente, um sentido de vida, de vida pública ateniense. Não é o fim da história de Édipo, é um penhor de duração para o povo que o venerará.
Édipo junta-se ao grupo dos heróis que protegem e defendem Atenas e a Grécia.
Heróis consagrados pelo gênio, Homero, Hesíodo, Arquíloco, Safo, Ésquilo. Não tarda que Sófocles tome lugar nesta constelação de presenças que velam pelo povo ateniense.
Os homens conseguem forçar o destino e instalar-se no céu heróico pelo gênio ou pela desgraça. Édipo e Sófocles têm igualmente esse direito.
Tal é a resposta última do grande poeta ateniense a essa pergunta que a lenda de Édipo tinha feito à sua infância e que ele só resolveu no termo adiantado da sua vida — frente às portas da morte, abertas para o acolherem. [303]

Aparentemente a Teogonia parece-nos apenas um mero catalogo de nomeações divinas, mas em uma analise mais profunda de seu conteúdo podemos perceber que todo o relato hesiódico vai muito além de nomeações olímpicas, Hesíodo ao compor a Teogonia expôs genealogicamente as gerações divinas e os mitos cosmogônicos, é importante ressaltar que esta ordenação genealógica, não deve ser entendida como uma ordem cronológica pois no tempo mítico não é presente essa relação de "antes e depois" o mito em si não é cronológico ele é contínuo, o tempo e a temporalidade se subordinam ao exercício dos poderes divinos e a ação e presença das potestades divinas, estabelecer uma relação de anterioridade e posterioridade seria impor um pensamento moderno sobre uma maneira arcaica de ver e entender o mundo.
Podemos dizer que a poesia em Hesíodo é de um todo didático-religioso, numa época anterior a aquisição da escrita, o aedo é o principal detentor do conhecimento e o transmite aos demais pelo canto, mas este conhecimento passado pelo aedo, não o pertence, porém lhe é revelado pelas musas filhas de Memória com Zeus, estas não são apenas divindades que revelam fatos passados, presentes e futuros distantes ao poeta, porém são a própria palavra cantada, o poeta, portanto, tem na essência da palavra o poder de ultrapassar e superar todos os bloqueios e distâncias espaciais e temporais, um poder que só lhe é conferido pela Memória através das palavras cantadas (Musas) ao nomeá-las o aedo não está apenas a descrever atributos, mas está evocando a sua presença para que lhe seja revelado os acontecimentos sem que nada o venha passar despercebido, e para que o seu canto seja agradável para os seus ouvintes, Hesíodo cataloga as musas em nove sendo elas: Clio(Glória), Euterpe (História), Thalia(Festa), Melpomene(Jubilo), Terpsichore(Coreografia), Erato(Amável), Polimenia(Muitos Hinos), Urania(Celeste), Calliope(Bela Voz) os nomes das musas exprimem qualidades próprias relacionadas a poesia oral, assim a poesia em Hesíodo tem uma característica religiosa não apenas por transmitir conceitos míticos de formação e ordenação do cosmos mas por estar totalmente estruturada, sobre a concepção de uma forma de pensar arcaica que acredita não ser a voz nem a habilidade humana do cantor que imprimirá sentido e força, direção e presença ao canto, mas é a própria força e presença das Musas que gera e dirige o canto do aedo, a partir do instante em que Hesíodo evoca as musas, seu canto passa a ter um caráter sagrado pois sem elas, ele nada poderia saber como é citado abaixo:
"Pelas Musas heliconíades comecemos a cantar"(Teogonia,p.103).
Assim a teogonia não apresenta-se somente como um hino enaltecendo e glorificando Zeus, mas também como uma canção que enaltece e personifica a importância da poesia oral e a maneira como esta era concebida pelos gregos tendo sua personificação no mito das musas.
Se em Hesíodo temos uma poesia didático-religiosa, em Homero encontramos uma poesia heróica, trata-se, com efeito, de uma poesia burguesa, destinada a reis e heróis, a homens voltados para as armas e para o mar, os poemas homéricos influenciaram a cultura grega que por sua vez passou essa influência à latina e culminou em todas as culturas ocidentais que derivam da cultura greco-romana. Diferentemente da Teogonia as epopéias Ìliada e Odisséia que são atribuídas a Homero, apresentam-se em um formato in medias res, podemos comparar traços marcantes nas narrativas de Homero e Hesíodo, os poemas atribuídos a estes, aparecem em primeira e segunda pessoa, em Hesíodo observamos uma narrativa mais marcada em primeira pessoa, tanto na Teogonia quanto em sua segunda obra O Trabalho e os Dias onde Hesíodo mostra como se criou e organizou o mundo dos mortais e a condição humana, Hesíodo faz-se presente em sua narração revelando-se de maneira pessoal como podemos ver nos versos abaixo:
"Elas um dia a Hesíodo ensinaram belo canto quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino esta palavra primeiro disseram-me as Deusas Musas olimpíades, virgens de Zeus porta-égide" (Teogonia, p.103);
"Ouve, vê, compreende e com justiça endireita sentenças. Tu! Eu a Perses verdades quero contar."( Os Trabalhos e os dias,v. 10).
Em Homero estas características narrativas podem ser observadas no proêmio da Odisséia e na invocação das musas no catálogo das naus na Ìliada:
"O guerreiro diz-me, musa, ardiloso, que muitíssimo vagou, desde que, de Tróia, a sagrada cidadela pilhou, e de muitos homens viu as cidades e o espírito conheceu e muitas dores ele, no mar, sofreu em seu ânimo, lutando por sua vida e pelo retorno dos companheiros mas nem assim os companheiros salvou como queira, pois eles, pela própria insensatez, pereceram tolos, que os bois do filho de Hipérion, o Sol comeram: logo este lhes tirou o dia do retorno." (Odisséia,I,1-9)
As Musas descendem da união de Zeus com Memória o que coloca a natureza das Musas como decorrência das atribuições de seus genitores; sendo assim as Musas não são apenas memória mas são força e poder provindos de Zeus, Homero por sua vez descreve as Musas apenas como filhas de Zeus porta égide ocultando a origem maternal dessas divindades essa ocultação materna pode ocorrer porque neste momento do relato em que se deseja eternizar os nomes dos combatentes em Tróia o poeta volta-se para as filhas do Deus que detêm o poder e que são o resultado da ação do poder sobre a memória, mas também podemos interpretar esta passagem da seguinte maneira, em uma sociedade patriarcal o papel da mulher não se faz de forma direta principalmente no que diz respeito aos filhos já que estes recebiam apenas o direito a paternidade, visão paterna que é bastante presente nos epítetos atribuídos aos guerreiros como podemos perceber no epíteto do guerreiro Aquiles Pelida, Pelida por ser filho de Peleu; nessa interpretação o mito atribuído somente a paternidade das musas reflete a cultura de uma sociedade patriarcal, as Musas são expressadas de uma forma bastante única tanto nos poemas homéricos quanto nos hinos hesiódicos. Nas obras de Hesíodo este se coloca submisso as Musas isso se confirma na passagem em que Hesíodo afirma que as Musas lhe ordenaram a cantar, nos poemas homéricos não são as Musas que se dirigem ao poeta, mas o poeta que dirigi-se a Musa isso demonstra em Homero uma maior autonomia por parte do aedo, já que este define o objeto a ser cantado e por onde irá iniciar o seu canto, mas mesmo com essa relação de autonomia nos seus poemas Homero reivindica uma origem divina e deixa claro que sem a permissão das Musas o aedo nada poderia saber pois delas provinham os dons do canto e da palavra a chegada de Demódoco ao festim de Alcínoo exemplifica bem isto.
"O arauto reapareceu, conduzindo o bravo aedo a quem a Musa amante havia dado sua parte de bens e de males, pois, privado de vista, dela havia recebido o canto melodioso".(Odisséia, VIII, 62 - 64)
Tanto em Hesíodo quanto Homero podemos perceber que o poeta assume a função de interprete dos Deuses: estes lhe dão o divino dom da palavra e o canto,
Essa relação do aedo com as filhas de Zeus, atribui ao aedo um caráter divino como nos mostra Homero:
"Não há homem sobre a terra que aos aedos não devam estima e respeito; pois eles aprendem da Musa as suas obras, da Musa que estima a raça dos aedos". (Odisséia, VIII, 479 - 481)
As obras homéricas e os hinos hesiódicos são um conjunto de Teofanias a presença e interferência dos Deuses faz-se presente em todos os momentos, retratando assim um aspecto da cultura grega onde cada manifestação da natureza, ou cada acontecimento rotineiro tinha sua devida atribuição divina, o que não poderia ser diferente nas narrativas da época, o sendo assim podemos perceber que o grande mito das Musas nada mais é, que uma forma criada pelo homem grego arcaico para explicar sua imensa capacidade de criar, e expressar os seus sentimentos ver e entender o mundo,as obras homéricas e os hinos hesiódicos são um conjunto de teofanias que representam e apresentam o pensamento de uma sociedade que buscava uma explicação não apenas para sua existência, mas para as razões de existirem.

Entre as criações do povo grego, a tragédia é talvez a mais alta e a mais ousada. Produziu ela algumas obras-primas inigualadas, cujo fundo, enraizado no medo das nossas entranhas, mas também florescendo na esperança do nosso coração, se exprime em uma beleza perfeita e convincente. O nascimento da tragédia, por meados do século V - no limiar da época clássica , está ligado a condições históricas que convirá recordar, embora de maneira breve, se quisermos apreender o sentido da orientação deste gênero novo. Por um lado, a tragédia grega retoma e prossegue o esforço da poesia anterior para por de acordo o mundo divino com a sociedade dos homens, humanizando ainda mais os deuses. Apesar do desmentido que lhe da a realidade quotidiana e a despeito da tradição do mito, a tragédia grega exige com veemência que os deuses sejam justos e façam triunfar a justiça neste mundo. Por outro lado, é também em nome da justiça que o povo dos Atenienses continua a travar uma luta duríssima, no plano da vida politica e no plano da vida social, contra os possidentes que são também os seus dirigentes, para lhes arrancar enfim a plena igualdade de direitos entre cidadãos - aquilo a que chamará regime democrático. É no decurso do ultimo período destas lutas que a tragédia surge. Pisistrato, levado ao poder pela massa dos camponeses mais pobres, é que ajuda o povo na conquista da terra, institui nas festas em honra de Dioniso concursos de tragédia destinados ao prazer e a formação do povo dos cidadãos.
Passava-se isto uma geração antes de Esquilo. Essa tragédia primitiva, ainda pouco dramática, ao que parece, e indecisa entre o riso lascivo dos sátiros e o prazer das lagrimas, encontra em um acontecimento imprevisto a sua escolha, a escolha da gravidade é aceita corajosamente o peso dessa gravidade, que doravante a define: escolhe como seu objeto próprio o encontro do herói e do destino, com os riscos e os ensinamentos que ele implica. Esse acontecimento que deu a tragédia o tom "grave", tom que não era o da poesia ática imediatamente anterior, foi a guerra persa, a guerra de independência que o povo ateniense sustentou por duas vezes contra o invasor persa. O combatente de Maratona e de Salamina, Esquilo, sucede a Anacreonte, espirito conceituoso e poeta de corte.
Esquilo é um combatente, refunda a tragédia, tal como a conhecemos, senhora dos seus meios de expressão. Mas funda-a como um combate. Todo o espetáculo trágico é, com efeito, o espetáculo de um conflito. Um "drama" , dizem os Gregos, uma ação. Um conflito cortado de cantos de angustia, de esperança ou de sabedoria, por vezes de triunfo, mas sempre, é ate nos seus cantos líricos, uma ação que nos deixa ofegantes, porque nela participamos, nós, espectadores, suspensos entre o temor e a esperança, como se se tratasse da nossa própria sorte: o choque de um homem de quatro côvados (de dois metros), diz Aristófanes, de um herói contra um obstáculo dado como intransponível, e que o é, a luta de um campeão que parece ser o campeão do homem, o nosso campeão, contra uma força envolvida de mistério - uma força que quase sempre, com ou sem razão, esmaga o lutador.
Os homens que conduzem esta ação não são "santos", embora ponham o seu recurso em um deus justo. Cometem erros, a paixão perde-os. São arrebatados e violentos. Mas tem, todos eles, algumas grandes virtudes humanas.
Todos, a coragem; alguns o amor da terra, o amor dos homens; muitos, o amor da justiça e a vontade de a fazer triunfar. Todos, ainda, estão possuídos de grandeza.
Não são santos, não são justos: são heróis, isto é, homens que, no ponto mais avançado da humanidade, ilustram, pela sua luta, ilustram em atos, o incrível poder do homem de resistir a adversidade, de transformar o infortúnio em grandeza humana e em alegria - para os outros homens, e antes de mais para os homens do seu povo.
Há neles qualquer coisa que exalta em cada um dos espectadores a quem o poeta se dirige, que exalta ainda em nós o orgulho de ser homem, a vontade e a esperança de o ser cada vez mais, alargando a brecha aberta por estes ousados campeões da nossa espécie no espago murado das nossas servidões.
"A atmosfera trágica", escreve um critico, "existe sempre que eu me identifico com a personagem, sempre que a ação da peça se torna a minha ação, quer dizer, sempre que eu me sinto comprometido na aventura que se joga... Se digo 'eu', é o meu ser inteiro, o meu destino inteiro que entra em jogo".
Contra quem se bate afinal o herói trágico? Bate-se contra os diversos obstáculos com os quais esbarram os homens na sua atividade, os obstáculos que dificultam a livre florescência da sua pessoa. Bate-se para que não se de uma injustiça, para que não se de uma morte, para que o crime seja punido, para que a lei de um tribunal vença o linchamento, para que os inimigos vencidos nos inspirem fratemidade, para que as liberdades dos deuses, se tem de ser incompreensível para nós, não ofenda ao menos a nossa liberdade. Simplifiquemos: o herói trágico bate-se para que o mundo seja melhor ou, se o mundo tem de continuar a ser o que é, para que os homens tenham mais coragem e serenidade para viver nele.
E ainda mais: o herói trágico bate-se com o sentimento paradoxal de que os obstáculos que encontra na sua ação, sendo intransponíveis, tem de ser transpostos, pelo menos se quiser alcançar a sua própria totalidade, realizar essa perigosa vocação de grandeza que traz em si, isto sem ofender o que subsiste ainda no mundo divino de crume (nemesis), sem cometer o erro da desmedida (hybris).
O conflito trágico é pois uma luta travada contra o fatal, cabendo ao herói afirmar e mostrar em ato que o fatal não o é ou não o será sempre. O obstáculo a vencer é posto no seu caminho por uma força desconhecida sobre a qual não tem domínio e a que, desde então, chama divina. O nome mais temível que dá a esta força é o de Destino.
A luta do herói trágico é dura. Por mais dura que seja, e ainda que de antemão pareça condenado o esforço do herói, lança-se nela - e nós, publico ateniense, espectador moderno, estamos com ele. É significativo que este herói condenado pelos deuses não seja humanamente condenado, quer dizer, condenado pela multidão dos homens que assistem ao espetáculo. A grandeza do herói trágico é uma grandeza ferida: quase sempre ele morre. Mas essa morte, em vez de nos desesperar, como esperaríamos, para além do horror que nos inspira, enche-nos de alegria. Assim acontece com a morte de Antígona, de Alcestes, de Hipolito, e de muitos outros. Ao longo do conflito trágico, participamos da luta do herói com um sentimento de admiração e, mais, de estreita fratemidade. Esta participação, esta alegria, só podem significar uma coisa - uma vez que somos homens: e que a luta do herói contém, até na morte-testemunho, uma promessa, a promessa de que a ação do herói contribui para nos libertar do Destino. A não ser assim, o prazer trágico, espetáculo do nosso infortúnio, seria incompreensível.
A tragédia emprega pois a linguagem do mito e esta linguagem não é simbólica. Toda a época dos dois primeiros poetas trágicos, Esquilo e Sófocles, é profundamente religiosa. Crê na verdade dos mitos. Crê que no mundo divino que apresenta ao povo subsistem forças opressivas que parecem votar a vida humana ao aniquilamento. O destino, por exemplo, como disse. Mas em outras lendas é o próprio Zeus, representado como tirano brutal, déspota hostil à humanidade, que desejaria destruir a espécie humana.
Estes mitos, e outros, muito anteriores ao nascimento da tragédia, é dever do poeta interpretá-los e faze-lo em termos de moral humana. Essa é a função social do poeta quando fala, nas Dionísias, ao seu povo de Atenas. Aristófanes, à sua maneira, confirma-o pela voz de dois grandes poetas trágicos, Eurípedes e Esquilo, a quem põe em cena, e que, adversários na sua comedia, se entendem pelo menos na definição do poeta trágico e no objetivo que ele se deve propor. Em que deve ser admirado um poeta?... No fato de tornarmos melhores os homens nas cidades.,, (E a palavra " melhores" significa mais fortes, mais adaptados ao combate da vida.) A tragédia afirma a sua missão educadora.
Na época de Esquilo, o poeta trágico não considera ter o direito de corrigir os mitos, menos ainda reinventá-los à sua vontade. Mas estes mitos são contados com numerosas variantes. Entre essas variantes da tradição popular ou da tradição dos santuários, Esquilo escolhe. Esta escolha tem de ser feita no sentido da justiça, e ele assim o faz. Razão porque o poeta educador do seu povo escolhe as lendas de mais difícil interpretação, aquelas que parecem trazer mais claro desmentido a Justiça divina. São essas, com efeito, que mais o perturbam e que perturbam a consciência do seu povo. São as lendas trágicas, aquelas que fariam desesperar de viver, se o trágico não pudesse ser, no fim de contas, resolvido em justa harmonia.
Mas porque essa exigência, sempre dificilmente satisfeita, de justiça divina? Porque o povo ateniense traz na sua carne as feridas do combate que sustentou, que ainda sustenta pela justiça humana.
Se, como muitos o pensam hoje, a criação poética, a literatura não são outra coisa que o reflexo da realidade social (pode o poeta ignora-lo, mas não é isso que importa), a luta do herói trágico contra o Destino não é mais que a luta, exprimida na linguagem do mito, conduzida pelo povo, do século VII ao século V, para se libertar das violências sociais que o oprimem ainda no momento em que a tragédia nasce, no momento também em que Esquilo é o seu segundo e antético fundador.
É no decurso desta luta secular do povo ateniense pela igualdade politica e pela justiça social que se instala, na festa mais popular de Atenas, a representação dessa outra luta do herói contra o Destino, que constitui o espetáculo trágico.
Na primeira destas lutas, de um lado está o poderio de uma classe nobre ou rica, em todo o caso impiedosa, que possui ao mesmo tempo a terra e o dinheiro e que conduz a miséria o povo dos pequenos camponeses e dos artífices, que ameaça enfim desagregar a própria existência da comunidade. Frente a ela, a poderosa vitalidade de um povo que quer viver, que exige que a justiça seja igual para todos, que o direito seja o novo laço que assegurara a vida de cada homem e a existência da cidade.
A segunda luta, imagem da primeira, e a de um Destino brutal, arbitrário e assassino e de um herói maior que nós, mais forte e mais corajoso que nós, que bate para que haja entre os homens mais justiça e humana bondade, e para ele a gloria.
Há um ponto do espaço e do tempo em que estas lutas paralelas convergem e se reforçam. O momento é o das duas festas primaveris de Dioniso; o lugar o teatro do deus, no flanco da acrópole da cidade. Ai o povo inteiro se reúne para ouvir a voz dos seus poetas, que, ao mesmo tempo que lhe explicam os mitos do passado, considerados historia, o ajudam na luta para continuarem a fazer historia, a longa luta da sua emancipação. O povo sabe que os poetas dizem a verdade: e a sua função própria instrui-lo nela.
No começo do século v - principio da era clássica - a tragédia apresenta-se ao mesmo tempo como uma arte conservadora da ordem social e como uma arte revolucionaria. Uma arte conservadora da ordem social no sentido de que permite a todos os cidadãos da cidade resolver em harmonia, no mundo fictício para onde os conduz, os sofrimentos e os combates da vida quotidiana de cada homem do povo. Conservadora, mas não mistificadora.
Mas este mundo imaginário é a imagem do mundo real. A tragédia só dá a harmonia despertando os sofrimentos e as revoltas que apazigua. Faz mais do que dá-la, no prazer, ao espectador, enquanto o espetáculo dura, promete-a ao devir da comunidade, intensificando em cada homem a recusa de aceitar a injustiça, intensificando a vontade de lutar contra ela. No povo que a escuta com um coração unanime, a tragédia reúne todas as energias de luta que ele traz em si. Neste sentido, a tragédia não é já conservadora, mas ação revolucionária.
Apresentamos alguns exemplos concretos.
Eis a violenta luta de Prometeu Agrilhoado, tragédia de Esquilo, de data desconhecida (entre 460 e 450). Esquilo crê na Justiça divina, crê em um Zeus justo. De uma justiça que é, muitas vezes, obscura. O poeta escreve, em uma tragédia anterior a Prometeu:
"Não é fácil conhecer o desígnio de Zeus. Mas eis que em todos os lugares Ele flameja de súbito no meio das trevas... Os caminhos do pensamento divino seguem para o seu destino por entre espessas sombras que nenhum olhar poderia penetrar".
É preciso que Esquilo explique ao seu povo como, na obscuridade do mito de Prometeu, "flameja de súbito, a justiça de Zeus".
Prometeu é um deus cheio de bondade para com os homens. Muito popular na Ática, e, com Hefesto, o padroeiro dos pequenos artífices, nomeadamente desses oleiros do Cerâmico que faziam em parte a riqueza de Atenas. Não só dera aos homens o fogo, como inventara para eles os ofícios e as artes. Em honra deste deus venerado pelos Atenienses, a cidade celebrava uma festa na qual era disputada uma corrida de estafetas, por grupos, servindo de testemunho um archote.
Ora, é a este "benfeitor dos homens", a este deus "Amigo dos Homens", que Zeus pune pelo beneficio de que ele foi autor. Fá-lo agrilhoar por Hefesto, compadecido mas vigiado pelos servidores de Zeus, Poder e Violência, cuja linguagem cínica corresponde a horrenda figura que tem. O Titã é cravado a uma muralha de rochedos no deserto de Citia, longe das terras habitadas, e assim ficará até que se resigne a reconhecer a "tirania" de Zeus. É esta a cena impressionante que abre a tragédia. Prometeu não pronuncia uma única palavra na presença dos seus carrascos.
Como é isto possível? Sem duvida Esquilo não ignora que, "roubando o fogo", privilegio dos deuses, Prometeu se tornou culpado de uma falta grave. Mas desta falta nasceu para os homens o alivio da sua miséria. Um tal mito enche Esquilo de angustia trágica. Sente amagada a sua fé em um Zeus justo - Zeus, senhor e sustentáculo da ordem do mundo. Mas não foge a nenhuma das dificuldades do assunto que decidiu olhar em frente. E, assim, escreve toda a sua tragédia contra Zeus.
O Amigo dos Homens (o 'Filantropo', como diz Esquilo, inventando uma palavra em que se exprime, na sua novidade verbal, o amor de Prometeu pela humanidade) é pois abandonado à solidão, em um deserto onde não ouvira "voz humana" nem verá "rosto de homem", nunca mais.
Mas estará realmente sozinho? Repudiado pelos deuses, inacessível aos homens, ele está no seio da natureza, de que é filho. Sua mãe chama-se ao mesmo tempo Terra e Justiça. É a esta natureza, em que os Gregos sempre sentiram a presença escondida de uma vida poderosa, que Prometeu se dirige, em um canto lírico em uma poesia esplendorosa e intraduzível. Ele diz:
"Espaços celestes, rápida corrida dos ventos, Fontes dos rios, riso inumerável, Das vagas marinhas, Terra, mãe comum, Eu vos invoco, invoco a Roda do Sol, Olhar do mundo, apelo para que vejam O que sofro dos deuses - eu, deus...".
Mais adiante, diz a razão do seu suplicio:
"Se, misero, estou ligado a este jugo de necessidade, Foi porque aos mortais fiz o dom mais precioso. Na haste oca do nartecio Escondi o produto da minha caçada, A fonte do Fogo, a Centelha, O Fogo que para os homens se revelou Senhor de todas as artes, Estrada sem fim...".
Neste momento, ergue-se uma musica: a natureza invocada responde ao apelo de Prometeu. É como se o céu se pusesse a cantar. O Titã vê aproximar-se pelos ares o coro das doze filhas do Oceano. Do fundo das aguas, ouviram o lamento de Prometeu e vem compadecer-se da sua miséria. Abre-se um dialogo entre a piedade e a raiva. As Oceanidas trazem as suas lagrimas e os seus tímidos conselhos de submissão à lei do mais forte. Prometeu recusa submeter-se à injustiça. Revela outras iniquidades do senhor do mundo. Zeus, que fora ajudado pelo Titã na luta para conquistar o trono do céu, só ingratidão manifestou a Prometeu. Quanto aos mortais, Zeus pensava exterminar-lhes a raça, "para fabricar uma outra, nova", se o Amigo dos Homens não se tivesse oposto ao projeto. E o amor que manifesta para com o povo mortal que hoje lhe vale o suplicio. Prometeu sabia-o: conhecendo as consequências, aceitando de antemão o castigo, deliberou cometer a falta.
Contudo, nesta tragédia que parece, pelo seu terra e pelo seu herói preso ao rochedo, inteiramente votada ao patético, Esquilo achou maneira de introduzir uma ação, um elemento dramático: deu a Prometeu uma arma contra Zeus. Esta arma é um segredo que ele recebeu de sua mãe, e esse segredo interessa à segurança do senhor do mundo. Prometeu só entregara o segredo em troca da promessa da sua libertação. Entregá-lo-á ou não? Zeus obrigá-lo-á a isso ou não? Tal é o nó da ação dramática. Como, por outro lado, Zeus não pôde aparecer em cena, o que diminuiria a sua grandeza, o combate de Prometeu contra ele trava-se através dos espaços celestes. Do alto do céu, Zeus ouve as ameaças de Prometeu contra o seu poder: treme. As ameaças tornam-se mais claras com algumas palavras que Prometeu deixa voluntariamente escapar, aflorando o seu segredo. Ira Zeus desferir o raio? Ao longo de todo o drama, a sua presença é-nos sensível. Por outro lado, passam diante do rochedo de Prometeu personagens que mantem com Zeus relações de amizade, de ódio ou de servilidade e que, depois dos lacaios Força e Poder do começo, acabam de no-lo dar a conhecer na sua perfídia e na sua crueldade.
No centro da tragédia, em uma cena capital já conhecida do leitor desta, cena que precisa e alarga o alcance do conflito, Prometeu enumera invenções de que fez beneficiar os homens. Não é Já aqui, como o era no mito primitivo que o poeta herdou, apenas o roubador do fogo, e o gênio criador da civilização nascente, confunde-se com o próprio gênio do homem ao inventar as ciências e as artes, ao ampliar o seu domínio sobre o mundo. O conflito Zeus-Prometeu toma um sentido novo: significa a luta do homem contra as forças naturais que ameaçam esmagá-lo. Conhecem-se essas conquistas da civilização primitiva: as casas, a domesticação dos animais, o trabalho dos metais, a astronomia, as matemáticas, a escrita, a medicina.
Prometeu revelou ao homem o seu próprio gênio.
Ainda aqui a peça é escrita contra Zeus: os homens - por eles entendo sempre os espectadores, que e missão do poeta educar - não podem renegar o benfeitor e dar razão a Zeus, sem renegar a sua própria humanidade. A simpatia do poeta pelo Titã não cede. O orgulho de Prometeu por ter levantado o homem da ignorância das leis do mundo ao conhecimento delas e a razão, é partilhado por Esquilo. Sente-se orgulhoso por ser da raça dos homens e, pelo poder da poesia, comunica-nos esse sentimento.
Entre as figuras que desfilam diante do rochedo de Prometeu, escolherei apenas a da infeliz lo, imagem cruel e tocante. Seduzida por capricho amoroso do senhor do céu, depois covardemente abandonada e entregue ao suplicio mais atroz, Io delirante é a vitima exemplar do amor de Zeus, como Prometeu era a vitima do seu ódio. O espetáculo do sofrimento imerecido de lo, em vez de levar Prometeu a temer a cólera de Zeus, só serve para exasperar a sua raiva.
É então que, brandindo mais abertamente como uma arma o segredo de que é senhor e atacando Zeus, lança o seu desafio através do espago:
"A vez de Zeus chegará!
Orgulhoso como é hoje,
Um dia se tornara humilde.
A união que se prepara para celebrar
O deitara abaixo do trono
E o fará desaparecer do mundo.
A maldição de que Crono, seu pai,
O amaldiçoou, no dia em que foi expulso
Da antiga realeza do ceu...
So eu sei o seu futuro, só eu posso ainda conjura-lo.
Que se recoste por agora no seu trono,
Confiante no estrondo do trovão,
Brandindo na mão o dardo de fogo.
Nada o impedira de cair de vergonhosa queda,
Tão poderoso será o adversário que ele se prepara para engendrar,
Ele contra si mesmo,
Gigante invencível, Inventor de um raio mais poderoso que o seu E
de um fragor que cobrirá o do seu trovão...
No dia em que a desgraça o atingir,
Saberá então qual a distancia
Que separa a realeza da escravatura."
Mas Prometeu só descobriu uma parte do seu jogo. O nome da mulher perigosa para Zeus (e Zeus não costuma privar-se de seduzir os mortais), guarda-o ele para si.
O golpe de Prometeu atinge o alvo. Zeus tem medo e riposta. Envia o seu mensageiro, Hermes, a intimar Prometeu que lhe de o nome. Se o não fizer, piores castigos o esperam. O Titã troça de Hermes, chama-lhe macaco e lacaio, recusa entregar o seu segredo. Hermes anuncia-lhe então a sentença de Zeus. Prometeu espera com altivez a catástrofe que irá traga-lo no desastre do universo.
Então o mundo começa a vacilar, e Prometeu responde:
"Eis finalmente os atos, não já palavras.
A terra dança debaixo dos meus pés.
O fogo subterrâneo uiva nas profundidades.
Em sulcos abrasados cai o raio deslumbrante.
Um ciclone levanta a poeira em turbilhoes.
O furor dos ventos divididos lança-os uns contra os outros.
O céu e o mar confundem-se.
Eis o cataclismo que Zeus,
Para me amedrontar, lança contra mim!
O Majestade de minha mãe,
E vos, espaços celestes, que rolais em volta do mundo
A luz, tesouro comum de todos os seres,
Vede as iniquidades que Prometeu suporta".
Prometeu está derrubado, mas não vencido. Amamo-lo ate ao fim, não só pelo amor que nos manifesta, mas pela resistência que opõe a Zeus.
A religião de Esquilo não é uma piedade feita de hábitos passivamente aceitos: não é naturalmente submissa. A condição miserável do homem revolta o poeta crente contra a injustiça dos deuses. O infortúnio da humanidade primitiva torna-lhe plausível que Zeus, que o permitiu, tenha concebido o pensamento de aniquilar a espécie humana. Sentimentos de revolta e de ódio contra as leis da vida existem em toda a personalidade forte. Esquilo liberta magnificamente estes sentimentos, em deslumbrante poesia, na pessoa de Prometeu com a sua própria revolta contra a vida.
Mas a revolta é apenas um instante do pensamento de Esquilo. Uma outra exigência, igualmente imperiosa, existe nele, uma necessidade de ordem e de harmonia. Esquilo sentiu o mundo não como um jogo de forças anárquicas, mas como uma ordem que compete ao homem, ajudado pelos deuses, compreender e regular.
Por isso, depois da peça da revolta, Esquilo escreveu para o mesmo espetáculo a peça da reconciliação, o Prometeu Libertado. O Prometeu Agrilhoado fazia parte, com efeito, daquilo a que os Gregos chamavam trilogia ligada, isto é, um conjunto de três tragédias ligadas por uma unidade de pensamento e de composição. As duas outras peças da trilogia perderam-se. Sabemos apenas que ao Prometeu Agrilhoado se sucedia imediatamente o Prometeu Libertado. (Da terceira parte, que abria ou acabava a trilogia, nada sabemos de seguro.) Acerca do Prometeu Libertado possuímos algumas informações indiretas. Temos também alguns fragmentos isolados.
O suficiente para admitir que Zeus aceitava renunciar ao capricho pela mulher cujo nome Prometeu possuía. Fazia este ato de renuncia para não lançar o mundo em novas desordens. Tornava-se por isso digno de continuar a ser senhor e guardião do universo.
Desta primeira vitória, alcançada sobre si próprio, resultava uma outra: Zeus renunciava à sua cólera contra Prometeu, dando assim satisfação a Justiça. Prometeu fazia, por seu lado, ato de submissão e, arrependendo-se sem duvida da parte de erro e de orgulho que havia na sua revolta, inclinava-se perante o senhor dos deuses, agora digno de o ser. Assim, os dois adversários, vencendo-se a si próprios interiormente, consentiam em uma limitação das suas paixões anárquicas, com vista a servir um objetivo supremo, a ordem do mundo.
O intervalo de trinta séculos que separava a ação das duas tragédias em questão tornava mais verosímil este devir do divino.
Por outros termos: as forças misteriosas que Esquilo admite presidirem ao destino, a evolução do mundo - forças, na origem, puramente arbitrárias e fatais - acedem lentamente ao plano moral. O deus supremo do universo, tal como o poeta o concebe através dos milênios que o precederam, é um ser em devir. O seu devir, exatamente como o das sociedades humanas, de que esta imagem da divindade procede, é a Justiça.
*
A Orestia de Esquilo, trilogia ligada que conservamos integralmente, representada nas Dionisias de 458, constitui a última tentativa do poeta para por de acordo, na sua consciência e perante o seu povo, o Destino e a Justiça divina.
A primeira das três tragédias de Orestia e Agamemnon, cujo assunto é o assassínio de Agamemnon por Clitemnestra, sua mulher, no seu regresso vitorioso de Troia. A segunda intitula-se Coeforas, o que quer dizer Portadoras de oferendas. Mostra como Orestes, filho de Agamemnon, vinga a morte do pai em Clitemnestra, sua própria mãe, que ele mata, expondo-se assim, por sua vez, ao castigo dos deuses. Na terceira, Eumenides, vê-se Orestes perseguido por Erinias, que são as divindades da vingança, levado a um tribunal de juízes atenienses - tribunal fundado nessa ocasião e presidido por Atena em pessoa - e finalmente absolvido, reconciliado com os homens e com os deuses. As próprias Erinias se tornam divindades benéficas, e é isso mesmo que significa o seu novo nome de Eumenides.
A primeira tragédia é a do assassínio; a segunda, da vingança; a terceira, do julgamento e do perdão. O conjunto da trilogia manifesta a ação divina exercendo-se no seio de uma família de reis criminosos, os Atridas. E, no entanto, este destino não é mais que obra dos próprios homens; não existiria, ou não teria força, se os homens o não alimentassem com os seus próprios erros, com os seus próprios crimes, que se vão engendrando uns aos outros. Este destino exerce-se com rigor, mas encontra fim e apaziguamento no julgamento de Orestes, na reconciliação do último dos Átridas com a Justiça e a Bondade divinas.
Tal é o sentido geral da obra, tal é a sua beleza, tal é a sua promessa. Por mais temível que seja, a Justiça divina deixa ao homem uma saída, uma parte de liberdade que lhe permite, guiado por divindades benévolas, Apolo e Atena, encontrar o caminho da salvação. É o que acontece a Orestes, através duma dura provação, a morte de sua mãe, e a provação terrível da loucura em que se afunda durante algum tempo: Orestes é, no entanto, salvo. A Oréstia é um ato de fé na bondade duma divindade severa, bondade difícil de conquistar, mas bondade que não falta.
Leiamos de mais perto, para tentarmos apreender essa força do destino, primeiro concebida como inumana, depois convertida em Justiça, para tentarmos também entrever a extraordinária beleza da obra.
A ação da Oréstia liga-se e desenvolve-se sempre, ao mesmo tempo, no plano das paixões humanas e no plano divino. Parece mesmo, por instantes mas trata-se apenas de aparência), que a estória de Agamémnon e de Clitemnestra poderia ser contada como a estória de um marido e de uma mulher quaisquer, que têm sólidas razões para se detestarem, tão sólidas, em Clitemnestra, que a levam ao crime. Este aspecto brutalmente humano é acentuado pelo poeta com uma crueza realista.
Clitemnestra é desenhada como uma terrível figura do ódio conjugal. Esta mulher nunca esqueceu, e é natural que não tenha podido esquecer, durante os dez anos de ausência do marido, que Agamémnon, ao partir para Tróia, não temeu — para garantir o êxito dessa guerra absurda que não tinha outro fim senão restituir a Menelau uma bela adúltera — degolar, à fé de um oráculo, sua filha Ifigênia. Clitemnestra ruminou, durante esses dez anos, o seu rancor, à espera da hora saborosa da vingança. "Pronto a levantar-se um dia, terrível, um intendente pérfido guarda a casa: é o Ódio que não esquece, a mãe que quer vingar o seu filho." Assim a descreve o coro no princípio do Agamémnon.
Mas Clitemnestra tem outras razões para odiar e matar, que vai buscar aos seus próprios erros. Na ausência do marido, instalou no leito real "um leão, mas um leão covarde" que, enquanto os soldados se batem, fica em casa, "à espera, espojado no leito, que do combate volte o senhor".
Clitemnestra, com efeito, tomou por amante Egisto, desprezível e brutal, que se embusca com ela, espiando o regresso do vencedor. Serão dois a feri-lo. A rainha ama com paixão este poltrão insolente a quem domina: proclamá-lo-á depois do crime, impudicamente, gloriosamente, frente ao coro. Egisto é a sua desforra: Agamémnon, "diante de Ilion, deliciava-se com as Criseidas", e agora fez-lhe a afronta de trazer para o lar e recomendar aos seus cuidados a bela cativa que ele prefere, Cassandra, filha de Príamo, Cassandra, a profetisa — ofensa que exacerba ainda mais o velho ódio da rainha e leva ao extremo a sua vontade de matar o rei. A morte de Cassandra "avivará a volúpia da sua vingança".
Clitemnestra é uma mulher de cabeça, "uma mulher com vontade de homem", diz o poeta. Montou uma armadilha engenhosa e joga um jogo infernal. Para ser avisada sem demora do regresso do marido, instalou, de Tróia a Micenas, através das ilhas do Egeu e nas costas da Grécia, uma cadeia de sinais luminosos que, em uma só noite, lhe transmitirá a notícia da tomada de ílion. Assim, preparada para os acontecimentos, apresenta-se, perante o coro dos principais da cidade, como esposa amante e fiel, cheia de alegria por ver voltar o marido. Desembarcado Agamémnon, repete diante do rei e diante do povo a mesma comédia hipócrita e convida o esposo a entrar no palácio onde o espera o banho da hospitalidade — essa banheira onde o assassinará, desarmado, ao sair dela, com os braços embaraçados no lençol que lhe entrega. "Banho de astúcia e de sangue", em que ela o mata a golpes de machado.
Eis o drama, humano, da morte de Agamémnon — visto deste lado conjugal. Este drama é atroz: revela na alma roída pelo ódio de Clitemnestra, sob a máscara dificilmente sustentada, horríveis negridões. Executado o crime, a máscara cairá: a rainha defenderá o seu ato sem corar, justificá-lo-á, glorificar-se-á dele com um triunfal encarniçamento.
No entanto, este drama de paixões humanas, de paixões baixamente humanas, enraíza-se, na pessoa de Agamémnon, que é nele o herói trágico, num outro drama de mais vasta envergadura, um drama onde os deuses estão presentes. Se o ódio de Clitemnestra é perigoso para Agamémnon, é apenas porque, no seio do mundo divino, e de há muito tempo, nasceu e cresceu uma pesada ameaça contra a grandeza e contra a vida do rei.
Existe nos deuses, e porque os deuses são o que são, isto é, justos, um destino de Agamémnon. Como se constituiu essa ameaça? Que destino é esse, esse peso de fatalidade que acabará por esmagar um rei que procura grandeza para si próprio e para o seu povo? Não é fácil compreender logo de entrada a justiça dos deuses de Esquilo. No entanto este destino não é mais que a soma das faltas cometidas na família dos Átridas de que Agamémnon é descendente, faltas ancestrais a que vêm juntar-se as da sua própria vida. O destino é o conjunto das faltas que exigem reparação e que se voltam contra Agamémnon para o ferir.
Agamémnon é descendente de uma raça adúltera e fratricida. É filho desse Atreu que, tendo convidado seu irmão para um repasto de paz, lhe deu a comer os membros dos filhos, que degolara. Agamémnon traz o peso desses crimes execráveis e de outros ainda. Porquê? Porque, para Ésquilo, é lei dura mas certa da vida que nenhum de nós está sozinho no mundo, na sua responsabilidade intacta, que existem faltas de que somos solidários como parte de uma linhagem ou de uma comunidade. Ésquilo, embora o exprima diferentemente, tem a profunda intuição de que somos cúmplices das faltas de outrem, porque a nossa alma as não repeliu com vigor. Ésquilo tem a coragem de olhar de frente essa velha crença, mas também velha lei da vida, que quer que os erros dos pais caiam sobre os filhos e constituam para eles um destino.
No entanto, toda a sua peça diz também que este destino herdado não poderia ferir Agamémnon; só o fere porque Agamémnon cometeu, ele próprio, as mais graves faltas. É, enfim, a sua própria vida de erros e de crimes que abre caminho a esse aspecto vingador do divino que espreitava nele o descendente dos Atridas.
Em mais de uma circunstância, com efeito — os coros da primeira parte do Agamémnon o recordam em cantos esplêndidos — , os deuses permitiram a Agamémnon, submetendo-o a uma tentação, escapar à influência do destino, salvar a sua existência e a sua alma recusando-se a fazer o mal. Mas Agamémnon sucumbiu. De cada uma das suas quedas, saiu mais diminuída a sua liberdade em relação ao destino.
O seu erro mais grave é o sacrifício de Ifigênia. O oráculo que o prescrevia era uma prova em que o amor paterno do rei deveria ter triunfado da sua ambição ou do seu dever de general. Tanto mais que este dever era um falso dever, uma vez que Agamémnon empenhara o seu povo numa guerra sem justiça, uma guerra em que os homens iam para a morte por causa de uma mulher adúltera. Assim os erros se engendram uns aos outros na vida difícil de Agamémnon. Quando os deuses decidem recusar à frota o caminho de Tróia se ele não verter o sangue de sua filha, abrem no seu coração um doloroso debate.
Agamémnon tem de escolher e é preciso que escolha claramente o bem no fundo da sua alma já escurecida pelas faltas anteriores. Ao escolher o sacrifício de Ifigênia, Agamémnon entrega-se ao destino.
Eis como a poesia de Ésquilo apresenta este debate:
Outrora, o mais velho dos chefes da frota aqueia,
Próximo das águas de Aulis, brancas de remoinhos,
Quando as velas ferradas, os paióis vazios
Fizeram murmurar o rumor dos soldados,
Rei dócil ao adivinho, dócil aos golpes da sorte,
Ele mesmo, Agamémnon, se fez cúmplice do destino.
Os ventos sopravam do Entrímnis.
Ventos contrários, de fome e de ruína,
Ventos de equipagens debandadas,
Ventos de cabos apodrecidos e de avarias,
E o tempo dobrando a sua ação.
Cardava a flor dos Argivos.
E quando, mascarando-se sob o nome de Ártemis,
O sacerdote revelou o único remédio,
Cura mais amarga que a tempestade e o naufrágio,
De tal modo que o bastão dos Atridas batia o solo
E as lágrimas corriam dos olhos deles,
Então o mais velho dos reis disse em voz alta:
"A sorte esmaga-me se eu desobedeço.
Esmaga-me se eu sacrificar a minha filha,
Se eu firo e despedaço a alegria da minha casa,
Se eu maculo do sangue de uma adolescente degolada
As minhas mãos de pai junto do altar.
"De um lado e doutro só para mim desgraça.
Rei desertor, terei de abandonar a frota,
Deixar assim os meus companheiros de armas?
Terei de escolher o sacrifício, acalmar os ventos,
Escolher e desejar o sangue vertido,
Desejá-lo com fervor, com furor?...
Não o permitiram os deuses?...
Que assim seja, pois, e que esse sangue nos salve!"
Agora o destino está pousado na sua nuca,
Lentamente nele cravando um pensamento
De impiedade, de impureza, de sacrilégio.
Escolheu o crime e a sua alma mudou de sentido.
E o vento da cega loucura leva-o a tudo ousar,
Leva-o a erguer o punhal
Do sacrifício de sua filha. — Para quê?
Para a conquista de uma mulher,
Para a guerra de represálias,
E para abrir aos seus barcos
O mar.
O sangue de Ifigênia era, aliás, apenas o primeiro sangue de um crime maior. Agamémnon decidira derramar o sangue do seu povo numa guerra injusta. Isto ele o pagará também, e justamente. Ao longo desta guerra sem fim, a cólera popular subia, antecipando-se ao regresso do rei. A dor, o luto do seu povo, mutilado na perda da sua juventude, juntam-se à cólera dos deuses e, com ela, entregam-no ao Destino.
Mais uma vez a poesia de Ésquilo exprime em imagens cintilantes o crime da guerra injusta. (Cito apenas o fim deste coro).
É bem pesada a glória dos reis
Carregada da maldição dos povos.
Pesado o renome que fica a dever ao ódio.
A angústia oprime hoje o meu coração; pressinto
Qualquer golpe tenebroso da Sorte. Porque
Os reis que chacinam os soldados
Fazem recair sobre si o olhar dos deuses.
E o voo das negras Erínias
Plana por sobre as instáveis fortunas
Que não ganharam raizes na justiça.
Não há recurso contra o julgamento do Céu.
O raio de Zeus fere os cumes mais altos.
Uma última vez, no decorrer do drama, os deuses oferecem a Agamémnon a possibilidade de restaurar a sua liberdade prestando-lhes homenagem. É a cena do tapete de púrpura. Nela vemos juntarem-se o drama das paixões humanas e o drama da ação divina. É a terrível Clitemnestra que tem a ideia desta última armadilha. Ela crê na existência e no poder dos deuses, mas tem, em relação a eles, um cálculo sacrílego: tenta metê-los no seu jogo. Prepara ao orgulho do vencedor de Tróia uma tentação, que os deuses permitem. O que para ela é armadilha, é para eles prova, última possibilidade de salvação. Quando o carro do rei pára diante do palácio, Clitemnestra ordena às servas que estendam um tapete de púrpura sobre o solo, que o pé vencedor não deve pisar. Porque esta honra é reservada aos deuses nas procissões onde se transporta a sua imagem. Se Agamémnon se iguala aos deuses, expõe-se aos seus golpes, entrega-se uma vez mais ao destino que o espreita. Vêmo-lo resistir primeiro à tentação, depois sucumbir. Caminha sobre o tapete de púrpura. Clitemnestra triunfa: pensa poder agora ferir impunemente, uma vez que o seu braço passará a ser a arma de que os deuses se servem para ferir. Engana-se: podem os deuses escolher o seu braço, que nem por isso ela será menos criminosa. Só eles têm o direito de ferir, só eles são puros e justos.
As portas do palácio fecham-se atrás do casal inimigo, o machado está pronto.
Agamémnon vai morrer. Não o julguemos. Conhecemos a sua grandeza, e sabemos que ele não era mais que um homem sujeito a errar.
Para fazer ressoar em nós esta morte, digna de piedade, do vencedor de Tróia, Esquilo inventa uma cena de rara força dramática e poética. Em vez de fazer que a morte nos seja contada depois, por um servidor saído do palácio, faz com que a vivamos antes que ela se dê, evocando-a através do delírio de Cassandra, a profetisa ligada a Agamémnon pelos laços da carne apaixonada. Cassandra, até aí calada, no seu carro, insensível à presença daqueles que a rodeiam, é bruscamente presa de um arrebatamento delirante.
Apolo, o deus profeta, está nela: mostra-lhe o assassínio de Agamémnon que se prepara, mostra-lhe a sua própria morte que seguirá a dele. Mas é por fragmentos que o futuro e também o passado sangrento da casa dos Átridas se descobrem na sua visão interior. Tudo isto na presença do coro que troça dela ou renuncia a compreender. Mas o espectador, esse, sabe e compreende... Assim são as estrofes de Cassandra:
Ah! maldita! Eis o que perpetraste.
Preparas a alegria do banho
Ao esposo, com quem te deitas...
Como dizer agora o que se passa?
Ela aproxima-se. A mão
Se levantou para ferir, uma outra mão implora...
Oh! oh!... Oh! oh!... Horror...
O horror aparece, a rede, vejo-a...
Não será ela a rede do Inferno?...
Ah! aí está ela, a verdadeira rede, o engenho...
A cúmplice do leito, a cúmplice do crime...
Acorrei, Erínias insaciáveis, bando maldito!
Vingai o crime, atirai pedras
E gritai e feri...
Ah! ah! Vê, cuidado!
Afasta o touro da vaca.
Ela envolve-o num pano. Fere
Com o corno negro da sua armadilha.
Fere. Ele cai na banheira cheia...
Tem cuidado com o golpe traiçoeiro da cuva assassina.
Aterrorizada Cassandra entra no palácio, onde viu a degolação que a espera no cepo.
Finalmente, as portas abrem-se. Os cadáveres de Agamémnon e de Cassandra são apresentados ao povo de Micenas. Clitemnestra, de machado na mão, o pé sobre a sua vítima, triunfa "como um corvo de morte". Egisto está a seu lado. O ódio criminoso do par adúltero terá a última palavra? O coro dos velhos de Micenas enfrenta, como pode, o júbilo da rainha. Lança-lhe à cara o único nome que a pode perturbar, o nome de seu filho exilado, Orestes — esse filho que, segundo o direito e a religião do tempo, é o vingador designado do pai assassinado.
As Coéforas são o drama da vingança, vingança difícil, perigosa. No centro do drama está Orestes, o filho que deve matar a mãe, porque os deuses o ordenam. Recebeu ordem de Apolo. E, contudo, horrível crime é esse, mergulhar a espada no seio da sua própria mãe, um crime que, entre todos, ofende os deuses e os homens. Este crime ordenado por um deus em nome da justiça, porque o filho deve vingar o pai e porque não existe outro direito que permita castigar Clitemnestra, fora desse direito familiar, esse crime será, também em nome da justiça, perseguido pelas divindades da vingança, as Erínias, que reclamarão a morte de Orestes. Assim a cadeia de crimes e vinganças corre o risco de não ter fim.
Orestes, o herói trágico, é apanhado, e de antemão o sabe, entre duas exigências do divino: matar e ser punido por ter matado. A armadilha parece não ter saída para uma consciência reta, pois é o mundo dos deuses, a que é preciso obedecer, que parece dividido contra si mesmo.
No entanto, Orestes, nesta terrível conjuntura, não está sozinho. Quando, no princípio das Coéforas, chega com Pílades a Micenas, onde não passou a sua juventude, encontra junto do túmulo do pai — que é um montículo erguido no centro da cena — sua irmã mais velha, Electra, que vive à espera do seu regresso há longos anos, apaixonadamente fiel à recordação do pai assassinado, odiando a mãe, tratada por ela e por Egisto como serva — alma solitária que não tem outras confidentes além das servas do palácio, as Coéforas, mas alma que permanece viva porque uma imensa esperança habita nela, a esperança de que Orestes, seu caro irmão, voltará, de que ele matará a mãe abominável e o seu cúmplice, de que ele restaurará a honra da casa.
A cena do reconhecimento do irmão e da irmã diante do túmulo do pai é de uma maravilhosa frescura. Depois das cenas atrozes do Agamémnon, essa tragédia em que o nosso universo lentamente se intoxicava de paixões baixas, a hipocrisia da rainha, as covardias do rei e o ódio que ganhava tudo, e, para terminar cinicamente, se patenteava em júbilo de triunfo, depois dessa tragédia que nos asfixiava, respiramos finalmente, com a alegria do encontro dos dois irmãos, uma lufada de ar puro. O túmulo de Agamémnon está ali. O próprio Agamémnon ali está, cego e mudo na sua tumba. Agamémnon invingado, cuja cólera é preciso acordar, a fim de que Orestes, incapaz ainda de detestar sua mãe, a quem não conhece, se encha do furor do pai, faça reviver em si seu pai, até que possa ir buscar a essa estreita ligação que une o filho ao pai, a essa continuidade do sangue que nele corre, a força de ferir sua mãe.
A cena principal do drama — e a mais bela também, poeticamente — é a longa encantação em que, voltados para o túmulo do rei, sucessivamente o coro, Electra e Orestes procuram juntar-se-lhe no silêncio da tumba, no mundo obscuro onde repousam os mortos, recordá-lo, fazê-lo falar por eles, despertá-lo neles.
Mais adiante vem a cena da morte. Orestes começou por matar Egisto. Aqui, nada de difícil. Uma ratoeira, um animal imundo. Nada mais. Agora Orestes vai ser colocado diante de sua mãe. Até aqui apresentara-se diante dela como um estrangeiro, encarregado de lhe trazer uma mensagem, a da morte de Orestes. E nós vimos em Clitemnestra, após o breve estremecimento da ternura maternal, a horrível alegria que encontra na morte do filho, esse vingador que sempre temeu, o único vingador a temer. No entanto, ainda está desconfiada. Não esquece um sonho terrível que teve na noite anterior, no qual uma serpente que ela alimentava com o seu leite a mordia, e do seu seio fazia correr o sangue com o leite.
Assassinado Egisto, um servo vai bater à porta das mulheres, para anunciar o crime a Clitemnestra. A rainha sai, esbarra com o filho, de espada ensanguentada na mão, e com Pílades... Compreende subitamente, num grito de amor por Egisto. Suplica, implora, descobre ao filho o seio onde ele mamou o leite nutriente. Orestes tem um momento de desfalecimento, parece cambalear perante o horror da coisa impossível, volta-se para o amigo: "Pílades, que farei? Poderei matar minha mãe?" Pílades responde: "E que fazes tu da ordem de Apolo e da tua Lealdade? Mais vale ter contra si todos os homens que os deuses."
Orestes arrasta sua mãe e mata-a.
E de novo, como no fim do Agamémnon, as portas do palácio se abrem e, no lugar onde repousavam Agamémnon e Cassandra, jazem agora Clitemnestra e Egisto: Orestes apresenta os cadáveres ao povo e justifica o seu crime.
Orestes está inocente, uma vez que obedeceu à ordem de um deus. Mas pode alguém assassinar a sua própria mãe e ficar inocente? Através da sua justificação, sentimos subir dentro dele o horror. Grita o seu direito e a justiça da sua causa. O coro procura tranquilizá-lo: "Nada fizeste de mal." Mas a angústia não pára de crescer na sua alma, e é a sua própria razão que começa a vacilar. De súbito, erguem-se diante dele as deusas terríveis, as Erínias, vê-as. Nós não as vemos ainda, são apenas aspectos do seu delírio. E no entanto têm uma assustadora realidade. Que vão elas fazer de Orestes? Não o sabemos. O drama das Coéforas, que se abrira num sopro de juventude, num impulso de libertação, numa corajosa ofensiva contra o sinistro destino dos Atridas, ofensiva conduzida pelo filho, o único filho inocente da raça, esse drama aberto na esperança, acaba mais baixo que o desespero: acaba na loucura.
As Coéforas mostraram o fracasso do esforço humano na luta contra o destino, o fracasso de um homem que, não obstante, obedecia à ordem de um deus, na sua empresa de pôr fim à engrenagem de crime e de vingança que parecem engendrar-se um ao outro, até ao infinito, na raça maldita dos Átridas. Mas a razão deste fracasso é clara. Se o homem não pode já restaurar a sua liberdade, diminuída pelas faltas ancestrais, se não pode, mesmo apoiado na autoridade de Apolo, estendendo as suas mãos para o céu, encontrar os braços dos deuses, é porque o mundo divino aparece ainda aos homens como tragicamente dividido contra si mesmo.
Esquilo, no entanto, crê com toda a sua alma na ordem e na unidade do mundo divino. O que ele mostra no terceiro drama da Oréstia, as Euménides, é como um homem de boa vontade e de fé, tão inocente de intenção quanto um homem o pode ser, pôde, graças a um julgamento a que de antemão se submetia, lavar-se do crime imposto pela fatalidade, reencontrar uma liberdade nova e finalmente reconciliar-se com o mundo divino. Mas foi preciso para tal que, no mesmo movimento, o mundo divino operasse a sua própria reconciliação consigo mesmo, e pudesse surgir doravante ao homem como uma ordem harmoniosa, toda penetrada de justiça e de bondade.
Não entro nos pormenores da ação. A cena principal é a do julgamento de Orestes. Coloca-se ela — por uma audácia rara na história da tragédia – a alguns passos dos espectadores, na Acrópole, diante de um velho templo de Atena. Foi ali que Orestes, perseguido pelas Erínias, que querem a sua cabeça e beber o seu sangue, se refugiou. Ajoelhado, rodeia com os braços a velha estátua de madeira de Atena, outrora caída do céu e que todos os Atenienses conhecem bem. Ora em silêncio, e depois, em voz alta, suplica à deusa. Mas as Erimas seguiram-lhe a pista e cercam-no na sua roda infernal. Assim como diz o poeta, "o odor do sangue humano sorri-lhes".
Entretanto, Atena a jovem Atena, sensata e justa — aparece ao lado da sua estátua. Para decidir da sorte de Orestes, funda um tribunal, e esse tribunal é composto de juizes humanos, de cidadãos atenienses. Vemos aqui o mundo divino aproximar-se dos homens e encamar-se na mais necessária das instituições humanas, o tribunal. Perante este tribunal, as Erínias acusam. Declaram que ao sangue derramado deve forçosamente responder o sangue derramado.
É a lei de talião. Apolo desempenha o papel da defesa. Recorda as circunstâncias atrozes da morte de Agamémnon. Pede a absolvição de Orestes. Os votos dos jurados dividem-se igualmente entre a condenação e a absolvição.
Mas Atena junta o seu sufrágio àqueles que absolvem Orestes. Orestes está salvo.
Doravante, crimes como os que se cometeram na família dos Atridas não relevarão mais da vingança pessoal, mas deste tribunal fundado por uma deusa, onde homens decidirão da sorte dos inocentes e dos culpados, em consciência.
O Destino fez-se Justiça, no sentido mais concreto da palavra.
Finalmente, a última parte da tragédia dá às Erínias, frustradas da vítima que esperavam, uma espécie de compensação que não é outra coisa senão uma modificação da sua natureza íntima. De futuro, as Erínias, agora Eunémides, não serão ávidas e cegas exigidoras de vingança: o seu poder temível é, de súbito, graças à ação de Atena, "polarizado para o bem", como o disse um crítico. Serão uma fonte de bênçãos para aqueles que o mereçam: velarão pelo respeito da santidade das leis do casamento, pela concórdia entre os cidadãos. São elas que preservarão o rapaz de uma morte prematura, que darão à moça o esposo que ela ama.
No fim da Oréstia, o aspecto vingador e fatal do divino penetra-se de benevolência; o Destino, não contente de confundir-se com a Justiça divina, inclina-se para a bondade e torna-se Providência.
Assim a poesia de Ésquilo, sempre corajosa em alimentar a arte dramática com os conflitos mais temíveis que podem opor os homens ao mundo de que fazem parte, vai buscar esta coragem renovada à fé profunda do poeta na existência de uma ordem harmoniosa na qual colaborem enfim os homens e os deuses.
Neste momento histórico em que a cidade de Atenas esboçava uma primeira forma de soberania popular — essa forma de vida em sociedade que, com o tempo, merecerá o nome de democracia — , a poesia de Ésquilo tenta instalar firmemente a justiça no coração do mundo divino. Por aí, exprime o amor do povo de Atenas pela justiça, o seu respeito pelo direito, a sua fé no progresso.
Eis, no fim da Oréstia, Atena rogando pela sua cidade:
Que todas as bênçãos de uma vitória que nada macule
Lhe sejam dadas!
Que os ventos propícios que se levantam da terra, Aqueles que voltejam nos espaços marinhos,
Aqueles também que descem das nuvens como o hálito do sol Regozigem a minha terra!
Que os frutos dos campos e dos rebanhos
Não cessem de abundar em alimento
Para os meus concidadãos!
Que apenas os maus sejam mondados sem piedade!
O meu coração é o de um bom hortelão.
Compraz-me em ver crescer os justos ao abrigo do joio.

Quando meu amor jura que ela é feita da verdade, acredito, sim, no que diz, embora saiba que está mentindo.


A lenda A Bela e o Monstro foi fortemente influenciada pelo mito de Eros e Psique. Ambas são histórias de amor testadas pelo aspeto exterior. Tanto Bela como Psique falharam o primeiro teste. Bela não soube amar o Monstro até ele estar prestes a morrer, enquanto Psique acreditou na história das irmãs de que o marido dela era um monstro assassino. Enquanto Bela é literalmente confrontada com o Monstro, no caso de Psique é só na maginação dela que Eros é o mais desejável dos deuses na forma de um homem. Na lenda, tanto a Bela como o Monstro têm algo a aprender antes de se poderem amar completamente. No mito, Psique é sujeita a numerosas provas, mas não Eros, que consegue estar escondido na casa da mãe enquanto a sua amada sofre. Talvez isto ajude a explicar por que razão Eros é tantas vezes representado como um rapazinho que nunca cresce.

Em uma viagem feita junto com Loki, ao chegarem a uma fazenda onde pararam para comer, Thor matou os bodes da sua carruagem para que tivesse bastante comida para eles e a família pobre que os hospedou. Como sempre fazia, após a refeição impôs seu martelo sobre as peles e ossadas dos bodes que ressuscitaram, porém, um dos bodes tinha ficado manco. Este fato devia-se a um dos meninos que, atiçado por Loki, tinha quebrado um osso para chupar o tutano e aleijou desta forma o bode ao qual pertencia o osso. Thor ficou tão enfurecido ao ver isso, que o camponês em pânico ofereceu seus filhos Thjalji e Roskva para serem seus servos. Os deuses e as crianças seguiram viagem e após algumas peripécias chegaram perto de Utgard, a terra dos gigantes, decidindo pernoitar em uma caverna, devido a um forte terremoto. Thor descobriu depois que o tremor tinha sido causado pelas passadas e o ronco de um gigante chamado Skrjmir, “o grandalhão”, em cuja enorme luva eles passaram a noite pensando que fosse uma gruta.
Skrvmir se ofereceu para acompanhá-los e apesar das tentativas de Thor em esmagá-lo com seu martelo enquanto dormia, ele ficou ileso, achando que as marteladas tinham sido folhas caídas na sua cabeça. Antes de chegarem a Utgard, Skrymir se afastou, não sem antes alertar Thor da existência em Utgard de gigantes maiores e mais fortes do que ele. Ao entrarem no imenso salão da fortaleza eles foram recebidos pelo rei chamado Utgard-Loki, que os submeteu a uma serie de competições: de corrida, apetite e força, em que os visitantes foram derrotados: Thjalfi na corrida, Loki na comida e Thor no teste da força. Primeiramente Loki teve que competir com um gigante, Loge, para ver quem acabava mais rápido os pratos colocados na sua frente, mas apesar de comer apressadamente, Loki perdeu a aposta, o gigante tendo engolido além da carne também as vasilhas que a continham. Thor teve que mostrar sua força no teste da bebida, tendo que esvaziar um enorme chifre, mas depois de três tentativas o nível da bebida tinha descido muito pouco. Depois ele foi intimado para levantar um grande gato cinza, mas com toda sua força proverbial, Thor mal conseguiu levantar uma das suas patas. Finalmente, após Thialfi (renomado pela sua velocidade) perder a corrida com outro menino, Thor teve que lutar com a velha mãe adotiva de Utgard-Loki. Apesar de sua aparência decrépita, Thor não conseguiu derrubá-la, enquanto a velha o forçou a se ajoelhar. Depois desses testes e a humilhação sofrida, os viajantes foram recompensados com várias regalias e uma excelente hospedagem.
No dia seguinte foram acompanhados pelo rei até a saída de Utgard, quando tiveram a revelação dos fatos acontecidos, descobrindo que tinham sido enganados pelo uso da magia, que alterou a aparência dos eventos. Skymir era de fato o próprio Utgard-Loki e as marteladas de Thor tinham sido magicamente direcio nadas para uma colina, onde abriram três grandes fendas na terra. O oponente de Loki era o próprio fogo elemental (personificado pelo deus arcaico Loge), que consumia tudo mais rapidamente do que qualquer deus ou ser humano, portanto era invencível. Na corrida, Thjalfi concorreu com Huginn (pensamento), mais rápido do que qualquer ser humano. A ponta do chifre oferecido a Thor estava presa no fundo do oceano e os goles de Thor baixaram apenas um pouco o nível das marés. O gato era na realidade a própria Serpente do mundo e a proeza de Thor em levantá-la, mesmo um pouco, assustou a todos, que se deram conta da real força do deus. A sua decrépita oponente na luta era Elli (a velhice), que vence mesmo os mais poderosos. Quando Thor enfurecido pelas descobertas e os enganos quis destruir a fortaleza, ela desapareceu misteriosamente e Thor teve que aceitar que o poder da magia era maior do que a sua força física.
Esta longa e detalhada estória parece uma mescla de sátira e alegoria, mas revela a natureza do deus e de seus oponentes. Thor é mais forte que os gigantes e tem poder sobre o universo, mas podia ser anulado pelas espertezas, a magia e as armadilhas. Confirma-se assim que os deuses não detinham um poder ab soluto e eram sujeitos ao destino e às forças do fogo, do oceano, da serpente, da mente e da idade.

PRIMEIRO DIA
Cheguei hoje, finalmente, à ilha de Chipre, onde pretendo me instalar para exercer minha atividade de escultor. Dizem que os ares daqui são revigorantes, e a luminosidade, ideal para os artistas. Dei uma caminhada pelas ruas da cidade, assim que me livrei da arrumação de minhas coisas. As ruas são cheias de caminhos labirínticos, suas casas são baixas e sólidas, e a população é bastante agitada. "Bastante" talvez seja exagero; estando acostumado às minhas criaturas imóveis e silenciosas, não posso deixar de me surpreender quando entro em contato outra vez com seres humanos reais, vivos e inquietos — exatamente como eu, afinal.
SECUNDO DIA
Estou aguardando ainda a chegada do grande bloco de mármore que encomendei em Páros. Apesar de ter tomado esta providência há mais de um mês, calculando que já estaria aqui quando eu chegasse, acho que caí outra vez na conversa dos transportadores.
Ao final deste dia insuportavelmente quente, dei uma passada no porto para saber da entrada de alguma embarcação proveniente da ilha. Nada havia, o que me fez retornar a passo lento sob uma brisa fresca que soprava — felizmente! — vinda do mar.
TERCEIRO DIA
Como são atrevidas as mulheres desta ilha... Não posso deixar de me surpreender com seu comportamento vulgar; a maioria delas não hesita em se insinuar diante de qualquer homem, com propostas francas e ousadas. Não estou acostumado a isto e não posso deixar de achar que as mulheres perdem muito de sua graça quando são muito desinibidas.
Tive a oportunidade de dizer isto, de maneira franca, a uma delas, que riu simplesmente na minha cara, dizendo: "Querido, estamos fartas de ouvir falar tanto em virtude. Falemos um pouco de prazer".
Se não houvesse impedido seu furor, creio que ela teria ido muito mais longe nas suas intenções; acho, porém, que fiz mal, pois em seguida ela me deu as costas, num desdém alegre que provocou o riso de todos — até dos homens, que parecem gostar deste tipo de mulher. Me abstive, no entanto, de revidar as suas chacotas.
QUARTO DIA
Finalmente minha encomenda chegou! Pela manhã fui bem cedinho até o porto, com um forte pressentimento de que meu bloco de mármore estava a caminho. Quando cheguei, indaguei de um velho se estava prevista a chegada de alguma embarcação vinda de Páros.
O velho, sem me olhar no rosto, apenas indicou com seu dedo recurvo o alto-mar. Lá ao longe pude identificar uma grande embarcação que avançava lentamente em nossa direção. Sem outro recurso, sentei-me sobre os degraus amplos do cais enquanto esperava. Uma chuvinha miúda começou a cair quando o navio encostou, bem à minha frente.
A nau, de fato, era proveniente da ilha onde eu fizera minha aquisição; em instantes tive a satisfação de ver descarregar, envolto por uma armação de tábuas, o meu sólido bloco de mármore — tão puro que lembrava o mais fino marfim.
Acompanhei com os carregadores o traslado da pedra até minha casa, feliz em poder retomar minha atividade, pois já andava cansado de tanta ociosidade.
Enfim, hoje mesmo comecei a trabalhar.
QUINTO DIA
Passei o dia inteiro pensando no que faria de meu magnífico bloco de mármore. Vários temas me passaram pela mente, mas afinal terminei optando por fazer uma estátua de mulher — uma mulher de verdade, pensei, diferente de todas as que vejo na rua.
Sem me dar conta de meu paradoxo, continuei decidido a moldar uma mulher tal como eu a prefiro: bela e discreta. Talvez, admito, também com uma pitada muito sutil de malícia, mas muito diferente da malícia óbvia e exaustiva que vejo por aqui.
DÉCIMO DIA
A obra está avançando admiravelmente, ainda que a custo de muita concentração. Durante cinco dias estive entregue à tarefa de dotar a minha estátua de um rosto superior a todos os outros. Não tenho tido tempo nem ânimo para desviar os olhos da minha obra.
Mas, afinal, concluí hoje aquela que para mim é e será sempre a parte mais importante de uma mulher: o seu rosto. Consegui de tal modo colocar nele as particularidades das feições mais belas que conheci, que acabei esculpindo um que não se parece com nenhum outro jamais visto.
Não sei exatamente como explicar; há nele um encanto que combina o ar sonhador oriental com o ar de ponderada reflexão das mulheres mais sábias da minha terra.
Seu semblante, a princípio, parece meio severo, da testa até o nariz. Dali para baixo, no entanto, resplandece uma alegria — comedida e mais interior — que está, julgo, perfeitamente representada no traçado meticuloso dos seus lindos lábios, que não são cheios nem finos, mas bem proporcionados.
Seu rosto tem uma forma ovalada, e seus cabelos compridos, descidos de cada lado de suas feições, são uma moldura perfeita para ele.
Não fosse o rosto de uma estátua, diria que estou apaixonado por ele.
DÉCIMO PRIMEIRO DIA
Depois de dar alguns retoques na cabeça, comecei a esculpir hoje o pescoço e o torso.
Será uma tarefa que exigirá muito tempo, pois esculpir as curvas de seus ombros e modelar os seus seios — que não sei ainda que formato e volume exatos terão — exigirá de mim todo o esforço e o talento de que eu for capaz.
Enquanto esculpia, porém, tive como que uma súbita inspiração. Abandonando o martelo e o formão, exclamei de improviso: "Galatéia!".
Depois repeti várias vezes este nome, e nenhum outro me pareceu mais adequado ao seu porte e sua fisionomia.
DÉCIMO TERCEIRO DIA
Terminei de esculpir o busto. Preferi dar-lhe um volume intermediário entre o grande e o pequeno — talvez puxando um pouco para o grande. As duas estruturas estão inacreditavelmente sólidas e ao mesmo tempo parecem leves e soltas, de tal forma que parecem balançar toda vez que sacudo levemente o pedestal.
Será imaginação minha ou seus seios balançam-se mesmo a um leve toque de meus dedos? Bem ao centro de cada um dos montes coloquei duas pequenas saliências, que acrescentaram ao conjunto um efeito magnífico.
Como poderei, desse jeito, resistir por mais tempo aos seus encantos?
VIGÉSIMO QUINTO DIA
Finalmente concluí minha adorada estátua! Seus pés ficaram perfeitos. Nunca vi joelhos mais simétricos. Sua cintura não tem uma falha. Suas costas têm as linhas mais harmônicas do mundo. Eu a fiz inteiramente nua, mas pretendo logo cobri-la de sedas. Sim, cobrirei sua maravilhosa nudez de sedas e de jóias — as mais caras e belas que puder encontrar!
E vou fazer isto agora mesmo.
VIGÉSIMO SEXTO DIA
Comprei dúzias de vestidos para minha amada Galatéia. Comecei por cobri-la com um longo vestido azul, da cor da noite. Deixei apenas a descoberto a parte frontal do peito, num generoso decote.
Passei o dia, assim, a observá-la e a imaginar, deliciado, o que este longo pano ocultará de meus olhos. Sim, bem sei que minhas mãos a esculpiram inteira, desde os dedos das mãos até o maior dos seus segredos. Mas agora, estranhamente, é como se jamais a tivesse visto de outro jeito. Minha mão, porém, hesita em descobrir um milímetro sequer de seu corpo: tenho medo de que meus dedos queimem em contato com o ardente mármore de sua pele.
Descartei de uma vez a hipótese de loucura. Minha Galatéia é perfeitamente real na sua esplêndida e vivida imobilidade.
VIGÉSIMO SÉTIMO DIA
Hoje cometi algo que poderá parecer uma extravagância: removi minha querida Galatéia de seu pedestal e coloquei-a deitada no meu leito. Tive de me retirar do quarto por alguns instantes. Porém, quando retornei, levei um susto.
"Quem é você e o que faz em meu leito?", lhe perguntei, tão viva ela me pareceu. Aproximando-me, toquei então em sua mão. De seus dedos senti emanar um calor vivido, como se fosse proveniente dos dedos de uma mulher de verdade.
Não tive coragem de tirá-la do seu descanso e fui dormir no chão a alguns passos dela. (Fiquei imaginando o que diriam de mim as pessoas daqui, se vissem esta estranha cena. )
Azar. Eu amo a minha Galatéia — e para mim ela está cada vez mais viva.
VIGÉSIMO OITAVO DIA
Beijei hoje, pela primeira vez, os lábios de Galatéia. Não, eles não são de carne. Quem me dera, entretanto, poder torná-los reais, úmidos e quentes, como os de qualquer outra mulher.
Ou, antes, como os de nenhuma outra mulher.
VIGÉSIMO NONO DIA
Começaram hoje as festividades em honra de Afrodite. Estive em sua procissão e não pude deixar de me maravilhar com a devoção do povo, que acorreu em massa para reverenciar a mais bela das deusas. Durante o culto, enquanto se faziam os sacrifícios, uma idéia me passou pela cabeça, mas a descartei por me parecer absurda demais.
Galatéia, eu a quero viva — viva de verdade! Depois deste dia não posse querer outra coisa. Minha cabeça está em febre. Meus sentidos estão excitados. Acho melhor explicar. Cheguei em casa hoje, quando o sol já surgia no oriente com seu primeiro brilho. Durante a noite inteira estive aproveitando as festividades de Afrodite. Tão logo havia me passado pela cabeça a idéia — que tachei anteriormente de absurda — de fazer um pedido à deusa, vi-me envolvido por um cortejo das mais belas mulheres de Chipre. Sentindo ao meu lado tantos corpos vivos e femininos roçarem suas peles sobre a minha, fui tomado por um desejo natural de me unir a qualquer uma delas.
"Uma mulher de verdade, é disso que eu preciso para me libertar dessa obsessão!", pensei.
Tão logo cheguei em casa, no entanto, fui punido por Galatéia, que hoje, mais do que nunca, me pareceu irremediavelmente de pedra! Seu rosto estava perfeitamente impassível e seus lábios não responderam ao contato dos meus.
A estátua — tenho a certeza — estava enciumada, terrivelmente enciumada. "Mas o que posso fazer, minha querida Galatéia...?", eu disse, tentando me desculpar.
Seu olhar recusava-se a fixar o meu, mesmo quando a olhava firmemente nos olhos. Tomado pelo remorso, abracei-me, de joelhos, à sua cintura. "Nenhuma outra mulher poderá jamais chegar a seus pés!", gritei-lhe, cobrindo-a de beijos.
Depois, mais calmo, resolvi pôr em prática o meu plano. Esta noite irei ao templo de Afrodite novamente.
TRIGÉSIMO DIA
Fiz meu pedido à deusa. Enquanto as pessoas faziam suas preces e queimavam seus incensos, empreguei todo o meu fervor em pedir que desse alma a Galatéia. Quem melhor do que Afrodite, a deusa do amor, para entender o meu desejo secreto?
Estou escrevendo isto num quarto de estalagem, onde passo a noite. Tenho medo — muito medo! — de chegar em casa e ver que meu pedido não foi atendido.
TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA
O dia inteiro vaguei pelas ruas até que, quando a noite já caíra, tomei coragem e decidi enfrentar meu destino. Atravessei o caminho margeado de árvores que levava até minha casa.
Fiquei em pé, parado diante da porta, um longo tempo, até que, tomando coragem, entrei, afinal.
A casa estava às escuras. Meu primeiro olhar foi direto para o pedestal.
Nada havia em cima dele!
Todas as hipóteses passaram como num turbilhão em minha mente, e a pior delas foi esta, que expressei audivelmente:
"Galatéia foi arrebatada de mim!"
Como um louco percorri todos os aposentos da casa, sem me lembrar, no entanto, daquele que era o único, além da sala, onde ela havia estado: o quarto!
Implorando a Afrodite que a encontrasse — ainda que sob a forma de estátua —, rumei em passos vacilantes para lá. Ao entreabrir a porta, tive a maior sensação de alívio que um homem poderia sentir.
Deitada em meu leito, lá estava ela!
Coberta por um fino lençol, pude ver, na obscuridade do quarto, seus cabelos caídos sobre os olhos. Certamente eu a havia deixado assim, como fizera outras tantas vezes. Esquecido já até do pedido, ajoelhei-me aos pés da cama. Galatéia estava imóvel, como sempre estivera.
Feliz por ter ao menos sua imagem para sempre ao meu lado, colei meus lábios aos dela com fervor e paixão. Senti um calor emanar de sua boca, mas deixei por conta de meu desvario.
No entanto, ao descolar minha boca da dela, percebi que a parte inferior do lábio ficara momentaneamente grudada ao meu, como ocorre com os beijos entre seres de carne e osso.
"Não pode ser...!", pensei. Em seguida, com o coração galopando em terrível descompasso puxei a coberta que estava erguida até o seu peito.
Enquanto retirava a coberta, toquei involuntariamente no seu braço, que se afundou suavemente ao contato de meu dedo, retomando em seguida à aparência normal. Sua pele nem de longe lembrava a frieza do mármore.
Galatéia estava viva! Sim, não podia mais haver dúvida alguma.
Tomando sua cabeça em minhas mãos, despertei-a, talvez abruptamente demais. Seus olhos — como não pude perceber que estavam até então cerrados, se nunca antes assim estiveram? — abriram-se lentamente, mostrando um brilho meio assustado.
Pela primeira vez, seus olhos olharam verdadeiramente para os meus, sussurrando o meu nome.
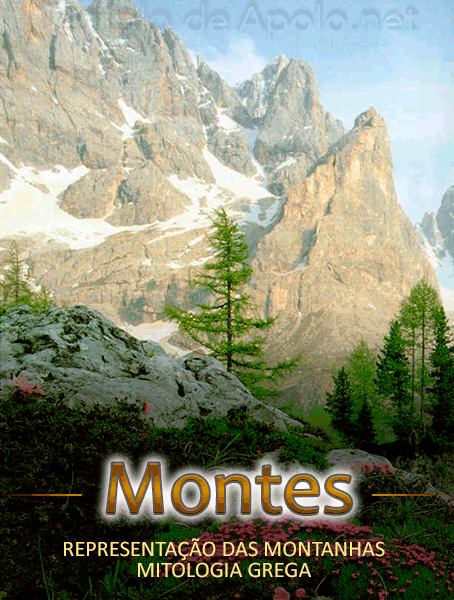

Carl Jung fala das verdades psicológicas do mito, que ele assegura serem universais e necessárias à saúde da psique humana. Segundo ele, necessitamos das estórias dos mitos para que haja sentido na confusão reinante na nossa sociedade e nos nossos espíritos. Os mitos dão voz às verdades do nosso inconsciente, e ele crê que os deuses, deusas e heróis da mitologia corporizam aspetos da criatividade, inteligência, dor, alegria, agressividade e êxtase. Os monstros míticos são na verdade monstros da mente; as tragédias e os triunfos do mito refletem os modos pelos quais parecemos ser sacudidos psicologicamente de um lado para o outro por forças que estão fora do nosso controle. Os seres humanos são criadores de mitos por natureza, sempre curiosos, sempre vivendo psicologicamente fora dos padrões do mito ou sendo ultrapassados por eles. Em termos psicológicos, segundo esta teoria, estamos sempre num ou noutro padrão mítico, e a nossa liberdade de escolha como seres humanos conscientes é a liberdade de dançarem em vez de caminhar aos tropeções ao longo da maior história do mundo - a vida.