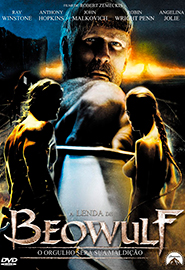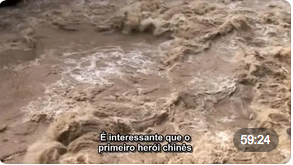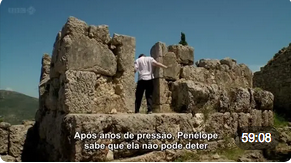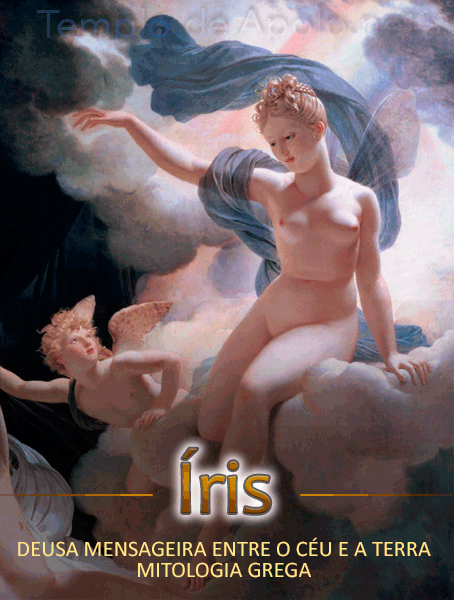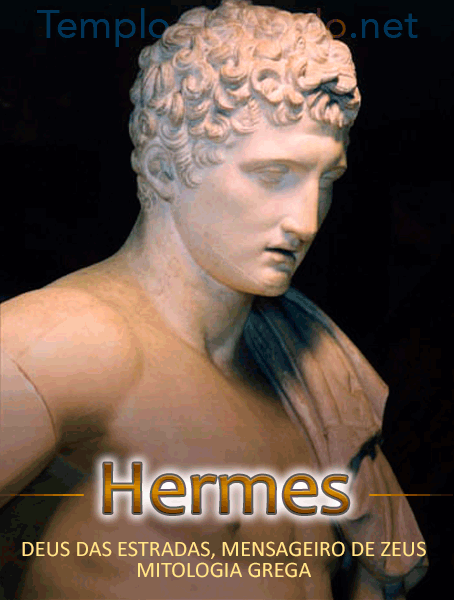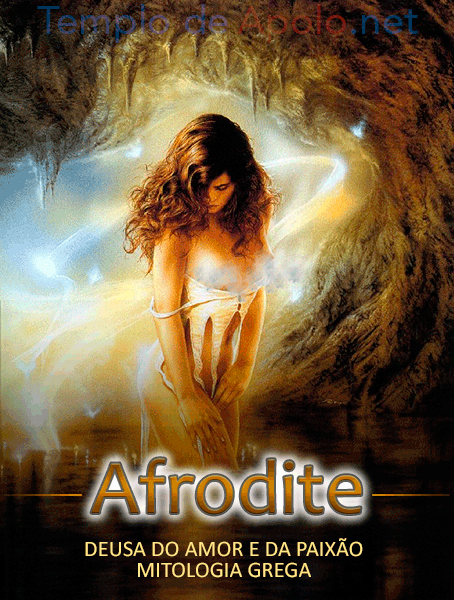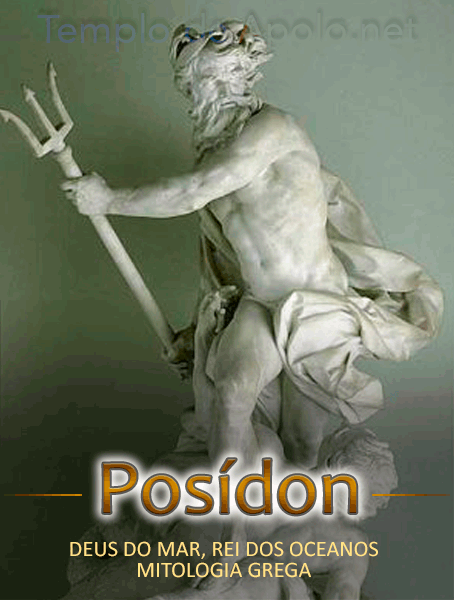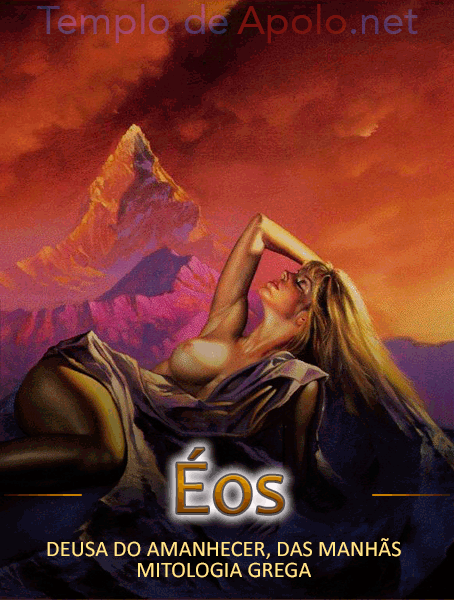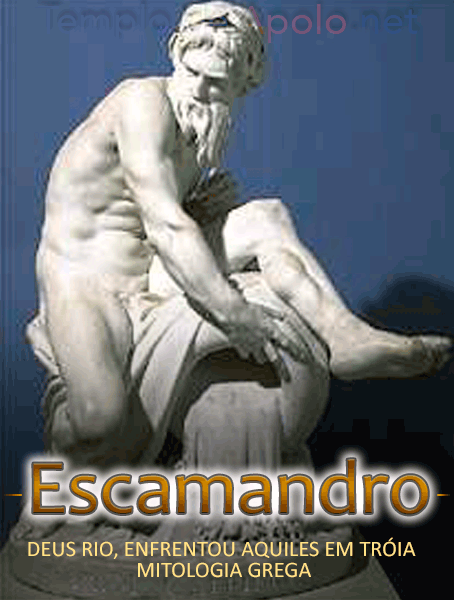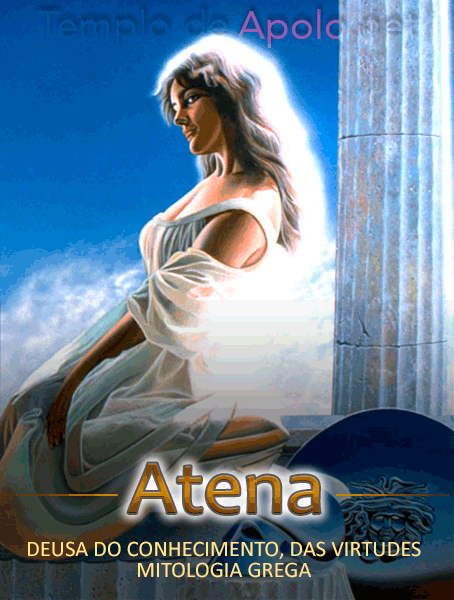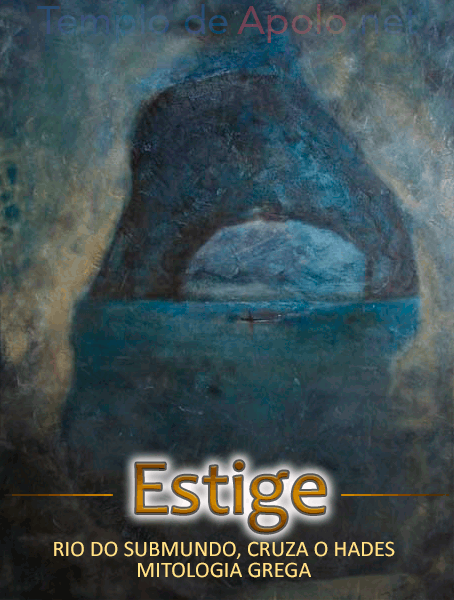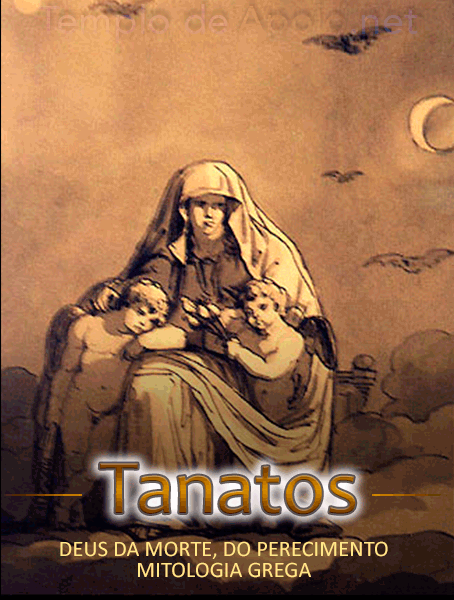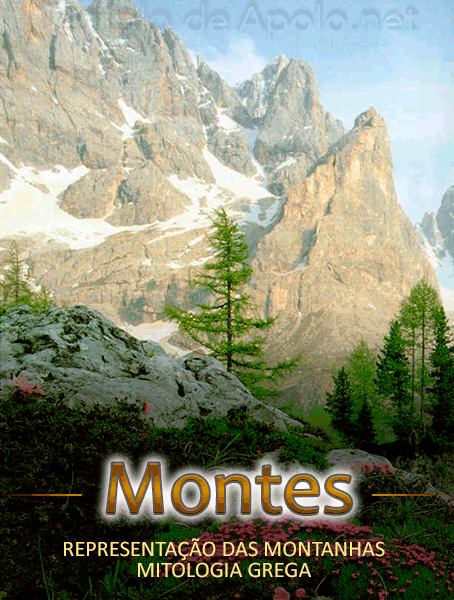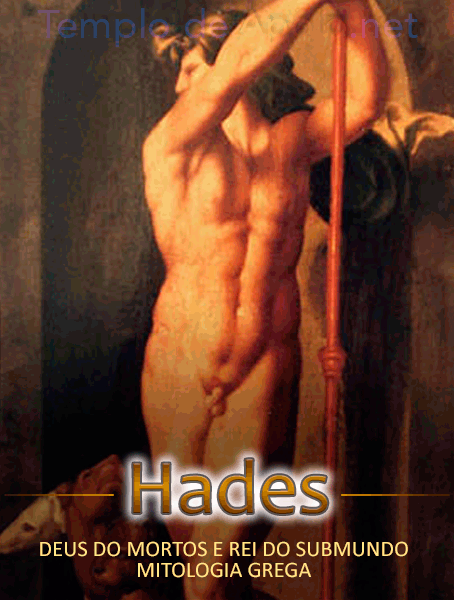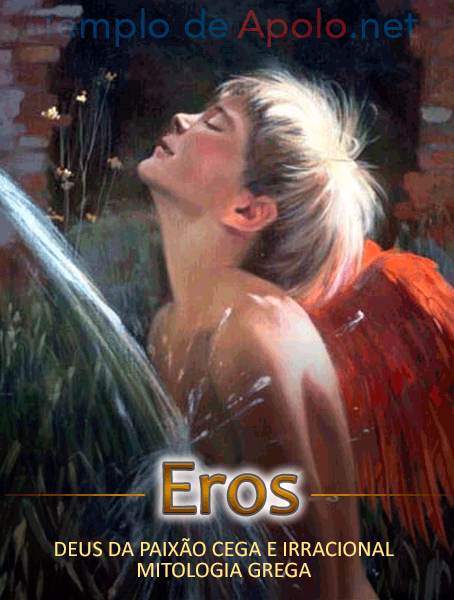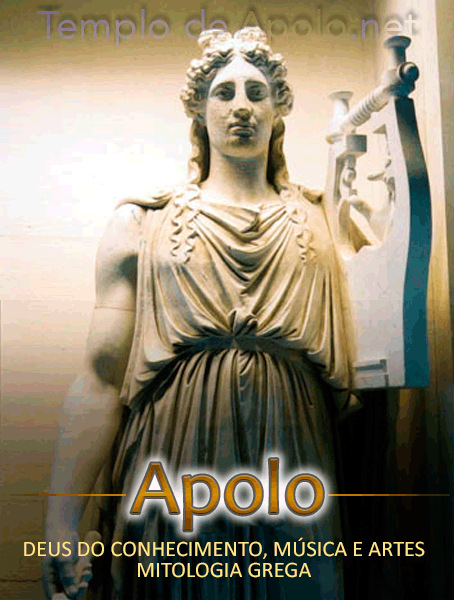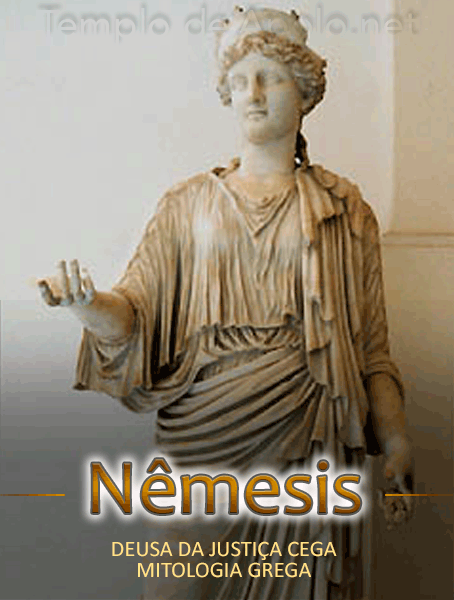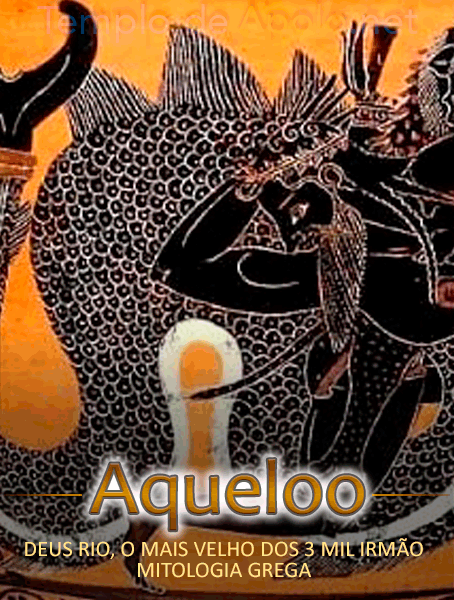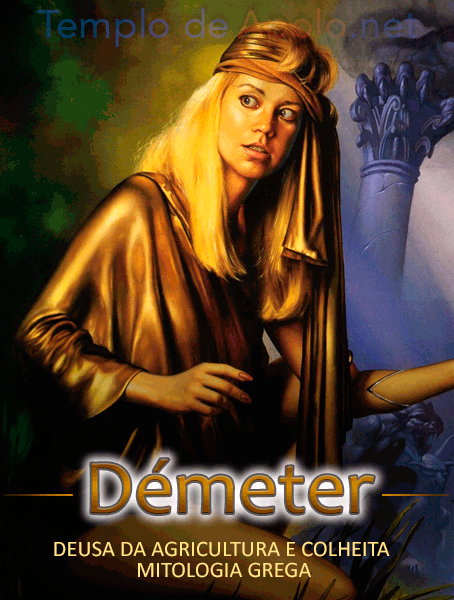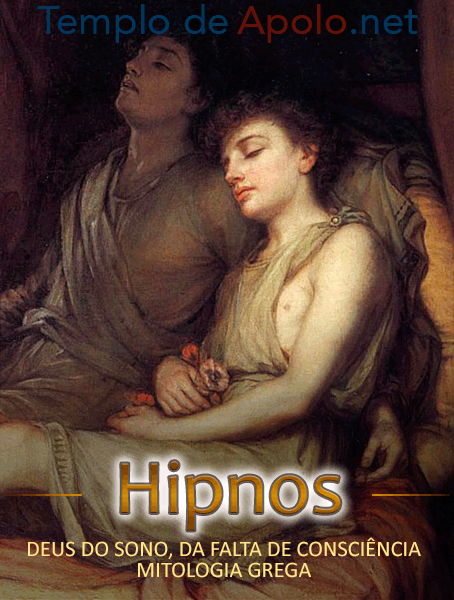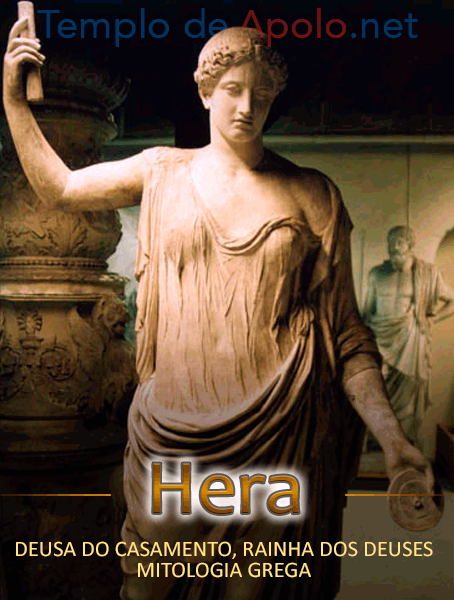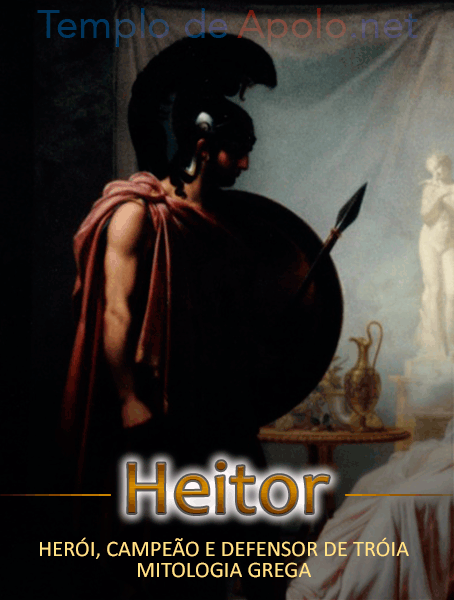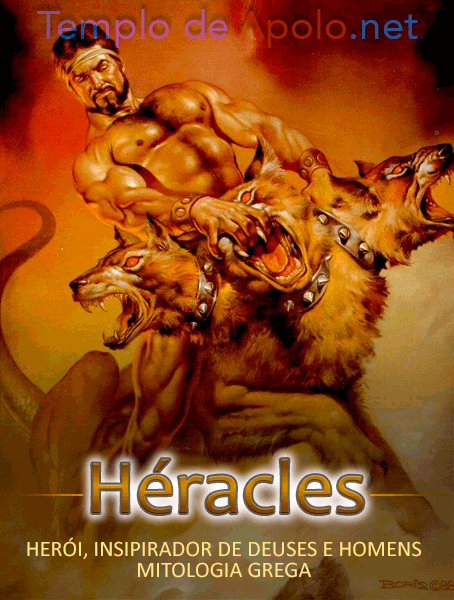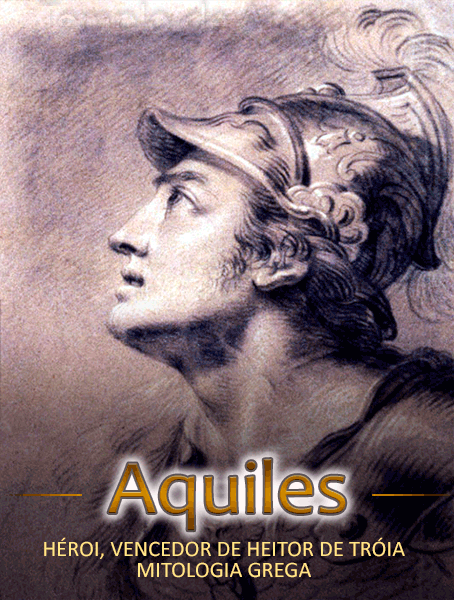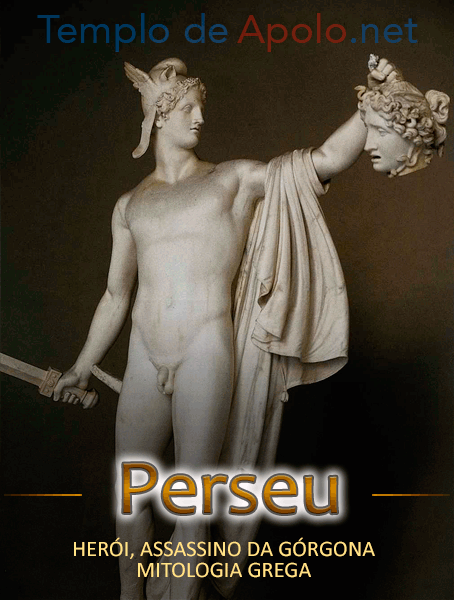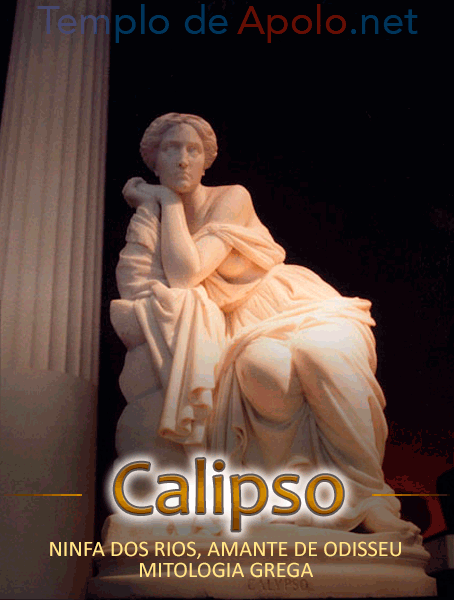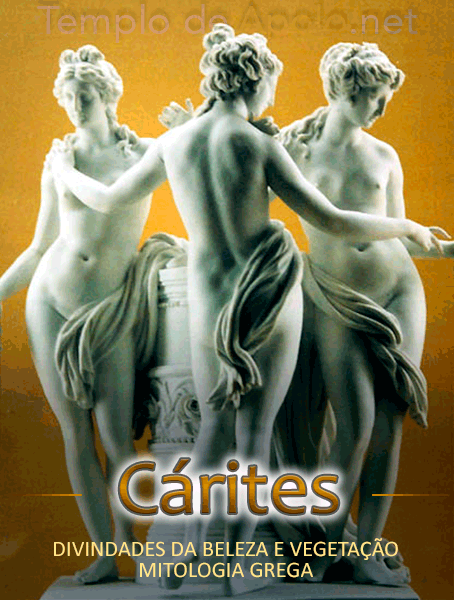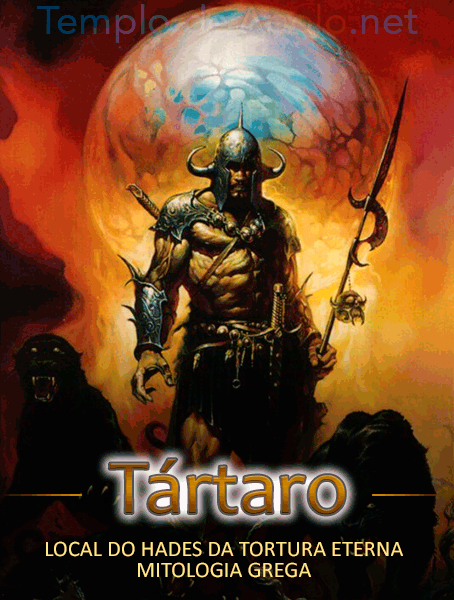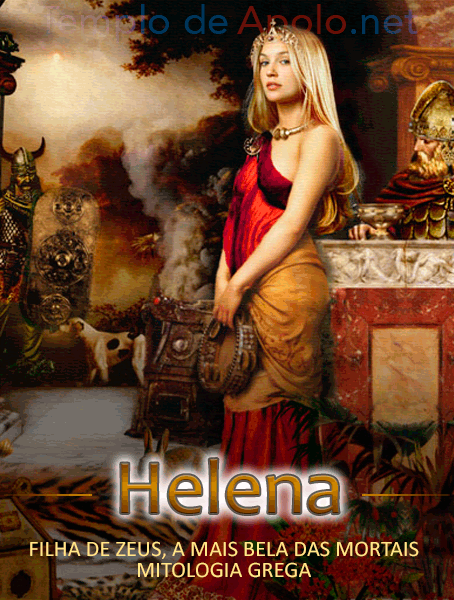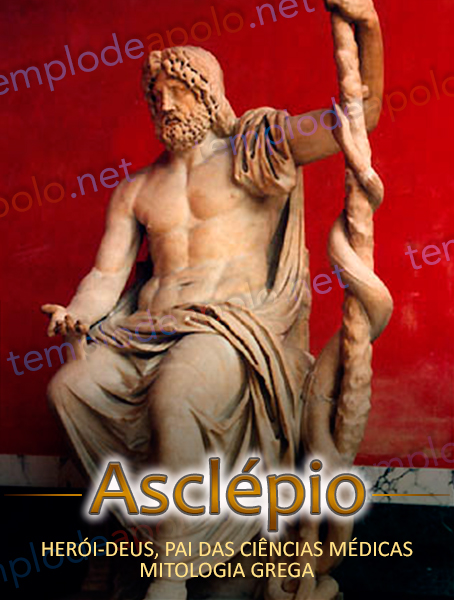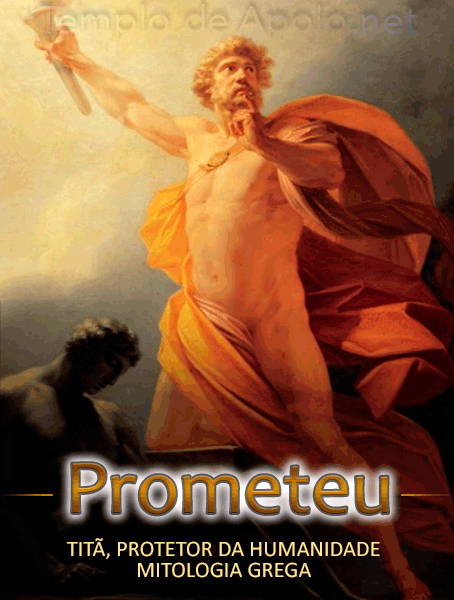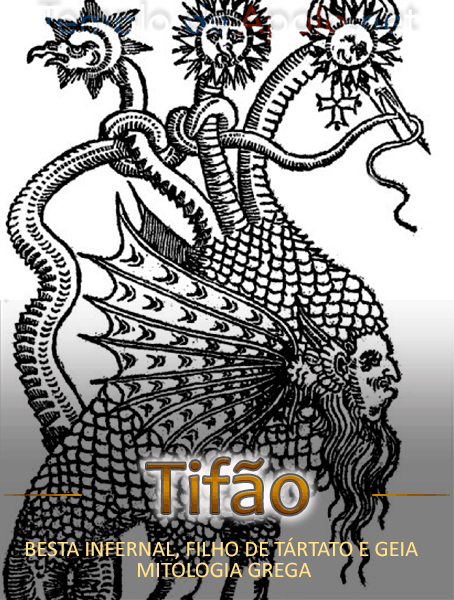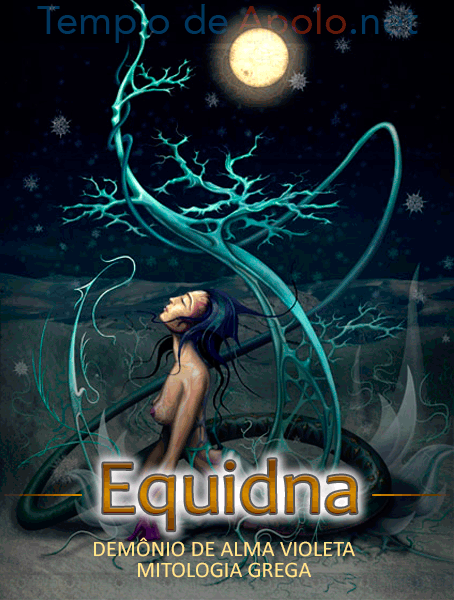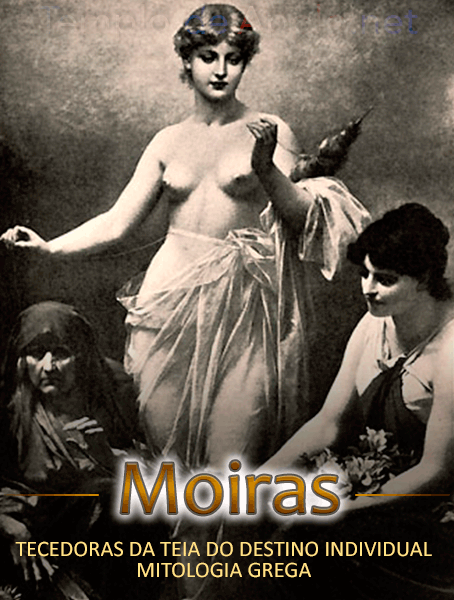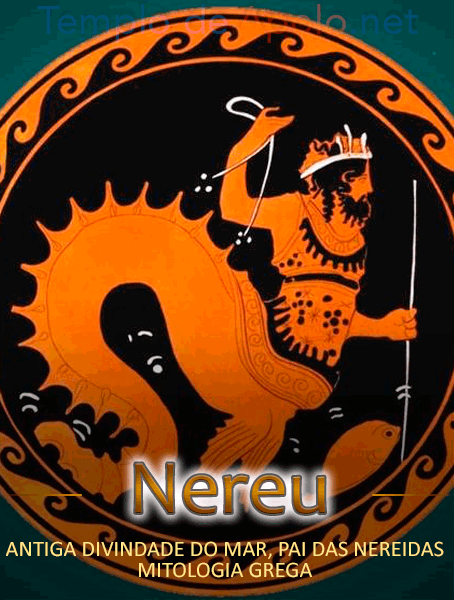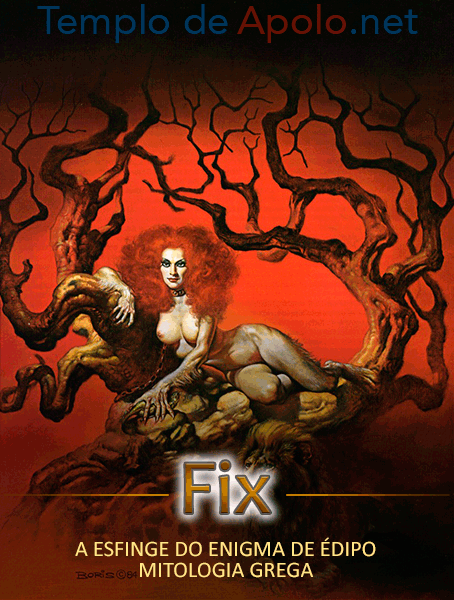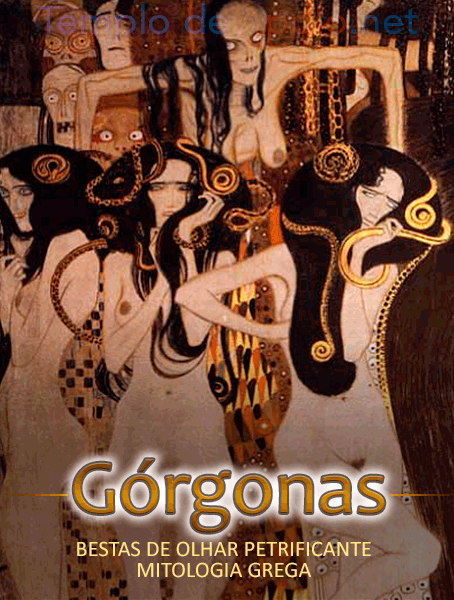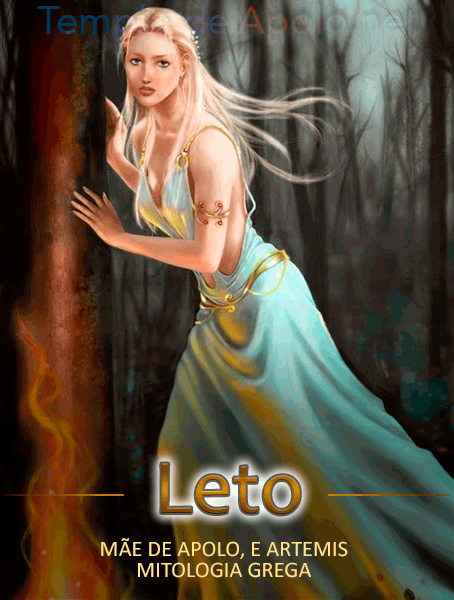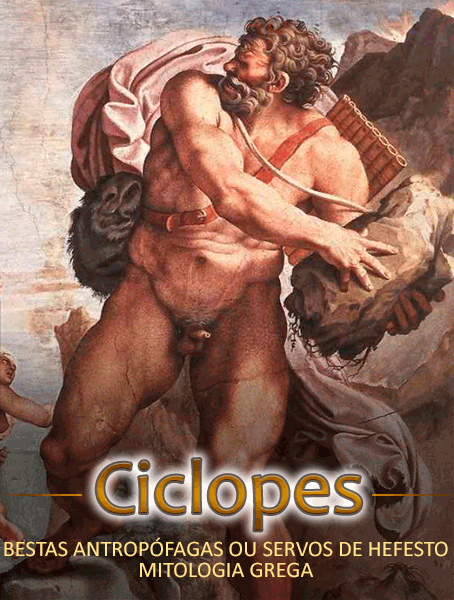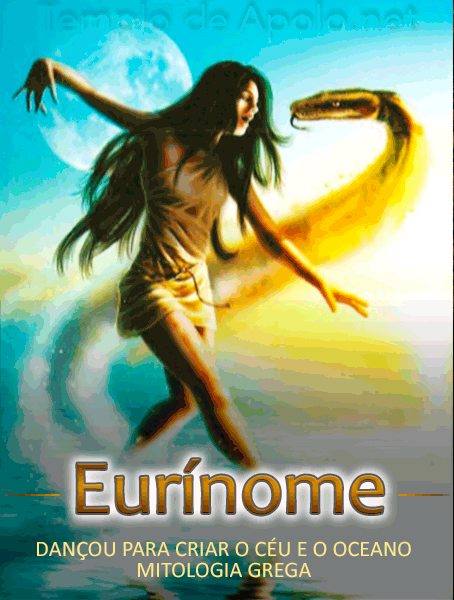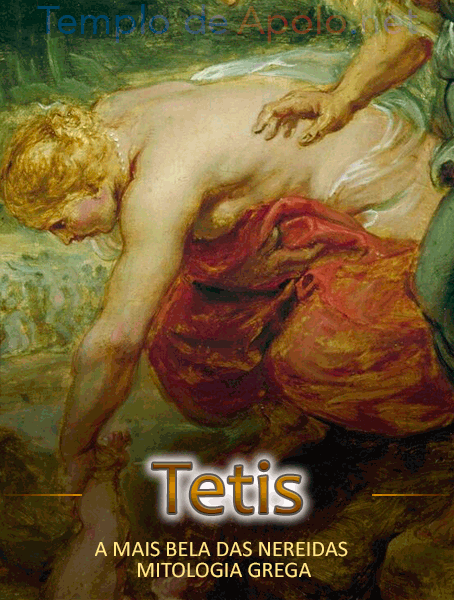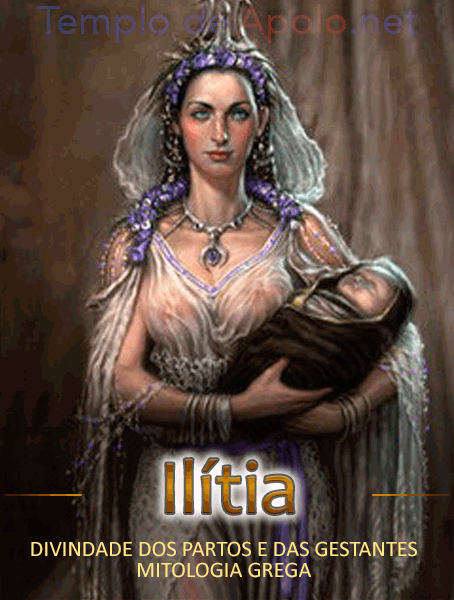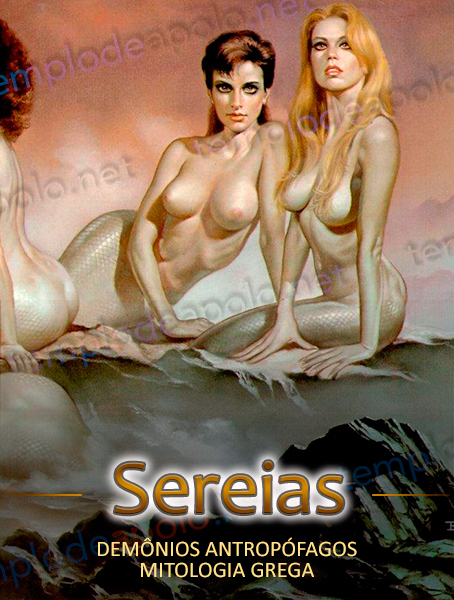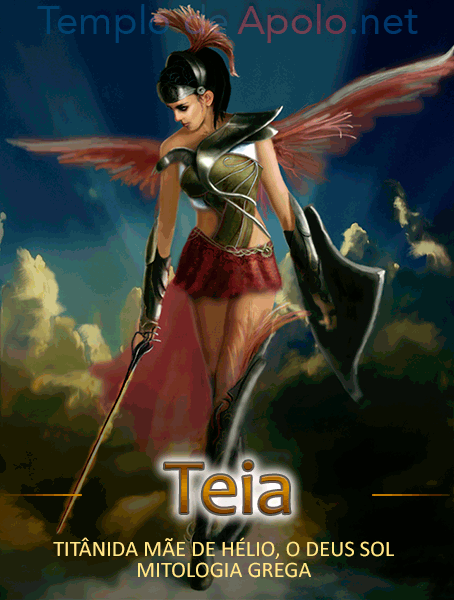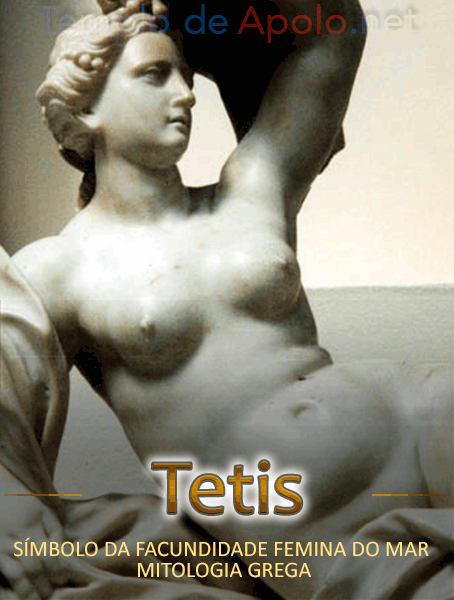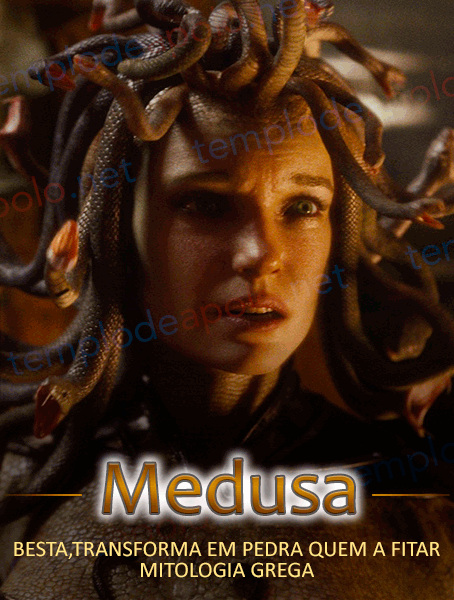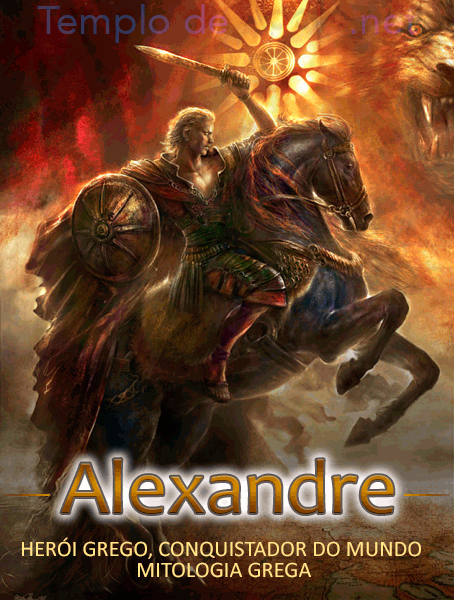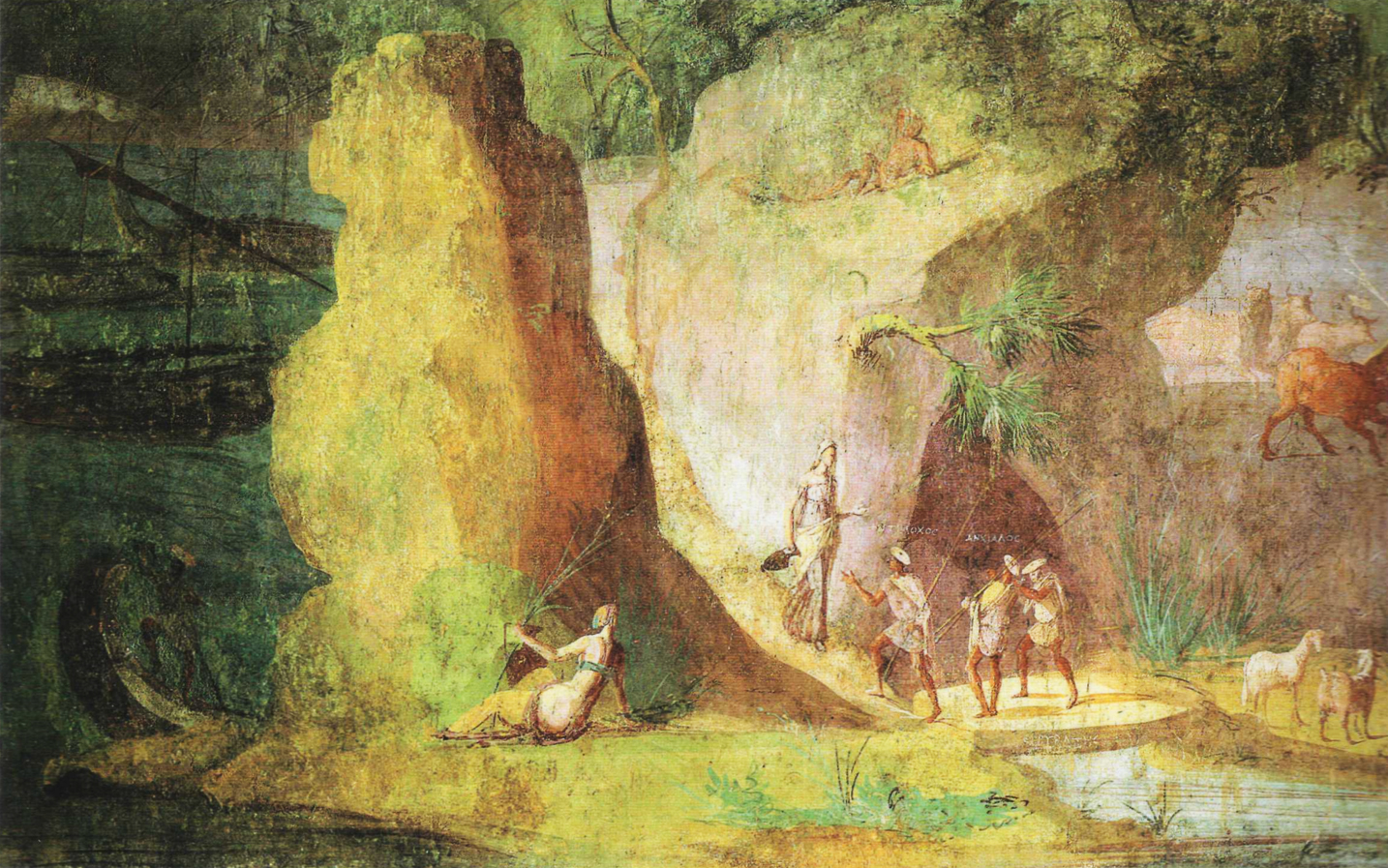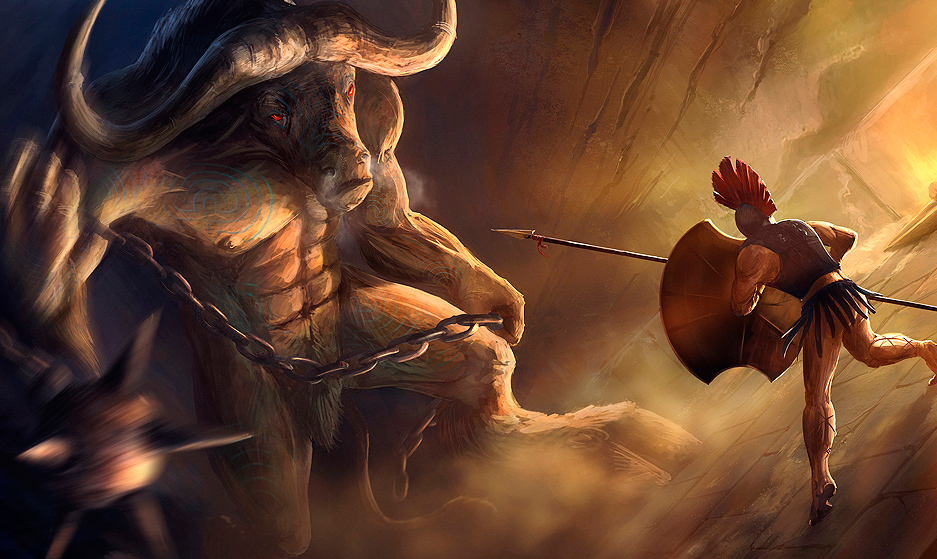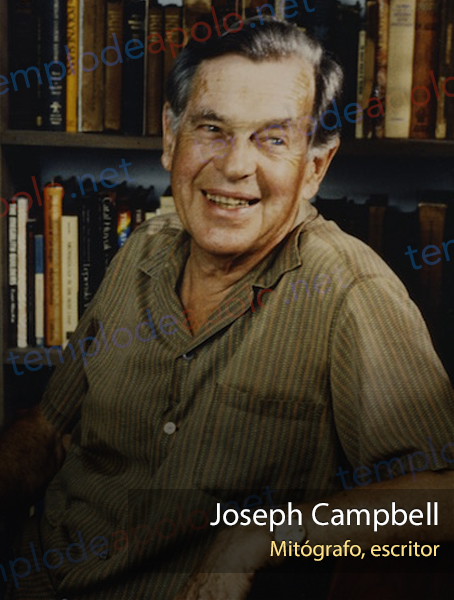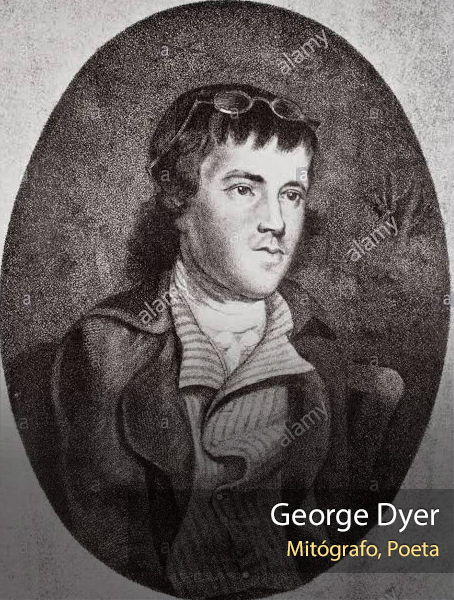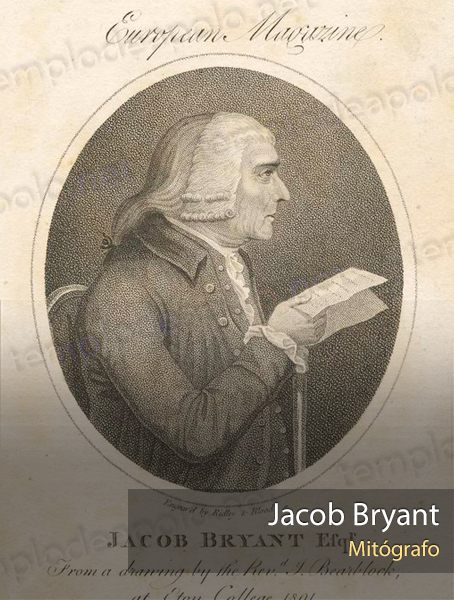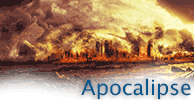





O dilúvio de Deucalião, assim chamado para diferenciar-se do dilúvio de Ogigia e de outros dilúvios, foi provocado pela ira de Zeus contra os ímpios filhos de Licaão, o filho de Pelasgo. O mesmo Licaão foi o primeiro a civilizar a Arcádia, institucionalizando o culto ao Zeus Lício, mas acabou irritando Zeus ao sacrificar-lhe um menino. Por essa razão, foi transformado num lobo e sua casa foi destruída por um raio. Alguns dizem que Licaão teve, no total, 22 filhos; outros dizem que teve cinqüenta.
A notícia dos crimes cometidos pelos filhos de Licaão chegou ao Olimpo, e o próprio Zeus foi visitá-los, disfarçado de viajante miserável. Eles tiveram o descaramento de lhe servir uma sopa de miúdos, em que haviam misturado as vísceras de seu irmão Nictimo com as de ovelhas e cabras. Zeus não se deixou enganar e, derrubando a um só golpe a mesa sobre a qual haviam servido aquele repugnante banquete —o lugar ficou conhecido mais tarde como Trapezo —, converteu-os todos em lobos, exceto Nictimo, a quem devolveu a vida.
Após regressar ao Olimpo, Zeus desafogou o seu desgosto desferindo um grande dilúvio sobre a terra, com a intenção de varrer de sua face toda a raça humana. Mas Deucalião, rei de Ftia, avisado por seu pai, o titã Prometeu, que o havia visitado no Cáucaso, construiu uma arca, encheu-a de suprimentos e subiu abordo com sua mulher, Pirra, filha de Epimeteu. Então, o Vento Sul começou a soprar, a chuva desabou, e os rios se precipitaram na direção do mar, que subia com uma assombrosa rapidez, arrasando e submergindo todas as cidades do litooral e das planícies, até que o mundo todo ficou submerso, exceto alguns cumes e montanhas, e todas as criaturas mortais pareciam ter desaparecido, à exceção de Deucalião e Pirra. A arca flutuou por nove dias, quando finalmente as águas baixaram, e a embarcação pousou no monte Parnaso ou, segundo alguns, no monte Etna, no monte Atos ou ainda no monte Ótris, na Tessália. Diz-se que Deucalião obteve a confirmação do fim do dilúvio ao soltar uma pomba em vôo exploratório.
Após desembarcarem sãos e salvos, eles ofereceram um sacrifício ao Pai Zeus, protetor dos fugitivos, e desceram à margem do rio Cefiso para orar no santuário de Têmis, cujo teto se achava coberto de algas e cujo altar estava frio. Suplicaram humildemente que a raça humana renascesse, e Zeus, escutando suas vozes de longe, enviou Hermes para assegurar-lhes de que tudo o que pediam lhes seria concedido. Têmis apareceu em pessoa e disse: “Cubram suas cabeças e atirem os ossos de sua mãe para trás!” Por serem filhos de mães diferentes, ambas já falecidas, Deucalião e Pirra deduziram que a titânide se referia à Mãe Terra, cujos ossos eram as rochas que jaziam às margens do rio. Portanto, cobriram a cabeça e se inclinaram para recolher as rochas, atirando-as por cima dos ombros. As rochas se transformaram em homens ou mulheres, dependendo de quem as houvesse tocado, Deucalião ou Pirra. Dessa forma, a humanidade se renovou, e desde então “povo” (laos) e “uma pedra” (laas) têm sido a mesma palavra em diversas línguas.
Entretanto, Deucalião e Pirra não foram os únicos sobreviventes do dilúvio. Tanto que Megareu, um filho de Zeus, tendo sido despertado de seu sono pelos gritos dos grous, foi impelido a subir até o pico do monte Gerânia, lugar que não chegou a ser coberto pelas águas. Outro que escapou foi Cerambo de Pélion, que, transformado pelas ninfas num escaravelho, pôde voar para o cume do Parnaso.
De modo similar, os habitantes do Parnaso - cidade fundada por Parnaso, filho de Poseidon, que inventou a arte do agouro - foram despertados pelo uivo dos lobos e os seguiram até o alto da montanha. Em memória desses lobos, eles chamaram a sua cidade de Licoréia.
Assim, o dilúvio provou ser pouco eficaz, pois alguns parnasianos emigraram para a Arcádia e repetiram as abominações de Licaão. Até o dia de hoje, um menino é sacrificado ao Zeus Liceu, e suas vísceras são misturadas a outras numa sopa de miúdos, que é então servida a uma multidão de pastores às margens de um rio. O pastor que come as vísceras do menino (que lhe são servidas por sorteio) uiva como um lobo, pendura suas roupas num carvalho, cruza o rio a nado e se transforma em lobisomem. Por oito anos ele fica vivendo entre os lobos, mas, abstendo-se de comer carne humana durante esse período, ele pode regressar, cruzar de novo o rio a nado e recuperar suas roupas. Há algum tempo, um habitante de Parrásia chamado Damarco passou oito anos com os lobos, recuperou sua condição humana e, no décimo ano, após um período de treinamento intensivo num ginásio, ganhou o prêmio de pugilismo nos jogos olímpicos.
Esse Deucalião era o irmão da Ariadne cretense e pai de Oresteu, rei dos lócrios ózolas, em cuja época uma cadela branca pariu uma estaca que, plantada por Oresteu, cresceu e se tornou uma videira. Outro de seus filhos, Anfictião, alojou Dionísio e foi o primeiro homem a misturar vinho com água. Mas seu primeiro descendente e o mais famoso de seus filhos foi Heleno, pai de todos os gregos.
♦
A história de Zeus e as entranhas do menino não é tanto um mito quanto uma anedota moral para expressar a repugnância que provocavam, nas regiões mais civilizadas da Grécia, as primitivas práticas canibais da Arcádia ainda praticadas em nome de Zeus e consideradas “bárbaras e antinaturais”. Cécrope, o virtuoso ateniense contemporâneo de Licaão, merecia somente bolos de cevada, abstendo-se inclusive dos sacrifícios de animais. Os ritos licaones, que, segundo o autor, nunca contaram com o beneplácito de Zeus, aparentemente tinham a intenção de evitar que os lobos atacassem os rebanhos, entregando-lhes um rei humano. Lycaeus significa “da loba”, mas também "da luz”, e o raio no mito de Licaão revela que o Zeus da Arcádia era um rei sagrado que invocava a chuva a serviço da Loba divina, a Lua, a quem a matilha de lobos uivava.
Um Grande Ano de cem meses, ou oito anos solares, era dividido equitativamente entre o rei sagrado e o seu sucessor. Já os cinqüenta filhos de Licaão — um para cada mês do reinado do rei sagrado — deviam ser os que compunham a sopa de miúdos. O número 22, a não ser que seja o resultado do cálculo do número de famílias que se diziam descendentes de Licaão para participar do banquete de miúdos, refere-se provavelmente aos 22 lustros que constituíam um ciclo — o ciclo de 110 anos compunha o reinado de uma linha
O mito do dilúvio de Deucalião, aparentemente trazido da Ásia pelos heleênicos, tem a mesma origem da lenda bíblica de Noé. Porém, enquanto Noé é citado como inventor do vinho numa fábula moral hebraica que justificava a escravização imposta aos cananeus por seus conquistadores semitas e cassitas, a citação da invenção do vinho por Deucalião foi suprimida pelos gregos, que a atribuíram a Dionísio. Entretanto, Deucalião é descrito como irmão de Ariadne, que, ligada a Dionísio, era a mãe de várias tribos seguidoras do culto do vinho, e o nome dele continuou sendo “marinheiro do vinho novo” (de deucos e halieus). O mito de Deucalião registra um dilúvio mesopotâmico do terceiro milênio a.e.c., bem como a festa outonal do Ano-novo da Babilônia, Síria e Palestina. Essa festa celebrava o novo vinho doce, servido por Parnafistim aos construtores da arca, na qual (conforme o poema épico babilónico Gilgamesh) ele e sua família sobreviveram ao dilúvio enviado pela deusa Ishtar. A arca era um barco-lua, e a festa, celebrada por ocasião da Lua nova mais próxima do equinócio de outono, era uma forma de evocar as chuvas invernais. Ishtar, no mito grego, é chamada de Pirra - nome da deusa-mãe dos puresati (filisteus), povo cretense que chegou à Palestina através da Cilicia em torno de 1200 a.e.c. Em grego, pyrrha significa “vermelho vivo” e é um adjetivo que se aplica ao vinho.
Xisutros era o herói da lenda do dilúvio sumeriano, registrada por Berossus, e sua arca acabou pousando no monte Ararat. Todas essas arcas eram construídas com madeira de acácia, utilizada também por Ísis para construir o barco mortuário de Osíris.
O mito de um deus irado que decide punir as maldades do homem com um dilúvio parece ter chegado tardiamente aos gregos, que o tomaram emprestado aos fenícios ou aos judeus. Não obstante, o número de diferentes montes da Grécia, Trácia e Sicília onde se diz que a arca de Deucalião teria atracado sugere que um antigo mito do dilúvio tenha se sobreposto a uma lenda posterior sobre um dilúvio no norte da Grécia. Na primeira versão grega do mito, Têmis renova a raça humana sem ter sido previamente autorizada por Zeus. É provável, portanto, que ela, e não ele, tenha sido a responsável pelo dilúvio, como na Babilônia.
A transformação de pedras em pessoas é, talvez, outro empréstimo heládico vindo do Oriente. São João Batista referiu-se a uma lenda semelhante, declarando, num jogo de palavras com os termos hebraicos banim e abanim, que Deus podia dar filhos a Abraão a partir das pedras do deserto (Mateus III. 3-9 e Lucas III. 8).
A história da cadela branca, a deusa-Lua Hécate que pariu um ramo de videira no reinado de Oresteu, filho de Deucalião, é provavelmente o mito grego mais antigo sobre o vinho. Diz-se que o nome “ózola” deriva de ozoi, “brotos de videira”. Um dos filhos malvados de Licaão também se chamava Oresteu, o que pode justificar a conexão forçada que os mitógrafos estabeleceram entre o mito da sopa de miúdos e o dilúvio de Deucalião.
Anfictião, nome de outro filho de Deucalião, é uma forma masculina de Anfictionis, a deusa em nome da qual se havia fundado a Liga Anfictiônica, a famosa confederação setentrional. Segundo Estrabão, Calímaco e o escoliasta do Orestes de Eurípides, a liga foi regularizada por Acrísio de Argos. Os gregos civilizados, à diferença dos trácios dissolutos, abstinham-se de tomar vinho puro, e seu costume de aguá-lo nas assembléias dos estados membros celebradas na época da vindima em Antela, perto das Termópilas, deve ter sido uma maneira de evitar disputas sangrentas durante o evento.
Heleno, filho de Deucalião, era o antecessor epônimo de toda a raça helênica. Seu nome demonstra que ele era o representante real da sacerdotisa de Hele, Helen, Helena ou Selene, a Lua. Segundo Pausânias (III. 20. 6), a primeira tribo chamada helena chegou da Tessália, onde se adorava Hele.
Aristóteles (Meteorológica I. 14) diz que o dilúvio de Deucalião teve lugar “na antiga Grécia (Graecia), ou seja, num distrito perto de Dodona e do rio Aquelôo”. Graeci significa “adoradores da Velha”, presumivelmente a deusa Terra Dodona, que aparecia em tríade formando as Gréias. Conta-se que os aqueus foram obrigados a invadir o Peloponeso porque fortes chuvas, nada comuns naquela região, haviam inundado suas pastagens. O culto a Hele parece ter substituído o culto às Gréias.
O escaravelho era um emblema da imortalidade no Baixo Egito, porque sobrevivia aos transbordamentos do Nilo —o Faraó, como Osíris, embarcava em um barco-sol na forma de um escarabeu —, e sua utilização sagrada se propagou, seguindo a Palestina, o Egeu, a Etrúria e as Ilhas Baleares. Antoninus Liberalis menciona o mito de Cerambo, ou Terambo, quando cita Nicandro.

Apolo, filho de Zeus e Leto, nasceu de sete meses, mas os deuses crescem muito depressa. Temis o alimentou com néctar e ambrosia, e quando amanheceu o quarto dia ele pediu um arco-e-flecha, providenciado na mesma hora por Hefesto. Ao sair de Delos, dirigiu-se diretamente ao monte Párnaso, onde estava à sua espreita a serpente Piton, inimiga de sua mãe, e feriu-a gravemente com suas flechas. Piton fugiu para o Oraculo da Mãe Terra na cidade de Delfos, assim chamada em homenagem a seu companheiro, o monstro Delfim. Mas Apolo atreveu-se a persegui-la ate o santuário e ali a matou, junto ao precipício sagrado.
Informado pela Mãe Terra sobre esse crime, Zeus não só ordenou a Apolo que fosse a Tempe purificar-se como também instituiu os jogos piticos em homenagem a Piton, encarregando-o de presidi-los como penitência. Descaradamente, Apolo desobedeceu a ordem de Zeus e, em vez de ir a Tempe, foi purificar-se em Aigialeia, acompanhado de Artemis. Depois, como não gostara do lugar, velejou em direção a Tarra, em Creta, onde o rei Carmanor celebrou a cerimônia.
Ao regressar a Grécia, Apolo saiu a procura de Pã, o velho e desacreditado deus árcade com pernas de cabra, e, depois de persuadi-lo a revelar-lhe a arte da profecia, apoderou-se do Oráculo de Delfos e manteve sua sacerdotisa, denominada pitonisa, sob suas ordens.
Ao saber das noticias, Leto foi com Artemis a Delfos, onde buscou uma caverna sagrada para realizar um rito particular. O gigante Titio interrompeu sua veneração e estava tentando viola-la quando, ao ouvir gritos, Apolo e Artemis saíram correndo e o mataram com uma salva de flechas - vingança que Zeus, pai do gigante, achou por bem classificar de piedosa. No Tártaro, Titio havia sido torturado: seus braços e pernas foram esticados e presos firmemente ao chão, fazendo com que seu corpo ocupasse uma superfície de nada menos que nove acres e ficasse a mercê de dois abutres, que lhe devoravam o fígado.
Em seguida, Apolo matou o sátiro Mársias, seguidor da deusa Cibele. Isso aconteceu da seguinte forma: um dia, Atena confeccionou uma flauta dupla com ossos de cervo e tocou-a em um banquete dos deuses. No início, ela não entendeu por que Hera e Afrodite riam baixinho, tapando a boca com as mãos, enquanto os outros deuses pareciam deleitar-se com sua musica. Intrigada, Atena se retirou, sozinha, para um bosque frígio, empunhou a flauta junto a um ribeirão e contemplou sua imagem na água enquanto tocava. Ao dar-se conta de como a face azulada e as bochechas inchadas de ar tornavam grotesca sua aparência, ela jogou fora a flauta e lançou uma maldição sobre quem a encontrasse.
Mársias foi a inocente vítima dessa maldição. Ele tropeçou na flauta e, mesmo antes de leva-la aos lábios, ela começou a tocar sozinha, inspirada pela recordação da musica de Atena. E assim ele percorreu a Frígia, acompanhando o séquito de Cibele e deleitando os camponeses ignorantes. Estes o aclamaram, dizendo que nem mesmo Apolo, com sua lira, seria capaz de compor musica melhor, e Mársias, por ingenuidade, não se atreveu a contradize-los. Isso, claro, despertou a ira de Apolo, que lhe propôs uma competição, cujo vencedor teria o direito de infligir ao adversário o castigo que desejasse. Mársias aceitou o desafio, e Apolo convocou as musas como árbitros do torneio - que terminou empatado, porque elas ficaram encantadas com os dois instrumentos, ate que Apolo gritou a Mársias:
- Desafio você a fazer com seu instrumento o mesmo que faço com o meu: colocá-lo de ponta-cabeça e tocá-lo, cantando ao mesmo tempo!
Evidentemente, como tal feito era impossível com uma flauta, Mársias fracassou no desafio, ao passo que Apolo colocou sua lira ao contrário e entoou hinos tão melodiosos em louvor aos deuses olímpicos que as musas se viram na obrigação de emitir um veredicto a seu favor. Depois, por toda aquela doçura dissimulada, Apolo vingou-se de Mársias da maneira mais cruel: esfolou-o vivo e pendurou sua pele em um pinheiro (segundo alguns, num plátano), junto à foz de no que agora leva o seu nome.
Mais tarde, Apolo venceu um segundo desafio musical, presidido pelo rei. Dessa vez, derrotou Pã. Desde que se tornou reconhecido como o deus musica, tocou sempre sua lira de sete cordas nos banquetes dos deuses. Outro de seus deveres era o de guardar os rebanhos e as manadas que os deuses tinham em Pieria, trabalho que, mais tarde, ele acabou delegando a Hermes.
Apesar de negar-se a ter ligações matrimoniais, Apolo deixou grávidas várias ninfas e mulheres mortais, entre elas Ftia, com quem teve Doro, Polidectes e Laodoco; a musa Talia, que deu a luz os coribantes; Coronis, mãe de Asclépio; Aria, que lhe deu Mileto; e Cirene, mãe de Aristeu.
Apolo seduziu também a ninfa Driopeia, que cuidava do gado de seu pai no monte Eta, na companhia de suas amigas, as hamadriades. Apolo se disfarçou de tartaruga, com a qual todas brincaram, e, quando Driopeia a colocou sobre o peito, ele se converteu numa serpente sibilance, assustando as hamadriades e unindo-se a Driopeia. Ela então lhe deu Anfisso, que fundou a cidade de Eta e construiu um templo em homenagem ao pai, onde Driopeia serviu como sacerdotisa, ate o dia em que as hamadriades a raptaram e deixaram um choupo em seu lugar.
Apolo nem sempre teve sorte no amor. Certa vez, tentou roubar Marpessa de Idas, mas ela permaneceu fiel ao marido. De outra feita, perseguiu Dafne, a ninfa da montanha, sacerdotisa da Mãe Terra, filha do rio Peneu, na Tessalia, mas, quando a alcançou, ela suplicou por ajuda a Mãe Terra, que a fez desaparecer em um instante e reaparecer em Creta, onde se tornou conhecida como Pasifae. A Mãe Terra deixou um loureiro em seu lugar, e, com suas folhas, Apolo fez uma grinalda para se consolar.
Cabe acrescentar que sua tentativa de se aproximar de Dafne não foi um impulso repentino. Fazia muito tempo que ele andava apaixonado por ela, e já havia causado a morte de seu rival Leucipo, filho de Enomao, que se disfarçara de mulher para participar das orgias montanhesas de Dafne. Tendo se inteirado disso por adivinhação, Apolo sugeriu às ninfas que se banhassem desnudas, para se assegurarem de que todas as que ali estavam eram mulheres. As ninfas logo descobriram a impostura de Leucipo e o esquartejaram.
O mesmo aconteceu com o belo jovem Jacinto, príncipe espartano, pelo qual se apaixonou não só o poeta Tamiris - o primeiro homem a cortejar alguém do mesmo sexo - como também o próprio Apolo, o primeiro deus a faze-lo. Apolo não considerou Tamiris um rival serio. Tendo ouvido que o poeta se vangloriava de poder superar as musas com seu canto, ele, ardilosamente, tratou de informa-las. Elas não tardaram em privar Tamiris de sua voz, de sua visão e de sua memoria para tocar a harpa. Mas o Vento Oeste (Zefiro) também se enamorara de Jacinto e, um dia, ao ver Apolo ensinando o jovem a arremessar um disco, ficou loucamente enciumado, agarrou o disco no ar e lançou-o contra o crânio de Jacinto, matando-o. De seu sangue brotou a flor que leva seu nome, na qual ainda se podem ver suas iniciais.
Apolo enfureceu Zeus apenas uma vez, depois da famosa conspiração para destrona-lo. Foi quando seu filho Asclépio (Esculápio), o medico, cometeu a temeridade de ressuscitar um morto, roubando assim um súdito de Hades. Este, naturalmente, apresentou queixa ao Olimpo e, na sequencia, Zeus fulminou Asclépio, e Apolo, para se vingar, matou os ciclopes. Encolerizado pela perda de seus armeiros, Zeus só não o condenou ao desterro perpetuo no Tártaro porque Leto, implorando-lhe clemencia, comprometeu-se a fazer com que Apolo melhorasse sua conduta. A sentença reduziu-se a um ano de trabalhos forçados, e Apolo foi cuidar dos rebanhos de ovelhas do rei Admeto, de Teras. Seguindo o conselho de Leto, ele não só cumpriu humildemente sua pena como também trouxe grandes benefícios a Admeto.
Tendo aprendido a lição, ele passou a pregar a moderação em todas as coisas. As frases "Conhece-te a ti mesmo!" e "Nada em excesso!" estavam sempre em seus lábios. Trouxe para Delfos as musas de sua morada no monte Helicon, moderou seu exaltado frenesi e as orientou para tipos de danças mais formais e decorosas.
A historia de Apolo é confusa - Os gregos o fizeram filho de Leto, deusa conhecida pelo nome de Lat no sul da Palestina, mas era também deus dos hiperboreos ("homens de além do Setentrião"), que Hecataeus (Diodoro Siculo: 11.47) identificava claramente como os britânicos, embora Píndaro (Odes piticas X. 50-55) os considerasse líbios. Delos era o centro desse culto hiperbóreo que aparentemente estendia-se pelo sudeste ate a Nabateia e a Palestina, pelo noroeste até a Bretanha, e incluía Atenas. Havia um intercambio constante de visitas entre os povos unidos por tal culto (Diodoro Siculo: loc. cit.).
Entre os hiperbóreos, Apolo sacrificou quantidades enormes de asnos (Píndaro: loc. cit.), o que o identifica como o "Menino Hórus", cuja vitoria sobre seu inimigo Seth os egípcios celebravam anualmente, impelindo burros selvagens a um precipício (Plutarco: Sobre Isis e Osíris 30). Hórus queria vingar-se de Seth pelo assassinato de seu pai Osíris, o rei sagrado, amante da deusa-Lua tripla (Ísis, ou Lat), que tinha sido sacrificado pelo seu sucessor Seth no solstício estival e no invernal, e do qual o próprio Horus era a reencarnação. O mito da perseguição a Leto por parte de Píton é análogo ao da perseguição a Isis por parte de Seth (durante os 72 dias mais quentes do ano). Além disso, Píton pode ser identificado como Tifon, o Seth grego, no Hino homérico a Apolo é também pelo escoliasta de Apolônio de Rodes. De fato, o Apolo hiperbóreo é um Hórus grego.
Mas ao mito deu-se um contorno politico: diz-se que Píton foi enviado contra Leto por Hera, que o havia parido partenogenicamente, a fim de contrariar Zeus (Hino homérico a Apolo 305). Apolo, apos matar Píton (e supostamente também seu companheiro Delfim), apodera-se do templo oracular da Mãe Terra em Delfos - por ser Hera a Mãe Terra, ou Delfim, em seu aspecto profético. Parece que certos helenos do norte, aliados dos trácio-líbios, invadiram a Grécia central e o Peloponeso, onde enfrentaram a oposição dos adoradores pré-helênicos da deusa Terra, capturando, contudo, seus principais santuários oraculares. Em Delfos, eles destruíram a sagrada serpente oracular - uma serpente parecida era guardada no Erecteion de Atenas - e se apoderaram do Oraculo em nome de seu deus Apolo Esminteu. Esminteu ("murídeo"), assim como Esmun, o deus cananeu da cura, tinha como emblema um camundongo curativo. Os invasores concordaram em identifica-lo como Apolo, o Hórus hiperbóreo venerado par seus aliados. A fim de aplacar a opinião publica em Delfos, instituíram-se jogos funerários periódicos em homenagem ao herói morto Píton, e sua sacerdotisa foi mantida no cargo.
Brizo ("apaziguadora"), a deusa-Lua de Delos, indistinguível de Leto, pode ser identificada como a deusa tripla hiperbórea Brigite, cristianizada como Santa Brigite ou Santa Brígida. Brigite era a padroeira de todas as artes, e Apolo seguiu seu exemplo. O atentado do gigante Titio contra Leto aponta uma fracassada tentativa de sublevação por parte dos montanheses da Fócida contra os invasores.
As vitórias de Apolo sobre Mársias e Pã comemoram as conquistas helênicas da Frigia e da Arcádia e a consequente substituição, nessas regiões, de instrumentos de sopro por instrumentos de corda, exceto entre os camponeses. O castigo de Mársias pode referir-se ao ritual de esfolar o rei sagrado - assim como Atena despojou Palas de sua égide magica - ou ao costume de remover toda a cortiça de um amieiro jovem para se confeccionar uma flauta de pastor, sendo o amieiro personificado como deus ou semideus. Apolo era aclamado como antecessor dos gregos dórios e dos milesios, que lhe rendiam homenagens especiais. E os coribantes, bailarinos no festival de solstício de inverno, eram chamados de filhos da musa Talia com Apolo, pois ele era o deus da musica.
Sua perseguição a Dafne, a ninfa da montanha, filha do rio Peneu e sacerdotisa da Mãe Terra, aparentemente se refere a captura de Tempe por parte dos helenos. Ali, a deusa Dafene ("a sanguinária') era venerada por uma ordem de menades orgiásticas que mascavam folhas de louro. Após ter suprimido a ordem - o relato de Plutarco sugere que a sacerdotisa fugiu para Creta, onde a deusa-Lua era chamada de Pasifae, Apolo apoderou-se do louro, que, posteriormente, só a pitonisa poderia mascar. Tanto em Tempe como em Figália, Dafene devia ter cabeça de égua. Leucipo ("cavalo branco") era o rei sagrado do culto local do cavalo, esquartejado anualmente pelas mulheres selvagens, que se banhavam para purificar-se depois de mata-lo, e não antes.
O fato de Driopéia ter sido seduzida por Apolo em Oeta registra talvez a substituição do culto local ao carvalho pelo culto a Apolo, a quem o álamo era consagrado. O mesmo se pode dizer da sedução que exerceu sobre Aria. Seu disfarce de tartaruga é uma referência a lira que havia comprado de Hermes. O nome Ftia sugere o aspecto outonal da deusa. A fracassada tentativa com Marpessa ("a que agarra") parece evocar o fracasso de Apolo, ao querer apoderar-se de um templo messenio: o da deusa do trigo em seu aspecto de Porca. Seu servilismo diante de Admeto de Feres pode evocar um acontecimento histórico: a humilhação imposta a seus sacerdotes, como forma de punição pelo massacre de uma corporação de ferreiros pré-helênicos que estava sob a proteção de Zeus.
O mito de Jacinto, que, a primeira vista, parece ser apenas uma fabula sentimental para explicar o símbolo do jacinto grego, faz alusão ao herói-flor cretense Jacinto, aparentemente chamado também de Narciso, cujo culto foi introduzido na Grécia micênica e deu nome ao ultimo mês do verão em Creta, Rodes, Cos, Tira e Esparta. O Apolo dórico usurpou o nome de Jacinto em Tarento, onde o ultimo tinha uma tumba de herói. Em Amiclas, cidade micênica, outra "tumba de jacinto" converteu-se nas fundações do trono de Apolo. Naquela evoca, Apolo já era imortal, ao passo que Jacinto reinou somente durante uma estação. Sua morte em consequência de um golpe de disco recorda a de seu sobrinho Acrisio.
Apolo teve um filho, Asclépio, com Coronis ("corvo"). Este era provavelmente um dos títulos de Atena, mas os atenienses sempre negaram que ela tivesse filhos, e por isso distorceram o mito.
Na época clássica, a musica, a poesia, a filosofia, a astronomia, a matemática, a medicina e as ciências em geral estiveram sob o controle de Apolo. Inimigo do barbarismo, ele pregou a moderação em tudo. As sete cordas de sua lira estavam conectadas as sete vogais do alfabeto grego posterior, eram imbuídas de um significado místico e utilizadas como terapia musical. Finalmente, devido a sua identificação com o Menino Hórus, uma concepção solar, Apolo foi adorado como o Sol, cujo culto coríntio havia sido arrebatado pelo Zeus Solar. Sua irmã Artemis foi corretamente identificada como a Lua.
Cícero, em seu Ensaio Da natureza dos deuses (III. 23), estabelece que Apolo, filho de Leto, era o quarto de uma antiga serie de outros, homônimos: distinguem-se também Apolo, filho de Hefesto; Apolo, pai dos coribantes cretenses; e o Apolo que entregou suas leis a Arcádia.
Sem dúvida, o assassinato de Píton cometido por Apolo não é um mito tão simples como parece à primeira vista, pois a pedra Onfalo sobre a qual a pitonisa se sentava era, tradicionalmente, a tumba do herói encamado na serpente, cujos oráculos ela transmitia (Hesiquio sub o Tumulo de Arcos; Varrão: Sobre os idiomas latinos VII. 17). O sacerdote helênico de Apolo usurpou as funções do rei sagrado que, legitima e cerimonialmente, sempre havia matado seu predecessor, o herói. Isso se demonstra no rito das Esteptérias registrado por Plutarco em Por que os oráculos silenciam (15). A cada nove anos, no chão de terra batida junto a Delfos, construía-se uma cabana que representava a moradia do rei, e que era atacada repentinamente numa noite por... [aqui há uma lacuna no relato]... A mesa com as primeiras frutas era derrubada, ateava-se fogo a cabana, e os que empunhavam as tochas saiam correndo do santuário sem olhar para trás. Mais tarde, o jovem que havia participado da façanha ia purificar-se em Tempe, de onde retomava triunfante e coroado, carregando um ramo de loureiro.
O planejado assalto-surpresa ao morador da cabana faz lembrar o misterioso assassinato de Romulo por seus companheiros, bem como o sacrifício anual no festival das Bufonias de Atenas, onde os sacerdotes matavam o Zeus-boi com um machado duplo e saiam correndo sem olhar para trás. Depois, comiam a carne em um banquete publico, realizavam uma representação mimica da ressurreição do boi e levavam o machado a um tribunal, acusando-o de haver cometido um sacrilégio.
Em Delfos e em Knossos, o rei sagrado deve ter reinado até o nono ano. Sem duvida, o menino ia a Tempe porque o culto a Apolo havia se originado ali.

Efialtes e Oto eram filhos bastardos de Ifimedia, filha de Tríopas. Ela havia se apaixonado por Posídon e costumava agachar-se à beira-mar para recolher as ondas com as mãos e derramar no colo a água. Foi assim que engravidou. Efialtes e Oto eram chamados, entretanto, de Aloídas, porque Ifimedia se casou depois com Aloeu, consagrado rei de Asópia, na Beócia, por seu pai, Hélio. Os Aloídas cresciam dois metros de largura e de altura a cada ano, e, quando atingiram nove anos de idade, com nove cúbitos de largura e nove braças de altura, declararam guerra ao Olimpo. As margens do rio Estige, Efialtes jurou violar Hera, e Oto jurou fazer o mesmo com Ártemis.
Tendo decidido que Ares, o deus da guerra, devia ser o primeiro prisioneiro, os Aloídas se puseram rumo à Trácia, desarmaram-no, amarraram-no e o confinaram num vaso de bronze, que ocultaram na casa da madrasta dos dois, Enbéia, pois Ifimedia já havia morrido. Depois, iniciaram o assédio ao Olimpo e fizeram um baluarte para atacá-lo, pondo o monte Pélion em cima do monte Ossa, e, em seguida, ameaçaram arremessar montanhas no mar até convertê-lo num deserto, embora as terras baixas ficassem inundadas e se transformassem em pântanos por causa das ondas. Estavam totalmente confiantes porque, segundo a profecia, nenhum homem, nem mesmo um deus, seria capaz de matá-los.
Por recomendação de Apoio, Ártemis mandou uma mensagem aos Aloídas: se voltassem atrás em seu propósito, ela se reuniria com eles na ilha de Naxos e ali se submeteria aos assédios de Oto. Este, então, foi tomado por arroubos de alegria, mas Efialtes, que não havia recebido nenhuma mensagem similar de Hera, ficou enciumado e enraivecido. Uma briga cruenta eclodiu em Naxos, para onde eles foram juntos: Efialtes insistia em rejeitar os termos, a não ser que ele, como o mais velho dos dois, fosse o primeiro a desfrutar de Ártemis. A discussão estava no ápice quando Ártemis fez sua aparição em forma de corça branca, e os Aloídas posicionaram suas lanças para arremessá-las contra a deusa, cada qual disposto a provar que seria o melhor atirador. Quando ela passou voando por eles, veloz como o vento, os dois se atrapalharam e acabaram cravando a lança um no outro. Assim pereceram ambos, comprovando a profecia de que nenhum homem ou deus poderia matá-los. Seus cadáveres foram levados de volta para Antédon, para serem enterrados na Beócia, mas os habitantes de Naxos ainda lhes rendem honras de heróis. Eles também são lembrados como fundadores de Ascra, na Beócia, e como os primeiros mortais a adorarem as musas do Hélicon.
Uma vez levantado o cerco do Olimpo, Hermes saiu à procura de Ares e obrigou Eribéia a libertá-lo, já meio morto, do vaso de bronze. Mas as almas dos Aloídas desceram para o Tártaro, onde foram firmemente amarradas a uma coluna com cordas de nós, feitas de víboras vivas. Ali continuam sentadas, uma de costas para a outra, enquanto a ninfa Estígia, perversamente encarapitada no topo da coluna, serve como uma lembrança dos juramentos não cumpridos pelos Aloídas.
♦
Esta é mais uma versão popular da rebelião dos gigantes. O nome Efialtes, o assalto ao Olimpo, a ameaça dirigida a Hera e a profecia da invulnerabilidade dos Aloídas ocorrem em ambas as versões. Efialtes e Oto, “filhos do campo debulhado” com “a que fortalece os genitais”, netos da “Trifacetada”, ou seja, Hécate, e adoradores das musas selvagens, personificam o incubo, ou pesadelo orgiástico, que oprime e profana as mulheres durante o sono. Assim como o Pesadelo da lenda britânica, eles estão associados ao número nove. O mito se confunde com um obscuro episódio histórico relatado por Diodoro. Ele conta que um certo Aloeu, da Tessália, encarregou seus filhos de libertar a mãe Ifimedia e a irmã Pancrátis (“toda-força”) das mãos dos trácios, que as haviam levado para Naxos. A expedição foi bem-sucedida, mas brigaram entre si pela posse da ilha e acabaram se matando um ao outro. Entretanto, ainda que Estêvão de Bizâncio mencione que a cidade de Aloeium, na Tessália, assim se chamasse por causa dos Aloídas, antigos mitógrafos dizem que eles eram beócios.
O assassinato recíproco dos irmãos gêmeos evoca a eterna rivalidade pelo amor da Deusa Branca entre o rei sagrado e seu sucessor, que alternadamente atacavam-se um ao outro. O fato de se chamarem “filhos do campo debulhado” e terem escapado da destruição do raio de Zeus os relaciona mais ao culto do cereal do que ao do carvalho. O suplício a que foram condenados no Tártaro, igual ao de Teseu e Pirítoo, parece deduzir-se de um antigo símbolo calendárico em que aparecem as cabeças dos gêmeos, uma de costas para a outra em cada lado da coluna, na posição em que se sentavam na Cadeira do Esquecimento. A coluna, sobre a qual está pousada a deusa da morte em vida, marca o apogeu do verão no momento em que termina o reinado do rei sagrado e começa o de seu sucessor. Na Itália, esse mesmo símbolo converteu-se no Jano bicéfalo, mas ali o Ano-novo se celebrava em janeiro, e não por ocasião do nascer helíaco do astro bicéfalo Sírio.
O confinamento de Ares durante três meses constitui um fragmento mítico desconexo, cuja datação exata é desconhecida, e se refere talvez a um armistício combinado entre os tessalo-beócios e os trácios, que durou um ano inteiro - o ano pelasgo tinha 13 meses período em que os símbolos bélicos de ambas as partes foram guardados dentro de um recipiente de bronze, num templo de Hera Eribéia. Pélion, Ossa e Olimpo são montanhas ao leste da Tessália, das quais se tem uma visão distante do Quersoneso trácio, onde possivelmente foi travada a guerra que terminou graças a esse armistício.

Em vingança pela destruição dos gigantes, a Mãe Terra deitou-se com Tártaro e pouco tempo depois, na caverna Corícia, deu à luz seu filho mais novo, Tífon, o maior monstro que já existiu. Das coxas para baixo ele não era nada mais que serpentes enroscadas. Seus braços, estendidos, chegavam a 600 quilômetros de comprimento cada um, e em vez de mãos ele tinha, na ponta de cada braço, inúmeras cabeças de serpente. Sua cabeça, ornada de crinas de asno, roçava as estrelas, suas enormes asas ensombreciam o Sol, seus olhos lançavam chamas, e de sua boca saíam rochas flamejantes. Quando entrou em disparada no Olimpo, os deuses fugiram aterrorizados para o Egito, onde se disfarçaram de animais: Zeus se converteu num carneiro; Apolo, num corvo; Dionísio, em cabra; Hera, numa vaca branca; Ártemis, num gato; Afrodite, em peixe; Ares, em javali; Hermes, num íbis, e assim por diante.
Só Atena enfrentou, altiva, a situação, e escarneceu da covardia de Zeus até que este, recuperando a forma original, lançou contra Tífon um raio seguido de um golpe com a mesma foice de pedra lascada que servira para castrar seu avô Urano. Ferido e aos gritos, Tífon fugiu para o monte Casio, ao norte da Síria, e ali travou-se um terrível combate. Tífon enrolou em Zeus sua miríade de caudas, arrancou-lhe a foice e, após cortar-lhe os tendões das mãos e dos pés, arrastou-o para a caverna Corícia. Embora imortal, Zeus, a essa altura, não podia mover um dedo pois Tífon havia escondido os tendões numa pele de urso vigiada por Delfina. uma irmã-monstro com cauda de serpente.
A notícia da derrota de Zeus semeou o desânimo entre os deuses, mas Hermes e Pã conseguiram entrar furtivamente na caverna. Ali, Pã assustou Delfina um grito espantoso, enquanto Hermes subtraía habilmente os tendões e os colocava de volta nos membros de Zeus.
Mas alguns dizem que foi Cadmo quem persuadiu Delfina a entregar-lhe os tendões de Zeus, dizendo que precisava deles para fabricar as cordas de uma lira, com a qual iria dedicar-lhe uma música maviosa, e que foi Apolo quem a matou.
Zeus voltou ao Olimpo num carro puxado por cavalos alados e mais uma vez perseguiu Tífon com seus raios. O monstro havia se dirigido ao monte Nisa, onde as três Parcas lhe ofereceram frutos efêmeros como se fossem revigorantes, quando, na verdade, eram letais. Ele chegou ao monte Hemo, na Trácia, e, erguendo montanhas inteiras, lançou-as contra Zeus, que interpôs seus raios de maneira que eles ricochetearam para cima do monstro, provocando-lhe feri das horrendas. Os jorros de sangue de Tífon deram nome ao monte Hemo. O monstro, então, fugiu para a Sicília, onde Zeus pôs fim à perseguição atirando em cima dele o monte Etna, cuja cratera até hoje cospe fogo.
---
Diz-se que “corício” significa “da sacola de couro”. Talvez seja uma referência ao antigo costume de encerrar ventos em sacos, adotado por Éolo e conservado pelas bruxas medievais. Na outra caverna Corícia, a de Delfos, a serpente companheira de Delfina se chamava Píton, e não Tífon. Píton (“serpente”) era a personificação do destrutivo Vento Norte, o Setentrião - os ventos eram habitualmente representados com caudas de serpente - , que se precipita sobre a Síria a partir do monte Casio, e sobre a Grécia a partir do monte Hemo. Tífon, por outro lado, significa “fumo estupefaciente”, e seu aspecto é o de uma erupção vulcânica, daí a lenda de que Zeus o derrotou, enterrando-o finalmente sob o monte Etna. Mas o nome Tífon significava também o ardente siroco do deserto meridional que causava estragos na Líbia e na Grécia, trazendo consigo um odor vulcânico. Ele era retratado pelos egípcios como um asno do deserto. O deus Set, cujo hálito seria o próprio Tífon, mutilou Osíris quase do mesmo modo como Píton mutilou Zeus, embora ambos tenham sido finalmente derrotados. Não obstante, o paralelismo fez com que se confundisse Píton com Tífon.
Esse vôo divino para o Egito, como observa Luciano, foi inventado para justificar a adoração dos egípcios a deuses em forma animal: Zeus-Amon como carneiro; Hermes-Tot como íbis; Hera-Isis como vaca; Ártemis-Pasht como gato, e assim por diante. Mas historicamente pode referir-se também ao êxodo de sacerdotes e sacerdotisas que fugiram assustados das ilhas do Egeu, quando uma erupção vulcânica sepultou metade da grande ilha de Tera, pouco antes do ano 2000 a.e.c. Os gatos não eram animais domésticos na Grécia clássica. Uma outra fonte dessa lenda parece ser o poema épico babilônico da Criação, o Enuma Elish, conforme o qual, na primeira versão de Damascius, a deusa Tiamat, seu consorte Apsu e seu filho Mummi (“confusão”) soltam Kingu e uma horda de outros monstros contra a recém-nascida trindade de deuses: Ea, Anu e Bei. Em seguida vem a fuga provocada pelo pânico, até que Bei reúne seus irmãos, controla a situação e derrota as forças de Tiamat, esmagando seu crânio com uma clava e partindo-a em dois “como um linguado”.
O mito de Zeus, Delfina e a pele de urso registra a humilhação de Zeus diante da Grande Deusa, adorada, como a Ursa, cujo oráculo principal estava em Delfos. Desconhece-se o momento histórico, mas os cadmeus da Beócia pareciam preocupados em manter o culto a Zeus. Os “frutos efêmeros” entregues aTífon pelas três Parcas são, ao que parece, as típicas maçãs da morte. Numa versão proto-hitita do mito, a serpente Illyunka vence o deus da tormenta e lhe arranca os olhos e o coração, que ele recupera mediante um estratagema. O Conselho Divino chama então a deusa Inara para executar a vingança. A seu convite, a serpente Illyunka vai a uma festa e come até empanturrar-se. Nisso, Inara a amarra com uma corda, e o deus da tormenta a aniquila.
O monte Casio (atualmente Jebel-el-Akra) é o monte Hazzi que aparece na história hitita de Ullikummi, o gigante de pedra que crescia a uma velocidade surpreendente e que recebera ordens do pai, Kumarbi, para destruir os setenta deuses do Céu. O deus da tormenta, o deus do Sol, a deusa da beleza e as demais divindades fracassaram em suas tentativas de matar Ullikummi, até que Ea, a deusa da sabedoria, utilizando-se da faca que originalmente separara o céu da terra, cortou os pés do monstro e jogou-os no mar. Certos elementos dessa história ocorrem no mito de Tífon e também no dos Aloídas, que cresciam com a mesma velocidade e utilizavam as montanhas como escadas para subir ao Céu. Os cadmeus foram provavelmente os que levaram essas lendas para a Grécia a partir da Ásia Menor.

Os estudos modernos sobre o orfismo chegaram a conclusões muito contrastantes entre si: a uma tendência que, com muita segurança, pensava poder reconstruir o fenômeno do orfismo nas suas várias dimensões e, até mesmo, explicar com o próprio orfismo não só grande parte da vida espiritual grega, mas também grande parte do pensamento filosófico (e que, conseqüentemente, foi justamente chamada de “panórfica”), se contrapôs uma tendência no sentido contrário e decididamente hipercrítica, a qual não só sistematicamente pôs em dúvida o fundamento de uma série de convicções comumente aceitas sobre o orfismo, mas reduziu radicalmente as suas influências até quase anulá-las, chegando a sustentar que certas teses consideradas tipicamente órficas devem, ao invés, ser consideradas invenções dos filósofos, em primeiro lugar de Pitágoras e, depois, de Empédocles e de Platão. Entre estas duas tendências extremas, a crítica busca hoje um justo equilíbrio, tentando evitar não só asserções que não sejam suficientemente críticas, mas também as hipercríticas e céticas em excesso.
Na verdade, trata-se de um equilíbrio bem difícil de alcançar, dado o estado verdadeiramente problemático da literatura órfica que nos chegou. Antes de tudo, deve-se observar que as obras integrais que nos foram transmitidas como órficas são falsificações de época muito tardia, situando-se provavelmente na época dos neoplatônicos e, portanto, cerca de um milênio posteriores ao orfismo original. Estas obras [175] são: 1) 87 hinos (precedidos de um poema) num complexo de 1.133 versos dedicados a várias divindades e distribuídos segundo uma ordem conceituai precisa, 2) um poema com o título Argonautas, composto de 1.376 hexâmetros épicos, 3) um pequeno poema de 774 versos, também em hexâmetros épicos, intitulado Líticos. Nos Hinos estão contidos, além de idéias órficas, teses extraídas do Pórtico e até mesmo de Fílon de Alexandria; nos Argonautas (dedicado à mítica viagem dos famosos heróis) as teses órficas são muito limitadas, enquanto nos Líticos (que tratam das virtudes mágicas das pedras), de órfico não há quase nada. É evidente, portanto, que tais obras só servem para compreender as posições de alguns epígonos do orfismo.
Para reconstruir as posições do orfismo primitivo, nosso interesse aqui, possuímos apenas testemunhos e fragmentos. Otto Kem, na sua coletânea de 1921, que permanece até hoje canônica, apresenta 262 testemunhos indiretos e 363 fragmentos, para um montante de mais de 600 versos. Mas também o valor deste material é muito heterogêneo. De fato, entre os testemunhos, só um pertence ao século VI, poucos são do século V e IV a.e.c., enquanto a maior parte pertence à tardia antigüidade. Quanto aos fragmentos, a sua genuinidade e antigüidade são muito dificilmente acertáveis, dado que nos foram transmitidos, na maioria dos casos, por autores pertencentes ao período tardo-antigo. [176]
A perplexidade dos estudiosos tem, pois, sérios fundamentos e é, indubitavelmente, correto usar de grande cautela crítica: todavia, o ceticismo em excesso não parece justificado.
Deve-se observar que já o poeta Ibico, no século VI a.e.c., fala de “Orfeu de nome famoso”, atestanto assim a grande notoriedade da personagem naquela época, o que só se explica supondo a existência e a difusão do movimento religioso que a ele se remetia. Eurípides e Platão atestam que na sua época corria um grande número de escritos sob o nome de Orfeu, referentes aos ritos e purificações órficas. De ritos e iniciações órficas nos falam Heródoto e Aristófanes. Mas talvez o mais interessante de todos os testemunhos é o de Aristóteles, segundo o qual Onomácrito pôs em versos doutrinas atribuídas a Orfeu. Ora, dado que Onomácrito viveu no século VI a.e.c., temos um ponto de referência seguro: no século VI a.e.c. se compunham seguramente escritos em versos sob o nome do mítico poeta e, portanto, existia um movimento espiritual que reconhecia em Orfeu o seu patrono e inspirador.
Mais difícil se apresenta a situação no que concerne à doutrina, dado que, de um lado, certas crenças que, como veremos, só podem ser órficas, nem sempre são qualificadas como tais pelas nossas fontes, e, de outro lado, os fragmentos diretos muito amiúde não são datáveis. Todavia, como veremos, considerando alguns testemunhos paralelos, pode-se chegar a uma elevada probabilidade de atribuir aos órficos certas doutrinas. Os numerosos versos órficos pertencentes à assim chamada teogonia rapsódica (Discursos sacros em vinte e quatro rapsódias), primeiro considerados genuínos, depois considerados falsificações de época tardo-antiga, são hoje reconsiderados sob nova luz: o autor da teogonia rapsódica parece ter utilizado um material antigo, sistematizando-o e completando-o. Mas um fato particularmente [177] importante demonstrou recentemente que a hipercrítica não se sustenta: um fragmento de teogonia, típica expressão do sentimento “panteísta” órfico, reportado no Tratado sobre o cosmo por Alexandre, atribuído a Aristóteles, considerado como composição da época helenística, assim como o Tratado, resultou muito mais antigo, a partir da descoberta de um papiro de Derveni, ocorrida em 1962. O papiro, de fato, pertence à época socrática, mas, dado que o carme é submetido a um comentário, isso quer dizer que, naquela época, ele já gozava de autoridade e notoriedade consideráveis e, portanto, pertencia a uma época ainda mais antiga.
Estas especificações eram indispensáveis para esclarecer a objetiva complexidade da situação, assim como a necessidade de fornecer uma abundante documentação mesmo num trabalho de síntese como é o nosso.
A novidade de fundo do orfismo
Nos documentos literários gregos que nos chegaram aparece pela primeira vez em Píndaro uma concepção da natureza e dos destinos do homem praticamente desconhecida aos gregos das épocas precedentes, e expressão de uma crença revolucionária sob muitos aspectos, a qual, justamente, foi considerada como elemento de um novo esquema de civilização. De fato, começa-se a falar da presença no homem de algo divino e não mortal, que provém dos deuses e habita no próprio corpo, de natureza antitética à do corpo, de modo que este algo só é ele mesmo quando o corpo dorme ou quando se prepara para morrer e, portanto, quando enfraquecem os vínculos com ele, deixando-o em liberdade.
Eis o célebre fragmento de Píndaro:
O corpo de todos obedece à poderosa morte, em seguida permanece ainda viva uma imagem da vida, pois só esta vem dos deuses: ela dorme enquanto os membros agem, mas em muitos sonhos [178] mostra aos que dormem o que é furtivamente destinado de prazer e de sofrimento1.
Os estudiosos há tempo observaram que esta concepção tem paralelos exatos, mesmo terminológicos, além de conceituais, por exemplo em Xenofonte, no final da Ciropédia, e num fragmento que nos chegou da obra exotérica de Aristóteles, Sobre a filosofia.
Eis a passagem de Xenofonte:
Quanto a mim, filhinhos, jamais consegui persuadir-me disso: que a alma, enquanto se encontra num corpo mortal, viva; quando se libertou dele, morra. Vejo, com efeito, que a alma torna vivos os corpos mortais por todo o tempo em que neles reside. E tampouco jamais me persuadi de que a alma seja insensível, uma vez separada do corpo, o qual é insensível. Antes, quando o espírito se separa do corpo, então, livre de toda mistura e puro, é logicamente mais sensível do que antes. Quando o corpo do homem se dissolve, vemos as partes individuais juntarem-se aos elementos da sua própria natureza, mas não a alma: só ela, presente ou ausente, foge à vista. Observai em seguida — prosseguiu —, que nenhum dos estados humanos é mais próximo da morte que o sono: e a alma humana então, melhor do que nunca, revela com clareza a sua natureza divina, prevendo o futuro, sem dúvida porque então é quando se encontra mais livre2.
Eis o fragmento aristotélico:
Aristóteles diz que a noção dos deuses tem nos homens uma dupla origem, do que acontece na alma e dos fenômenos celestes. Mais precisamente do que acontece na alma em virtude da inspiração e do poder profético, próprios a ela, que se produzem no sono. Quando, de fato, diz ele, no sono a alma se recolhe em si mesma, então, assumindo a sua verdadeira e própria natureza, profetiza e vaticina o futuro. Assim também ela é quando, no momento da morte, separa-se do corpo. E assim ele aprova o poeta Homero por ter observado o seguinte: representou a Pátroclo que, no momento de ser morto, vaticinou a morte de Heitor, e Heitor vaticinou o fim de Aquiles. De fatos deste gênero, diz ele, os homens suspeitaram que existe algo divino, que é em si semelhante à alma e, mais do que todas as outras coisas, é objeto de ciência3.
O novo esquema de crenças consiste, pois, numa concepção dualista do homem, que contrapõe a alma imortal ao corpo mortal e [179] considera a primeira como o verdadeiro homem ou, melhor dizendo, o que no homem verdadeiramente conta e vale. Trata-se de uma concepção, como foi bem notado, que inseriu na civilização européia uma nova interpretação da existência humana.
Não parece dubitável que esta concepção seja de origem órfica. Com efeito, Platão refere uma concepção, ligada estreitamente a esta, expressamente aos órficos, como fica claro desta passagem do Crátilo:
De fato alguns dizem que o corpo é túmulo [sema] da alma, como se esta estivesse nele enterrada: e dado que, por outro lado, a alma exprime [semainei] com ele tudo o que exprime, também por isso foi chamado justamente “sinal” [sema]. Todavia, parece-me que foram sobretudo os seguidores de Orfeu a estabelecer este nome, como se a alma expiasse as culpas que devia expiar, e tivesse em torno de si, para ser custodiada [sozetai], este recinto, semelhante a uma prisão. Tal cárcere, portanto, como diz o seu nome, é “custódia” [soma] da alma, enquanto esta não tenha pago todos os seus débitos, e não há nada a mudar, nem mesmo uma só letra4.
O conceito da divindade da alma resulta também central nas “lâminas áureas” encontradas em alguns túmulos, das quais se extrai que tal conceito constituía o fulcro da fé órfica.
Eis uma das lâminas encontradas em Turi:
Venho pura dos puros, ó rainha dos infernos,
Eucles e Eubuleu e vós, deuses imortais,
pois me orgulho de pertencer à vossa estirpe feliz;
mas a Moira me suplantou, e outros deuses imortais
... e o fulgor arrojado pelas estrelas.
Voei para fora do círculo que traz afano e opressora dor,
e subi com pés velozes para alcançar a desejada coroa, depois emergi no seio da Senhora, rainha das profundezas, e desci da desejada coroa com pés velozes,
“Feliz e bem-aventurado, serás deus e não mortal”. Cordeiro, caí no leite5.
Esta solene proclamação de que a alma pertence à estirpe dos deuses resulta ser também volta a ser tematizada em outras lâminas, e é expressa até com a mesma fórmula ou com uma fórmula de [180] significado totalmente análogo: “eu sou filha da terra e do céu cintilante”. Mas sobre isto voltaremos adiante.
Este novo esquema de crença, como dizíamos, estava destinado a revolucionar a antiga concepção da vida e da morte, como diz de modo paradigmático um célebre fragmento de Eurípides:
Quem sabe se o viver não é morrer e o morrer, viver?6
E Platão, no Górgias, partindo exatamente desta idéia, mostra toda a carga revolucionária da nova mensagem: ela postula uma nova concepção de toda a existência, e, em particular, postula uma mortificação do corpo e de tudo o que é próprio do corpo, e uma vida em função da alma e do que é a alma.
O orfismo e a crença na metempsicose
Já acenamos ao fato de que a opinião mais difundida dos estudiosos é que, na Grécia, foram os órficos a difundir a crença na metempsicose. Já Zeller, embora resistindo muito a admitir que os mistérios tivessem uma incidência de relevo sobre a filosofia, escrevia: “[...] em todo caso, parece seguro que, entre os gregos, a doutrina da transmigração das almas não veio dos filósofos aos sacerdotes, mas dos sacerdotes aos filósofos”.
Todavia, como alguns estudiosos contestaram este ponto, vale a pela esclarecê-lo, porque entre as vozes de dissenso (que, contudo, não são muitas) elevou-se a autorizada voz de Wilamowitz-Moellendorf.
Nenhuma fonte antiga nos diz expressamente que foram os órficos a introduzir a crença na metempsicose; antes, algumas fontes tardias dizem até mesmo que foi Pitágoras. [181]
Todavia, deve-se observar o seguinte: a) Píndaro conhece esta crença e não se pode demonstrar que ele a tenha derivado dos pitagóricos e não dos órficos; b) as antigas fontes, ademais, quando falam da metempsicose, referem-na como doutrina revelada por “antigos teólogos”, “adivinhos” e “sacerdotes”, ou usam expressões com as quais comumente aludem aos órficos; c) numa passagem do Crátilo, Platão menciona expressamente os órficos, atribuindo-lhes a doutrina do corpo como lugar de expiação da culpa original da alma, que pressupõe estruturalmente a metempsicose, e também Aristóteles refere expressamente aos ófficos doutrinas que implicam a metempsicose; d) algumas fontes antigas fazem depender expressamente Pitágoras de Orfeu e não vice-versa.
Eis dois fragmentos de Píndaro, cujo teor é já por si eloqüente, enquanto não parece remeter ao pitagorismo:
E daqueles de quem Perséfones aceitará a punição
pelo antigo luto, no nono ano restitui novamente
as almas ao esplendor do sol, no alto; delas surgem
reis augustos e grandes homens, subitâneos por força e sabedoria:
e heróis sagrados são chamados pelos mortais do tempo vindouro.
... Sim, se quem possui a riqueza conhece o futuro,
se sabe que os ânimos violentos dos mortos daqui logo
pagaram a pena — enquanto sob a terra alguém julga
os erros neste reino de Zeus, declarando
a sentença com hostil necessidade;
mas gozando da luz do sol em noites
sempre iguais e em dias iguais, os nobres recebem
uma vida menos difícil, sem turbar a terra com o vigor
da sua mão, nem a água marinha,
por uma vazia subsistência; e, ao invés — junto aos favoritos dos deuses que gozaram da fidelidade aos juramentos —
eles percorrem um trecho de vida sem lágrimas,
enquanto os outros suportam uma prova que o olhar não suporta. E os que tiveram a coragem de permanecer por três vezes
em um e no outro mundo, e guardar totalmente a alma
de atos injustos, percorreram até o fim a estrada de Zeus [182] para a torre de Crono: lá as brisas oceânicas sopram ao redor da ilha dos bem-aventurados...7.
Já o pitagórico Filolau — e isto é muito indicativo — escrevia: Atestam também os antigos teólogos e adivinhos que a alma está unida ao corpo para pagar alguma pena; e nele como numa tumba está sepultada8.
Platão, no Ménon, ao reportar a primeira passagem de Píndaro acima lida, escreve:
[...] Dizem, de fato, que a alma do homem é imortal, e que às vezes chega a um fim — o que chamam morte — às vezes ressurge novamente, mas nunca é destruída: justamente por isso é preciso transcorrer a vida da maneira mais sensata possível |...9.
E noutras passagens ele usa expressões análogas e, em particular, a expressão “discurso antigo”, com a qual só se podem entender os discursos sagrados dos órficos.
Análogas conclusões devem ser tiradas do seguinte fragmento aristotélico do Protrético:
Considerando estes erros e estas tribulações da vida humana, parece às vezes que viram algo aqueles antigos, seja profetas, seja intérpretes dos desígnios divinos na narração das cerimônias sagradas e das iniciações, os quais disseram que nascemos para pagar o preço de algum delito cometido numa vida anterior, e parece verdade o que se encontra em Aristóteles, ou seja, que sofremos um suplício semelhante ao que sofreram aqueles que em outros tempos, quando caíam nas mãos dos piratas etruscos, eram mortos com uma crueldade refinada: os corpos vivos eram atados aos mortos com a máxima precisão, adaptando a parte posterior de um vivo à parte posterior de um morto. E como aqueles vivos eram conjugados com os mortos, assim as nossas almas estão estreitamente ligadas aos corpos10.
Já lemos acima a passagem platônica do Crátilo, na qual os órficos são mencionados expressamente. Mas não menos interessante é a seguinte passagem aristotélica, tirada do tratado Sobre a alma, onde claramente se diz que os órficos admitiam uma preexistência da alma: [183]
A tal erro confronta-se também o discurso que se encontra na assim chamada poesia órfica: esta diz, com efeito, que a alma, levada pelos ventos, do universo penetra nos seres quando respiram, e não é possível que isto ocorra com as plantas, e nem mesmo com certos animais, enquanto nem todos os animais respiram: mas isto escapou àqueles que têm tais convicções11.
Depois, o fato de antigas fontes afirmarem que Pitágoras pôs em versos certas doutrinas, atribuindo-as a Orfeu, se não pode ser considerado literalmente, testemunha, todavia, qual era a mais antiga convicção sobre as relações entre os dois personagens.
A metempsicose tem, fundamentalmente, um significado moral, o qual é muito bem destacado já por Platão, além das páginas do Fédon conhecidas por todos, em duas passagens das Leis que convém ler:
Isto seja dito como prelúdio ao tratamento desta matéria, e acrescente-se a isso a tradição, à qual, quando ouvem falar disso, muitos daqueles, que nas iniciações aos mistérios se interessam por estas coisas, prestam muita fé, ou seja, que no Hades se dá uma punição por tais erros, e que os seus autores, voltando novamente, devem necessariamente pagar a pena natural, isto é, aquela de padecer o que fizeram, terminando assim por mãos de outros a nova vida12.
Aquele mito, portanto, ou tradição, ou como quer que se o deva chamar, diz claramente, como nos foi transmitido por antigos sacerdotes, que a vigilante justiça, vingadora do sangue dos parentes, segue a lei há pouco referida; e, portanto, estabeleceu que quem comete um delito deste gênero, deve necessariamente padecer o mesmo que fez: se mata o pai, deve suportar que o mesmo tratamento lhe seja um dia violentamente infligido por obra dos filhos; e se a mãe, ele deve necessariamente renascer como mulher e, mais tarde, deixar a vida por obra dos filhos: pois não há outra expiação do sangue delituosamente derramado, nem a mácula pode ser lavada sem que a alma culpada tenha pagado o assassinato com o assassinato, o semelhante com o semelhante, e tenha aplacado a ira de toda a parentela13.
Entre os estudiosos modernos, Dodds esclareceu melhor do que todos o significado destas passagens, do seguinte modo: “O castigo [184] de além-túmulo [...] não conseguia explicar por que os deuses aceitam a existência da dor humana e, em particular, a dor imerecida dos inocentes. A reencamação, ao invés, o explica: para esta não existem almas inocentes, todas pagam, em diversos graus, culpas de várias gerações, cometidas nas vidas anteriores. E toda esta soma de sofrimentos, neste mundo e no outro, é só uma parte da longa educação da alma, que encontrará o seu último termo na libertação do ciclo dos renascimentos e no retorno da alma à sua origem divina. Só deste modo, e sob a medida do tempo cósmico, pode ser realizada completamente, por cada alma, a justiça entendida no sentido arcaico, isto é, segundo a lei do ‘quem pecou pagará”’.
O fim último da alma segundo o orfismo
Se o corpo é prisão da alma, ou seja, lugar onde paga a pena de uma antiga culpa, e se a reencarnação é como a continuação desta pena, é claro que a alma deve libertar-se do corpo e, justamente, este é o seu fim último, o “prêmio” que lhe compete.
A literatura grega anterior ao século VI a.e.c. fala de castigos e prêmios no além, mas só em sentido muito restrito: trata-se, com efeito, de castigos por algumas culpas excepcionalmente graves e prêmios por méritos igualmente excepcionais; e, sobretudo, num e noutro caso, trata-se de destinos que tocam exclusivamente a alguns indivíduos, a pouquíssimos e, ademais, a indivíduos de épocas passadas. Em Homero, aos homens do presente, como já foi observado, não cabe nem prêmio nem castigo.
A revolução do orfismo é, pois, evidente, e é errado supervalorizar os antecedentes dos quais falamos: de fato, segundo a nova concepção, a todos os homens, sem exceção, compete um prêmio ou uma pena, segundo o modo como tenham vivido. Assim aquilo que era a exceção torna-se a regra, aquilo que era o caso privilegiado torna-se o destino comum a todos.
Desta nova crença, Píndaro, mais uma vez, nos oferece a primeira expressão completa. Na segunda Ode olímpica fala explicitamente [185] de um além, no qual os maus são implacavelmente julgados pelos seus erros e, conseqüentemente, condenados, enquanto os bons são premiados:
Para estes refulge o poder do sol, enquanto aqui embaixo é noite;
junto à cidade está a sua sede, nos prados das rosas vermelhas,
de sombrias plantas de incenso [...] e é carregada
[de árvores] de frutos de ouro; e uns se alegram
com os cavalos e os exercícios do corpo, outros com os jogos de xadrez, outros com o som da lira, e entre eles prospera em plenitude
a abundância: um perfume amável se difunde sobre aquela terra, enquanto levam sempre ao fogo, que de longe se distingue ofertas de todas as espécies sobre os altares dos deuses.
Píndaro, na verdade, vivifica o além com a sua acesa fantasia, valendo-se das cores do aquém (como é sabido, os estudiosos consideram que esta não foi a pessoal crença do poeta, mas, antes, a da pessoa à qual a sua poesia era dirigida) e, sobretudo, não nos diz qual é o destino supremo das almas dos bons. Isto, ao invés, é dito com toda clareza nas lâminas órficas.
Na lâmina encontrada em Hipônio, diz-se que a alma purificada no além fará um longo caminho pelas vias que percorrem também os outros iniciados e possuídos por Dionísio. Na lâmina encontrada em Petélia, diz-se que a alma reinará junto com outros heróis. Em uma das lâminas de Turi, diz-se que a alma purificada, assim como originariamente pertencia à estirpe dos deuses, será Deus e não mortal. Enfim, em outra lâmina de Turi, diz-se que de homem ela se tornará Deus.
Eis o texto desta bela lâmina:
Mas, apenas a alma abandona a luz do sol
à direita ... encerrando, ela que conhece tudo junto.
Alegra-te, tu que sofreste a paixão: antes não havias ainda sofrido isto De homem te tornaste Deus: cordeiro caíste no leite.
Alegra-te, alegra-te, tomando o caminho à direita
para os prados sagrados e os bosques de Perséfone14.
“De homem, nascerás Deus, porque do divino derivas”: eis a mais revolucionária novidade do novo esquema de crenças, cujo [186] acolhimento estava destinado a transformar o mais antigo significado da vida e da morte.
A teogonia órfica, o mito de Dionísio e os Titãs e a gênese da culpa original que a alma deve expiar
Não é tarefa nossa aprofundar-nos neste ponto na reconstrução da teogonia órfica, pois só indiretamente interessa ao tema principal que estamos tratando. Tal reconstrução resulta, ademais, muito complexa e incerta, pois apresenta diferentes variantes. Recordemos que a antigüidade tardia distinguia três diferentes teogonias órficas: a) a referida a Eudemo, discípulo de Aristóteles, b) a assim chamada de Jerônimo e de Helânico e c) a dos Discursos sagrados em vinte e quatro rapsódias (a assim chamada teogonia rapsódica), da qual já falamos. Dos poucos acenos de Platão e Aristóteles, unidos ao que nos restou de Eudemo, extraem-se apenas poucos traços, totalmente insuficientes; da teogonia de Jerônimo e de Helânico possuímos um breve resumo transmitido por Damásio. Da teogonia rapsódica possuímos numerosos fragmentos, sobre os quais, porém, gravam as pesadas hipotecas sobre as quais falamos no início.
A idéia de fundo das teogonias órficas é, em grande parte, a mesma da teogonia de Hesíodo. Nela se explica em nível mitológico e, portanto, fantástico-poético, o que era no princípio de tudo, como nasceram progressivamente os vários deuses e se instauraram os seus vários reinos, e a geração de todo o universo.
Com relação à teogonia hesiodiana, todavia, duas parecem ser as diferenças, uma e outra de considerável importância.
Em primeiro lugar, aquela parece ser, embora sob a capa mítica, mais conceituai, como já notava Rohde: “Atendo-se claramente àquela antiqüíssima teologia grega que se recolhera no poema hesiodiano, estas Teogonias órficas descreviam o devir e o desenvolvimento do [187] mundo, dos obscuros impulsos primitivos até a variedade bem determinada do cosmo ordenado à unidade; e o descreviam como a história de uma longa série de potências e figuras divinas que, desenvolvendo-se uma de outra e uma superando a outra, revezam-se na obra de formar e governar o mundo e absorvem em si o Todo, para restituí-lo, depois, animado por um único espírito e Uno na sua infinita pluralidade. Certamente estes não são mais deuses do antigo tipo grego. Não só as divindades recriadas pela fantasia órfíca e subtraídas, pela força do símbolo, à possibilidade de uma clara representação sensível, mas também as figuras tiradas do Olimpo grego são aqui pouco menos que personificações de conceitos. Quem reconheceria o Deus de Homero no Zeus órfico, o qual, absorvendo em si o deus que está em toda parte, e tendo ‘assumido a força de Eripeu, tornou-se por sua vez o Todo: ‘Zeus é o princípio, o meio é Zeus, em Zeus o Todo se cumpre’. Aqui o conceito alarga de tal modo a personalidade, que ameaça fazê-la explodir; ele tira os contornos às figuras individuais e, com sábia ‘mistura de deuses’, confunde-os entre si”.
Ora, o que dizia Rohde, ao nosso ver, adquire hoje importância ainda maior, pois o fragmento de teogonia ou, pelo menos, o carme em que Zeus é chamado de princípio, meio e fim, e no qual parece perder as suas aparências míticas para se tornar o Todo e o fundamento do Todo, resulta ser do século V a.e.c., como já recordamos.
Eis o fragmento:
Zeus nasceu primeiro, Zeus do fulgurante brilho é o último; Zeus é a cabeça, Zeus é o meio: por Zeus tudo se cumpre; Zeus é o fundo da terra e do céu brilhante;
Zeus nasceu varão, Zeus imortal foi menina;
Zeus é o sopro de todas as coisas, Zeus é o ímpeto do fogo imperecível. Zeus é a raiz do mar, Zeus é o sol e a lua;
Zeus é o rei, Zeus do fulgurante brilho é o dominador de todas as coisas: de fato, depois de ter escondido todos, novamente do coração sagrado trouxe-os à luz cheia de alegria, operando ruínas15.
Em segundo lugar, como sobretudo Guthrie observou, as teogonias órficas, diferentemente da hesiodiana, terminavam com o mito de [188] Dionísio e os Titãs (do qual logo falaremos) e com a explicação das origens dos homens, assim como do bem e do mal que neles existem. Por conseqüência, enquanto “uma [isto é, a teogonia hesiodiana] não poderia nunca se tornar uma doutrina de base para a vida espiritual, a outra [isto é, a teogonia órfica] podia constituir esta doutrina, e com efeito a constituía”.
Ora, a idéia de fundo da parte final da teogonia era a seguinte. Dionísio, filho de Zeus, foi triturado e devorado pelos Titãs, os quais, por punição, foram queimados e incinerados pelo próprio Zeus, e das suas cinzas nasceram os homens.
É evidente em que sentido e medida este mito pode constituir a base de uma ética. Ele explica a constante tendência ao bem e ao mal presente nos homens: a parte dionisíaca é a alma (e liga-se a ela a tendência ao bem), a parte titânica é o corpo (e liga-se a ela a tendência ao mal). Daqui deriva a nova tarefa moral de libertar o elemento dionisíaco (a alma) do elemento titânico (o corpo). A reencarnação e o ciclo dos renascimentos são, portanto, a punição desta culpa, e estão destinados a continuar até que o homem se liberte da própria culpa.
Alguns estudiosos puseram em dúvida a antigüidade deste mito, não considerando suficiente o testemunho de Pausânias, que o relaciona a Onomácrito (portanto, ao século VI a.e.c.), e notando que a expressa conexão do elemento dionisíaco com a alma só se encontra nos neoplatônicos. Mas, ao contrário, foi observado que a natureza seguramente arcaica do mito, assim como alguns acenos de Platão (que não se podem explicar a não ser supondo que aludam a este mito) garantem a sua autenticidade.
O mistério do homem e o seu sentimento de ser um misto de divino e beluíno, com os opostos impulsos e as contrastantes tendências, eram assim explicados de modo verdadeiramente radical. Platão tirará inspiração desta intuição e, transpondo-a e fundando-a no plano metafísico, construirá a visão do homem “em duas dimensões”, da qual falaremos amplamente, que condicionou largamente o pensamento ocidental. [189]
As iniciações e as purificações órficas
Para concluir, devemos ainda acenar às práticas que os órficos uniam a estas crenças, e às quais atribuíam essencial importância.
Nessas práticas podemos distinguir dois momentos: o que implicava a participação em ritos e cerimônias e o que comportava a adesão a um certo tipo de vida, cuja regra fundamental era abster-se de comer carne.
Nas cerimônias de iniciação, provavelmente, representava-se e imitava-se o assassinato e o dilaceramento de Dionísio pelos Titãs, realizavam-se ritos e pronunciavam-se fórmulas de caráter mágico.
A purificação da culpa, em suma, era em larga medida confiada ao elemento não racional ou, como dissemos, mágico.
Já Pitágoras e os pitagóricos, embora conservando ainda muitos elementos deste gênero, começaram a atribuir à música e, posteriormente, à ciência o meio de purificação, como vimos acima. Mas a grande revolução foi operada, mais uma vez, por Platão, o qual, numa passagem exemplar do Fédon, teorizou, de maneira esplêndida, que a verdadeira força purificadora está na filosofia, e apresentou esta sua asserção como a verdade da antiga intuição órfica.
Eis a célebre passagem:
E certamente não foram tolos aqueles que instituíram os Mistérios: e na verdade já dos tempos antigos nos revelaram de maneira velada que aquele que chega ao Hades sem ter-se iniciado e sem ter-se purificado jazerá em meio à lama; ao invés, aquele que se iniciou e se purificou, chegando lá, habitará com os deuses. De fato, os intérpretes dos mistérios dizem que ‘os portadores de tirso são muitos, mas são poucos os Bacantes’. E estes, penso eu, não são senão aqueles que praticam retamente a filosofia16. [190]

Já foi há muito tempo observado que o antecedente da cosmologia filosófica é constituído pelas teogonias e cosmogonias mítico-poéticas, das quais é muito rica a literatura grega, e cujo protótipo paradigmático é a Teogonia de Hesíodo, a qual, explorando o patrimônio da precedente tradição mitológica, traça uma imponente síntese de todo o material, reelaborando-o e sistematizando-o organicamente. A Teogonia de Hesíodo narra o nascimento de todos os deuses; e, dado que alguns deuses coincidem com partes do universo e com fenômenos do cosmo, além de teogonia ela se torna também cosmogonia, ou seja, explicação fantástica da gênese do universo e dos fenômenos cósmicos.
Hesíodo imagina, no proêmio, ter tido, aos pés do Hélicon, na Beócia, uma visão das Musas, e ter recebido delas a revelação da verdade da qual ele se faz, mediatamente, arauto. Em primeiro lugar, diz ele, gerou-se o Caos, em seguida gerou-se Gea (a Terra), em cujo seio amplo estão todas as coisas, e nas profundidades da Terra gerou- se o Tártaro escuro, e, por fim, Eros (o Amor) que, depois, deu origem a todas as outras coisas. Do Caos nasceram Erebo e Noite, dos quais se geraram o Éter (o Céu superior) e Emera (o Dia). E da Terra sozinha se geraram Urano (o Céu estrelado), assim como o mar e os montes; depois, juntando-se com o Céu, a Terra gerou Oceano e os rios.
Procedendo no mesmo estilo, Hesíodo narra a origem dos vários deuses e numes divinos. Zeus pertence à última geração: de fato, foi gerado de Crono e de Rea (que, por sua vez, tinham sido gerados da Terra e de Urano); e, como Zeus, fazem parte da última geração todos os outros deuses do Olimpo homérico, vale dizer, os deuses que o grego então venerava.
Ora, como dissemos, é indubitável que a Teogonia de Hesíodo e, em geral, as representações teogônico-cosmológicas são o antecedente da cosmologia filosófica; todavia, é igualmente indiscutível que entre essas tentativas e a cosmologia filosófica (mesmo a mais primitiva, isto é, a de Tales) há uma nítida diferença. Para compreender a diferença entre uma e outra, voltemos às três características que acima indicamos como distintivas da filosofia, ou seja, a) a representação da totalidade do real, b) o método de explicação racional, c) o puro [41] interesse teórico. Ora, não há dúvida de que as teogonias possuem a primeira e a terceira dessas características, mas carecem da segunda, que é qualificante e determinante. Elas procedem com o mito, com a representação fantástica, com a imaginação poética, com intuitivas analogias sugeridas pela experiência sensível; portanto, permanecem aquém do lógos, ou seja, aquém da explicação racional.
E quando Aristóteles disse que o amante do mito é de algum modo filósofo1, disse-o referindo-se exatamente ao fato de que, como a filosofia, o mito nasce para satisfazer a admiração ou o puro desejo de saber, não por fins pragmáticos2: mas o mito permanece mito, parente da filosofia, não filosofia.
É dado que sobre este ponto, recentemente, se discutiu, e alguns acreditaram poder negar a existência dessa diferença, é bom que nos detenhamos em reafirmar alguns conceitos que consideramos essenciais. Jaeger escreveu: “Na Teogonia hesiodiana reina de alto a baixo o mais obstinado intelecto construtivo, com toda a coerência de um ordenamento e de uma pesquisa racional. Na sua cosmologia, por outra parte, há ainda uma força inata de intuição mítica, a qual permanece eficaz, além do limite no qual costumamos apontar o começo do reino da filosofia ‘científica’, nas doutrinas dos ‘físicos’ e sem a qual nos resultaria incompreensível a maravilhosa fecundidade filosófica daquele antiquíssimo período científico. As forças naturais de atração e de repulsão da doutrina de Empédocles, o Amor e o Ódio, têm a mesma origem espiritual do Eros cosmogônico de Hesíodo. O início da filosofia científica não coincide, pois, nem com o do pensamento racional nem com o fim do pensamento mítico. Encontramos ainda a mais genuína mitogonia no núcleo da filosofia de Platão e de Aristóteles, como no mito platônico da alma ou na intuição aristotélica do amor das coisas para com o motor imóvel do mundo”3. Mas Jaeger é vítima de uma ilusão de ótica: ninguém nega que antes do advento da filosofia existisse a razão e ninguém afirma que na Teogonia hesiodiana (assim como na épica homérica) não existam mais que mito e fantasia e nada de razão; assim como ninguém nega, ao contrário, que na filosofia permaneçam por muito tempo elementos míticos e fantásticos. Mas o ponto essencial está no papel determinante que desempenham uns e outros fatores; e veremos logo que, enquanto em Hesíodo ou nos autores de teogonias, o papel determinante é dado ao elemento fantástico-poético-mitológico, em Tales será, ao invés, dado ao lógos e à razão: e é precisamente por isso que a tradição chamou Tales de primeiro filósofo, dando-se perfeitamente conta de que no seu discurso algo mudara radicalmente com relação ao discurso dos poetas, e que esse algo assinalava a passagem do mito ao lógos.
De resto, note-se que na Teogonia hesiodiana falta exatamente o ponto que qualifica a cosmologia filosófica, vale dizer, a tentativa de individuar o primeiro princípio imprincipiado, a fonte absoluta de tudo. E o próprio Jaeger, contradizendo a tese da qual falamos acima, revela-o escrevendo: “O pensamento genealógico de Hesíodo considera advindo também o caos. Ele não diz: no princípio era o caos, mas: primeiro adveio o caos, depois a terra etc. Neste ponto se apresenta a questão de se não deve haver também um início do devir que, por sua vez, não seja advindo. A tal questão Hesíodo não responde, nem sequer a põe. Isso pressupõe uma lógica de pensamento ainda muito longe dele”4.
Mas, note-se, não põe a questão e não pode pô-la, justamente porque a fantasia, que se alimenta do sensível e das analogias extraídas do sensível, quando chega ao caos se apaga, e, não sabendo mais imaginar formas ulteriores, se detém; e a fantasia pode se representar como gerando o próprio caos, vale dizer, a realidade primeira, justamente porque vê que tudo é gerado (deuses e coisas); para representar-se isso em sentido contrário, ela deveria ir contra si mesma e, portanto, negar-se. E é exatamente isso que fará a filosofia desde o seu nascimento: irá contra a fantasia, a imaginação e os sentidos e inferirá suas figuras especulativas com a força do lógos, contestando o mito e as aparências sensíveis, criando algo completamente novo.
E quando se diz que a Teogonia é de grande importância para o advento da futura filosofia, diz-se algo justo: mas o advento da filosofia pressupõe a aquisição do novo plano do lógos, isto é, uma revolução, como em seguida veremos.

Regressemos a esse outro método de investigação, de decifração da vida humana e do mundo — a tragédia grega. Tanto quanto a ciência e a filosofia, a tragédia apresenta-se como um modo de explicação e de conhecimento do mundo. E de facto o é, nessa idade ainda religiosa do pensamento grego que é a segunda metade do século V. Nessa época são ainda raros os pensadores e os poetas que para resolver os problemas da vida humana os não apresentem à luz cintilante do céu, não os entreguem à vontade imperiosa dos seus habitantes. Sófocles, entre todos, é crente — crente contra ventos e marés, crente contra as evidências da moral e a ambiguidade do destino. Um mito parece ter acompanhado a longa e vigorosa velhice do poeta: o mito de Édipo, terrível mais que nenhum outro, que fere o senso humano da justiça como parece ferir a fé. Sófocles, a quinze anos de distância, trava duas vezes luta com este mito. Em 420 escreve Rei Édipo: tem setenta e cinco anos. Em 405, aos noventa anos, retoma, sob uma forma nova, quase o mesmo assunto, como se hesitasse ainda sobre o desenlace que lhe dera: escreve Édipo em Colono. Quer ir até ao fim do seu pensamento, quer saber, no fim de contas, se sim ou não os deuses podem castigar um inocente... Saber o que será do homem num mundo que tais deuses governam.
Conhece-se o tema do mito. Um homem assassina seu pai, sem saber que ele é seu pai; casa com a mãe por acidente. Os deuses punem-no destes crimes, para que o tinham destinado antes mesmo que ele tivesse nascido. Édipo acusa-se destas faltas, de que nós o não consideramos responsável, proclama a sabedoria da divindade... Estranha religião, moral chocante, situações [375] inverosímeis, psicologia arbitrária. Pois bem: Sófocles quer explicar ao seu povo esta história extravagante, este mito escandaloso. Quer, sem os despojar do seu carácter inelutável, inserir neles uma resposta do homem, que. de alto a baixo, lhes modifique o sentido.
I
"Vê, espectador, com a corda dada até ao fim, de tal modo que a mola se desenrola com lentidão ao longo de toda uma vida humana, uma das mais perfeitas máquinas construídas pelos deuses infernais para o aniquilamento matemático de um mortal."
Com estas palavras se ergue, em Cocteau, o pano deste Édipo moderno que o autor tão rigorosamente intitulou A Máquina Infernal. O título valeria também para a obra antiga. Pelo menos exprimiria ao mesmo tempo o seu sentido mais aparente e a sua progressão.
Sófocles, com efeito, constrói a acção do seu drama como se monta uma máquina. O êxito da montagem do autor rivaliza com a habilidade de Aquele que dispôs a armadilha. A perfeição técnica do drama sugere, na sua marcha rigorosa, a progressão mecânica desta catástrofe tão bem composta por Não-Se-Sabe-Quem. Máquina infernal, ou divina, feita para dissociar até à explosão a estrutura interna de uma felicidade humana — é um prazer ver todas as peças da acção, todas as molas da psicologia ordenarem-se umas às outras de maneira a produzirem o resultado necessário. Todas as personagens, e Édipo em primeiro lugar, contribuem, sem o saber, para a marcha inflexível do acontecimento. Elas próprias são peças da máquina, correias e rodas da acção que não poderia avançar sem a sua ajuda. Ignoram tudo da função que Alguém lhes destinou, ignoram o fim para, que avança o mecanismo em que estão empenhados. Sentem-se seres humanos autónomos, sem relação com esse engenho cuja aproximação distinguem vagamente ao longe. São homens ocupados nos seus assuntos pessoais, na sua felicidade corajosamente ganha por uma honesta prática do ofício de homem — pelo exercício da virtude... E de repente descobrem a poucos metros essa espécie de enorme tanque que puseram em movimento sem saber, que é a sua própria vida que marcha sobre eles para os esmagar. [276]
A primeira cena do drama apresenta-nos a imagem de um homem no ornáculo da grandeza humana. O rei Édipo está nos degraus do seu palácio. De joeIhos, o seu povo dirige-lhe uma súplica pela voz de um sacerdote. Uma desgraça caiu sobre Tebas, uma epidemia destrói os germes da vida. Noutro tempo Édipo libertara a cidade da esfinge. Cabe-lhe salvar outra vez a terra, que é, aos olhos dos seus súbditos, "o primeiro, o melhor dos homens". Arrasta atrás de si o cortejo magnífico das suas acções passadas, das suas proezas, dos seus benefícios. Sófocles não fez deste grande rei um princípe orgulhoso, uma senhor duro. embriagado pela fortuna. Apenas lhe atribui sentimentos de bondade, gestos de atenção para o seu povo. Antes mesmo que viessem implorar, ele reflectira e agira. Édipo enviara a Delfos Creonte, seu cunhado, a consultar o oráculo, marcando assim o seu habitual espírito de decisão. Agora, ao apelo dos seus, comove-se e declara que sofre mais do que nenhum dos tebanos, pois é por Tebas inteira que sofre. Sabemos que diz a verdade. Sente-se responsável pela pátria que dirige e que ama. A sua figura encarna, desde o começo do drama, as mais altas virtude do homem e do chefe. Para o ferirem, os deuses não podem alegar orgulho ou insolência. Tudo e autêntico neste homem; nesta alta fortuna, tudo é merecido. Primeira imagem que se grava em nós. No mesmo lugar, no alto da escadaria, aparecerá, na última cena, o proscrito de olhos sangrentos — imagem de um cúmulo de miséria que sucede a um cúmulo de grandeza.
Esperamos esta reviravolta: conhecemos o desenlace deste destino. Desde o princípio da peça que certos toques de ironia — essa "ironia trágica" que dá o seu tom ao poema — se pousam sobre as palavras das personagens, sem que elas o saibam, e nos advertem. Estas, com efeito, ignorantes do drama antigo em que tiveram a sua parte, drama já cumprido e que não tem de trazer à luz do dia o seu horror, pronunciam tal ou tal palavra que para elas tem um sentido banal e tranquilizador, um sentido em que as vemos apoiar-se confiantemente. Ora, esta mesma palavra, para o espectador que sabe tudo, passado e futuro, tem um sentido inteiramente diferente, um sentido ameaçador. O poeta toca o duplo registo da ignorância da personagem e do conhecimento do espectador. Os dois sentidos ouvidos ao mesmo tempo são como duas notas confundidas numa horrível dissonância. Não se trata, aliás, de um simples processo de estilo. Sentimos essas palavras irônicas como se elas se formassem nos lábios ias personagens, sem que estas o saibam, pela acção da potência misteriosa escondida atrás do acontecimento. Um deus troça da falsa segurança dos homens... [277]
A construção da sequência do drama é uma sucessão de quatro "episódios em que, de cada vez, o destino desfere em Édipo um novo golpe. O último derruba-o.
Esta composição é tão clara que o espectador logo de entrada vê a direcção e o fim dela. Vê esses quatro passos que o destino dá ao encontro do herói trágico. Não pode imaginar de que maneira o deus vai ferir o homem, uma vez que o poeta inventará de cada vez uma situação que a lenda não conhecia. Mas compreende de golpe a ligação dos episódios entre si, a coerência das quatro cenas sucessivas pelas quais a acção progride à maneira de um movimento de relojoaria. Para Édipo, pelo contrário, tudo o que, aos olhos do espectador, é sequência lógica, execução metódica de um plano concertado pelo deus, apresenta-se como uma série de incidentes, de acasos cujo encadeamento ele não pode distinguir e que, a seus olhos, apenas interrompem ou desviam a marcha rectilínea que ele deve seguir na sua busca do assassino de Laio. Édipo é ao mesmo tempo conduzido por uma mão de ferro, e em linha recta com efeito, para um fim que não distingue, para um culpado que é ele próprio, e contudo perdido em todos os sentidos em pistas divergentes. Cada incidente lança-o numa direcção nova. Cada golpe o aturde, por vezes de alegria. Nada o adverte. Há pois, na marcha da acção, dois movimentos distintos que nós seguimos simultaneamente: por um lado o avanço implacável de um raio luminoso no coração das trevas, por outro lado a marcha às apalpadelas, a marcha rodopiante de um ser que esbarra na escuridão com obstáculos invisíveis, progressivamente atraído, sem que o sonhe, para o foco luminoso. De súbito as duas linhas cortam-se: o insecto encontrou a chama. Num instante tudo acabou. (Ou parece ter acabado... Será ainda desse foco desconhecido que vem agora a luz, ou do homem fulminado?...)
O primeiro instrumento de que o destino se serve para ferir é o adivinho Tirésias. Édipo mandou vir o velho cego para ajudar a esclarecer o assassínio de Laio. Apolo determina, para salvação de Tebas, a expulsão do assassino. Tirésias sabe tudo: o cego é o vidente. Ele sabe quem é o autor do assassínio de Laio, sabe mesmo que é Édipo e que este é filho de Laio. Mas como o dira ele? Quem acreditará? Tirésias recua diante da tempestade que a verdade levantaria. Recusa-se a responder, e esta recusa é natural. É igualmente natural que esta recusa irrite Édipo. Tem diante de si um homem que só tem uma [278] palavra a dizer para salvar Tebas, e esse homem cala-se. Que pode haver de mais escandaloso para o bom cidadão que é Édipo? Que pode haver de mais suspeito? Uma só explicação se apresenta: Tirésias foi cúmplice do culpado a quem procura cobrir com o seu silêncio. Ora, a quem aproveitaria este silêncio? A Creonte, herdeiro de Laio. Conclusão: Creonte é o assassino procurado. Édipo julga subitamente o seu inquérito próximo do fim, e encoleriza-se contra Tirésias cujo silêncio lhe barra o caminho, e que lhe recusa, porque sem duvida esteve metido na conspiração, os indícios de que precisa.
Esta acusação levantada pelo rei contra o sacerdote engendra, por sua vez, com igual necessidade, uma situação nova. O jogo psicológico, conduzido com rigor, faz avançar a máquina infernal. Tirésias, ultrajado, não pode fazer outra coisa senão proclamar a verdade: "O assassino que procuras, és tu mesmo..." Eis o primeiro golpe desferido, eis Édipo posto em presença dessa verdade que e!e persegue e que não pode compreender. Na sequência da cena, que sobe com o fluxo da cólera, o adivinho vai mais longe: entremostra um abismo de verdade ainda mais terrível: "O assassino de Laio é tebano. Matou seu próprio pai. mancha o leito de sua mãe." Mas Édipo não pode apreender esta verdade que Tirésias lhe oferece. Ele bem sabe que não matou Laio, que é filho de um rei de Corinto, que nunca teve nada com a terra tebana antes do dia em que, adolescente, a salvou da esfinge. Entra em casa aturdido, mas não abalado. Vai lançar-se com o seu costumado ardor na nova pista que o destino lhe aponta — a conspiração imaginária de Creonte.
Jocasta é o instrumento escolhido pela divindade para dar em Édipo o segundo golpe. A rainha intervém na disputa que rebenta entre o marido e o irmão. Quer acalmar o rei, tranquilizá-lo sobre as declarações de Tirésias. Pensa consegui-lo ao dar-lhe uma prova evidente da inanidade dos oráculos. Em tempos, um adivinho predissera a Laio que ele pereceria pela mão de um filho. Ora este rei foi assassinado por bandidos, numa encruzilhada, durante ama viagem que ele fazia pelo estrangeiro — e o único filho que ele jamais tivera fora exposto na montanha para aí morrer, três dias após o nascimento. Eis o crédito que se pode dar aos adivinhos.
Estas palavras de Jocasta, destinadas a sossegar Édipo, são aquelas que, precisamente, pela primeira vez, vão morder a certeza que ele tem da sua inocência. Na máquina infernal havia uma pequena mola que podia transformar a firmeza em dúvida, a segurança em angústia. Sem o saber, Jocasta tocou nessa mola. Deu sobre a morte de Laio um desses pormenores insignificantes [279] que se metem numa narrativa sem pensar: disse, de pasagem, que Laio fora assassinado "numa encruzilhada". Este pormenor mergulhou no subconsciente de Édipo, removeu toda uma massa esquecida de lembranças. O rei revê subitamente essa encruzilhada de uma antiga viagem, essa disputa que tivera com o condutor de uma atrelagem, esse velho que lhe batera com um chicote, a sua brusca cólera de homem vigoroso e o golpe que desferira... Terá Tirésias dito a verdade? Não que Édipo tenha ainda a menor suspeita da rede de acontecimentos que o levaram àquela encruzilhada. Na narração de Jocasta, uma vez ouvidas as palavras a respeito da "encruzilhada de três caminhos Édipo, todo entregue às suas recordações, deixou passar a frase, aquela que falava da criança exposta, que poderia obrigar o seu pensamento a meter por um caminho muito mais temeroso. É-lhe pois impossível supor que tenha podido matar seu pai, mas é obrigado a admitir que pode ter matado Laio. Édipo persegue Jocasta com perguntas. Espera encontrar no assassínio que ela lhe conta uma circunstância que não concorde com o assassínio que ele se lembra agora de ter cometido. "Onde era essa encruzilhada?" O lugar concorda "Em que época foi esse crime?" O tempo concorda. "Como era esse rei? Que idade tinha?" Jocasta responde: "Era alto. A cabeça começava a embranquecer. Depois, como se o notasse pela primeira vez: "Parecia-se um pouco contigo. Compreende-se aqui o poder da ironia trágica e qual o sentido, ignorado de Jocasta, que o espectador dá a esta semelhança... Um pormenor, contudo, não acerta. O único servo escapado ao extermínio da encruzilhada declarara (adivinhamos que ele mentiu para se desculpar) que o seu senhor e os seus companheiros tinham sido mortos por um grupo de bandidos. Édipo sabe que estivera sozinho. Manda chamar o servo. Agarra-se a este pormenor falso, ao passo que o espectador espera precisamente deste encontro a catástrofe.
Terceira ofensiva do destino: o mensageiro de Corinto. No decurso da cena anterior, Édipo falara a Jocasta de um oráculo que lhe fora dado na juventude: ele devia matar o pai e casar com a mãe. Por causa disso deixara Corinto e tomara o caminho de Tebas. Eis que um mensageiro lhe vem anunciar a morte do rei Políbio, esse pai que ele devia assassinar. Jocasta triunfa: "Mais um oráculo mentiroso!" Édipo partilha da sua alegria. Recusa-se contudo a regressar a Corinto, com medo de se expor à segunda ameaça do deus. O mensageiro procura tranquilizá-lo. Como Jocasta ainda há pouco, vai. com as melhores intenções, pôr a funcionar uma peça da máquina e precipitar a catástrofe. "Porque hás-de recear o leito de Mérope?", diz. "Ela não é tua [280] mãe." Mais adiante: "Políbio era tanto teu pai como eu." Nova pista divergente oferecida à curiosidade de Édipo. Precipita-se por ela. Agora está a cem léguas do assassínio de Laio. Só pensa — com uma alegre excitação — em desvendar o segredo do seu nascimento. Aperta o mensageiro com perguntas. O homem diz-lhe que ele próprio o entregara, criancinha ainda, ao rei de Corinto. Recebera-o de um pastor do Citerão, servo de Laio.
De golpe, Jocasta compreendeu. Num relâmpago, junta os dois oráculos falsos numa só profecia verídica. Ela é a mãe da criança exposta: nunca esquecera a sorte do pequeno infeliz. Eis porque, ao ouvir esta outra história de criança exposta — a mesma história —, é a primeira a compreender. Édipo, pelo contrário, deu pouca atenção à sorte do filho de Laio, se é que ouviu o pouco que Jocasta lhe havia dito. Por outro lado, só o enigma do seu nascimento o preocupa naquele momento e o desvia de todo o resto. Em vão Jocasta lhe suplica que não force este segredo. Leva o pedido à conta da vaidade feminina: a rainha teme certamente ter de vir a corar do nascimento obscuro do marido.
Obscuridade de que ele se glorifica.
"Filho afortunado do destino, o meu nascimento não me desonra. A boa estrela é minha mãe e o decurso dos anos me fez grande, de ínfimo que era." E isto é verdade: ele foi grande. Mas esta grandeza que é sua obra de homem, o destino a que ele a liga só lha concedeu para lha tirar — e troçar dele.
O destino dá o seu primeiro golpe. Basta a confrontação, presidida por Édipo, do mensageiro de Corinto e do pastor de Citerão que lhe entregara a criança desconhecida. Por um hábil arranjo do poeta, este pastor é o servo salvo do drama da encruzilhada. A preocupação da economia que marca aqui Sófocles concorda com o estilo sóbrio da composição. Um drama em que os golpes se sucedem com tanta precisão e rapidez nada pode tolerar de supérfluo.
Por outro lado, o poeta quiz que Édipo soubesse ao mesmo tempo e com uma so palavra toda a verdade. Não em primeiro lugar que era o assassino de Laio e só depois que Laio era seu pai. Uma catástrofe em dois tempos não teria a intensidade dramática do desenlace que — pelo facto de que uma só personagem detém toda a verdade — vai rebentar, num único e terrível som de trovão, sobre a cabeça de Édipo. Quando o rei sabe pelo servo do pai que é o filho de Laio, nem sequer precisa de perguntar quem matou Laio. A verdade torna-se de súbito cegante. E ele corre a cegar-se a si próprio.
Então — enforcada Jocasta — oferece-se a nós a imagem nova daquele que foi "o primeiro dos homens": a Face de olhos mortos. Que tem ela para nos dizer? [281]
Toda a última parte do drama — após o terrível relato dos ganchos furando as pupilas em golpes repetidos — é o lento final de um poema cujo andamento fora até aqui cada vez mais precipitado. O destino satisfeito suspende a sua carreira e restitui-nos a respiração. O movimento vertiginoso da acção imobiliza-se de súbito em longos lamentos líricos, em adeuses, em pesares, em retornos sobre si mesmo. Não pensemos que por isto a acção se detém ou apenas se interioriza, nesta conclusão do drama, no próprio coração do herói. O lirismo é aqui acção: é activa meditação de Édipo sobre o sentido da sua vida, e o reajustamento da sua pessoa à presença do universo que o evento lhe descobre. Se a "máquina infernal" executou magnificamente a operação do "aniquilamento matemático" de uma criatura humana, eis que neste ser aniquilado através do nosso horror, a acção vai retomar a sua marcha, seguir a lenta via das lágrimas e, contrariamente à nossa expectativa, desabrochar em piedade fraternal, florir em coragem.
Para os modernos, toda a tragédia acaba em catástrofe. Rei Édipo parece-lhes a obra-prima do género trágico, porque o seu herói parece afundar-se no horror. Mas esta interpretação é falsa: esquece todo esse fim lírico em que se situará a resposta de Édipo. Enquanto não for validamente explicada ests conclusão de Rei Édipo, magnífica em cena, outra coisa se não terá feito sem alterar o setido deste grande poema: na verdade Rei Édipo não terá sido compreendido.
Mas olhemos esse ser que avança tacteando e cambaleando. Está ele realmente aniquilado? Iremos nós comprazer-nos em contemplar nele o horror de um destino sem nome? "Povo mortal, o mundo pertence ao Destino, resigna-te!" Não, nenhuma tragédia grega — e nem sequer Édipo — convido, jamais um público ateniense a esta resignação, bandeira branca da derrota consentida. Para além do que parece gritos de desespero, protesto de abandono, encontraremos essa "força de alma" que é o duro núcleo de resistência inquebrável desse velho (Sófocles-Édipo) e do seu povo. Sentimos já que nesse ser votado ao aniquilamento, a vida bate ainda: ela reaprenderá a sua marcha. Édipo vai erguer como novas armas essas pedras com que o Destino o lapidou, revive para se bater de novo, mas numa perspectiva mais justa da sua condição de homem. É esta perspectiva nova que ele descobre na última parte de Rei Édipo.
A tragédia Rei Édipo abre-nos pois na quarta e última parte do seu percurso horizontes que não tínhamos sequer suspeitado ao princípio. Todo [282] drama, desde o primeiro instante, nos tinha falaciosamente tendido para a angústia do minuto em que Édipo conheceria o sentido da sua vida passada: parecia todo ele concebido e dirigido para produzir esse sábio crime concertado pelos deuses, que é o verdadeiro crime da peça — o assassínio de um inocente.
"Parecia..." Mas, não. O poeta revela-nos nesta conclusão do drama, pela ampla beleza desse fuste lírico com que coroa a sua obra, que o termo, o fim dessa obra não era a simples destruição de Édipo. Tomamos lentamente consciência de que a acção, por mais severa que tenha sido sobre nós a sua dominação, não nos conduzia à ruína do herói, mas antes nos fizera esperar, ao longo da peça e no mais profundo de nós próprios, uma coisa desconhecida, ao mesmo tempo temida e esperada, essa resposta que Édipo derrubado pelos deuses teria a dar a esses deuses. — Resposta que temos agora de descobrir.
II
Chorar as lágrimas trágicas, é reflectir... Nenhuma obra de grande poeta é escrita para nos fazer pensar. Uma tragédia propõe-se comover-nos e agradar-nos. É perigoso interrogarmo-nos sobre o sentido de uma obra poética e formular esse sentido em termos intelectuais. Contudo — se o nosso espírito não tem compartimentos estanques — toda a obra que nos comove ressoa na nossa inteligência e toma posse de nós. E foi também com todo o seu ser que o poeta a compôs. Atinge o nosso pensamento pelo caminho do estranho prazer do sofrimento partilhado com as criaturas nascidas da sua alma. É o terror, é a piedade, é a admiração e o amor pelo herói trágico que nos obrigam a perguntar a nós próprios: "Que acontece a este homem? Qual é o sentido deste destino?" O poeta impõe-nos pois a procura do sentido da sua obra como uma reacção natural do nosso entendimento ao estado de emotividade em que nos lança.
Parece-me distinguir em nós, a propósito de Édipo, três reacções deste gênero, três sentidos que o nosso pensamento atribui a esta tragédia, à medida que ela caminha e progride em nós, três etapas do nosso espírito para a sua plena significação.
A primeira etapa é a revolta. [283] Um homem está diante de nós, apanhado numa armadilha diabólica. Este homem é um homem de bem. Essa armadilha é montada por deuses que ele respeita, por um deus que lhe impôs esse crime que lhe imputa. Onde está o culpado? Onde está o inocente? Nós gritamos a resposta: Édipo está inocente. O deus é criminoso.
Édipo está inocente porque, em nossa opinião primeira, não existe falta fora duma vontade livre que tenha escolhido o mal.
Ésquilo, tratando o mesmo assunto, dava ao oráculo o sentido de uma proibição feita a Laio de ter um filho. A procriação dessa criança era desde logo um acto de desobediência aos deuses. Édipo pagava a falta do pai, não sem ter-lhe acrescentado, aliás, no curso da sua vida, uma falta sua. O deus de Ésquilo feria com justiça.
Mas esta interpretação do mito não é de modo algum a de Sófocles. O oráculo de Apolo a Laio é apresentado pelo poeta de Rei Édipo como uma predição pura e simples do que acontecerá. Nenhuma falta, nenhuma imprudência dos mortais justifica a ira dos deuses. Laio e Jocasta fazem tudo quanto lhes é possível para deter o crime em marcha: expõem o filho único. Do mesmo modo procede Édipo quando recebe o segundo oráculo, abandona os pais. No decorrer do drama, nem a boa vontade de Édipo nem a sua fé claudicam, seja qual for a circunstância.
Ele só tem um desejo, salvar Tebas. Para o conseguir conta com o apolo dos deuses. Se toda a acção deve ser julgada segundo a sua intenção, Édipo está inocente de um parricídio e de um incesto que ele não quis nem conheceu.
Quem é pois o culpado? O deus. Só ele desencadeou, sem sombra de razão, toda a sequência dos acontecimentos que levam ao crime. O papel do deus é tanto mais revoltante quanto é certo ele só intervir em pessoa nas circunstâncias em que o homem, à força de boa vontade, pareceria ir fugir ao destino. Assim, ao dar a Édipo o segundo oráculo, o deus sabe que esse oráculo será erradamente interpretado.
Especulando com a afeição filial e a piedade da sua vítima, revela do futuro exactamente quanto baste para que ele se realize com o concurso da virtude. A sua revelação faz que funcionem os elementos livres da alma humana, precisamente no sentido do mecanismo do destino. Estes pequenos empurrões da divindade são revoltantes.
Mas divertem o deus. As palavras de ironia trágica são o eco do seu riso nos bastidores.
Menos ainda que todo o resto, é este escárnio que nós não podemos [284] perdoar à divindade. Se os deuses mofam de Édipo inocente, ou por culpa deles culpado, como não sentiremos a sorte do herói como um ultrage à nossa humanidade? A partir daí, no sentimento da nossa dignidade ferida, apossamo-nos da tragédia para fazer dela um acto de acusação contra a divindade, um documento da injustiça que nos é feita.
Esta reacção é sã. Sófocles sentiu esta revolta legítima. A dura estrutura da acção que ele construiu no-la inspira. Contudo, Sófocles não se detém neste movimento de cólera, contra os nossos senhores inimigos. Ao longo de toda a peça, há sinais que nos advertem, obstáculos que entravam em nós a revolta, que nos impedem de nos instalarmos nela, que nos convidam a ultrapassar este sentido primeiro do drama e a interrogar novamente a obra.
Primeira barreira à nossa rebelião: o coro.
Sabemos a importância do lirismo coral em toda a tragédia antiga. Ligado à acção, como a forma à matéria, o lirismo elucida o sentido do drama. Em Édipo, após cada um dos episódios que aumentam a nossa indignação contra os deuses, os cantos do coro são surpreendentes profissões de fé na divindade. Inalterável é a dedicação do coro ao seu rei, inalterável a sua fidelidade e o seu amor pelo benfeitor da cidade, mas também inalterável é a confiança do coro na sabedoria da divindade. Nunca o coro opõe Édipo e os deuses. Onde nós procuramos um inocente e um culpado, uma vítima e o seu carrasco, o coro une o rei e o deus num mesmo sentimento de veneração e de amor. No centro deste drama em que vemos afundar-se no nada o homem, a sua obra e a sua fortuna, o coro assenta firmemente a certeza de que existem coisas que duram, afirma a presença, para lá das aparências, de uma realidade esplêndida e desconhecida que solicita de nós mais do que uma negação revoltada.
Todavia, no exacto momento em que o coro afirma assim a sua fé, sentem-se passar frémitos de dúvida que tomam essa fé mais autêntica.
Como se resolverá esta oposição que parece por momentos dividir Édipo e os deuses, nem o coro, nem o próprio Sófocles o sabem ainda plenamente. Para dissolver estas aparentes e fugidias contrariedades, estas antinomias no seio da verdade, serão precisos quinze anos. será preciso que Sófocles escreva Édipo em Colono.
Uma outra personagem, de maneira inversa, nos desvia da revolta: Jocasta. A figura desta mulher é estranha. Jocasta é ela própria uma negação. Nega os oráculos, nega o que não compreende e o que teme. Julga-se mulher de experiência, é uma alma limitada e céptica. Pensa não ter medo de nada: para se tranquilizar, declara que não há nada no fundo do ser senão o acaso. "Para [285] que serve ao homem amedrontar-se?", diz ela. "Para ele, o acaso é o senhor soberano. O melhor é que se lhe abandone. Deixa de temer o leito de tua mãe. Muitos homens, em sonhos, partilharam o leito maternal. Quem despreza esses terrores suporta facilmente a vida." Esta maneira de atribuir tudo ao acaso para tirar aos nossos actos o seu sentido, esta explicação rasamente racionalista (ou freudiana) do oráculo que aterroriza Édipo — tudo isto é de uma sabedoria medíocre que nos afasta de Jocasta e nos impede de seguir uma via em que a nossa inquietação em relação aos deuses se apaziguaria na recusa de dar atenção à sua linguagem obscura. Sentimos na argumentação desta mulher uma baixeza de olhar que nos afasta subitamente de julgar levianamente os deuses e o mistério que eles habitam. A falsa sabedoria da rainha obriga-nos a tocar com o dedo a nossa própria ignorância.
Quando a verdade surge, Jocasta enforca-se. O seu suicídio enche-nos de horror. Mas não temos lágrimas para esta alma réproba.
Finalmente, eis, no momento da catástrofe do drama, um último e imprevisto obstáculo que nos proíbe de condenar os deuses. Édipo não os condena Nós acusamo-los de terem ferido um inocente e o inocente proclama-se culpado, Todo o fim da tragédia — essa vasta cena em que, agora que a acção explode feriu Édipo no rosto, contemplamos com o herói o seu destino como um mar de sofrimento imóvel — , todo este final do drama é, indiquei-o já, essencial à sua significação.
Édipo sabe agora donde veio o golpe que o derruba. Grita: "Apoio, sim. Apolo, meus amigos, é que é o único autor das minhas desgraças!" Sabe que é "odiado pelos deuses": di-lo e repete-o. Contudo, não tem, em relação a eles, o mais pequeno movimento de ódio.
A sua maior dor é estar despojado deles. Sente-se separado deles: "Agora, estou privado de deus." Como alcançar a divindade, ele, o culpado, o criminoso? Nenhuma acusação, nenhuma blasfémia na sua boca. O seu inteiro respeito pela acção dos deuses para com ele, a sua submissão à autoridade na provação em que se lançaram, advertem-nos de que entreviu o sentido do seu destino e convidam-nos a procurá-lo com ele.
Com que direito nos revoltaríamos, se Édipo não se revolta? Com ele queremos conhecer a ordem dos deuses — essa ordem que, mesmo para lá da justiça, se impõe aos homens. [286]
Conhecimento tal é a segunda etapa da nossa reflexão sobre esta tragédia. Toda a tragédia nos abre uma perspectiva sobre a condição humana, e esta mais do que qualquer outra.
A tragédia de Édipo é a tragédia do homem. Não a de um homem particular, com o seu carácter distinto e o seu debate interior próprio.
Nenhuma tragédia antiga é menos psicológica que esta, nenhuma é mais "filosófica". Aqui é a tragédia do homem na plena posse de todo o poder humano e esbarrando com aquilo que no universo recusa o homem.
Édipo é apresentado pelo poeta como a perfeição do homem. Ele possui toda a clarividência humana — sagacidade, juízo, poder de escolher em cada caso o melhor partido. Possui também toda a "acção" humana (traduzo uma palavra grega) — espírito de decisão, energia, poder de inserir o seu pensamento no acto. E, como diziam os Gregos, senhor do logos e do ergon, do pensamento e da acção. É aquele que reflecte, explica, e aquele que age.
Além disso, Édipo pôs sempre esta acção reflectida ao serviço da comunidade. E esse é um aspecto essencial da perfeição do homem. Édipo tem uma vocação de cidadão e de chefe. Não a realiza como "tirano" (apesar do falso título, em grego, da peça), mas em lúcida submissão ao bem da comunidade. O seu "erro" nada tem que ver com um mau emprego dos seus dons, com uma vontade má que procuraria fazer prevalecer o interesse particular sobre o bem geral. Édipo está pronto, a todo o momento, a dedicar-se inteiramente à cidade. Quando Tirésias lhe diz, pensando que o amedronta: "A tua grandeza perdeu-te", ele responde: "Que importa perecer, se salvo a minha terra?"
Acção reflectida é acção votada à comunidade, tal é a perfeição do homem antigo... Por onde pode o destino agarrar um homem assim? Simplesmente e precisamente no facto de ele ser um homem — e por a sua acção de homem estar submetida às leis do universo que regem a nossa condição. Não devemos situar o erro de Édipo na sua vontade. O universo não se ocupa destas coisas, não cuida de serem boas ou más as nossas intenções, da moral que construímos ao nosso nível de homem. O universo ocupa-se apenas do acto em si mesmo, para o impedir de perturbar a ordem que é a sua, ordem na qual se insere a nossa vida mas que se mantém estranha a nós.
A realidade é um todo. Cada acto do homem ressoa nesse todo. Sófocles sente intensamente a lei de solidariedade que liga, queira-o ele ou não, o homem ao mundo. Quem age liberta de si um ser novo — o seu acto — que, separado do seu autor, continua a agir no mundo, de maneira inteiramente [287] imprevisível para aquele que o desencadeou. Este primeiro autor do evento nem por isso é menos responsável — não de direito, mas de facto — pelas suas últimas repercussões. De direito, esta responsabilidade só deveria ligar-se a ele se ele conhecesse todas as consequências do seu acto. Não as conhece. O homem não é omnisciente — e tem de agir. Essa é a tragédia. Todo o acto nos expõe. Édipo, homem no mais alto grau, está supremamente exposto
Assim se aponta uma ideia singularmente dura e, de certo ponto de vista, muito moderna, da responsabilidade. Um homem não é somente responsável pelo que quis, é-o também pelo que se verifica ter feito à luz do acontecimento que os seus actos engendram, sem que tenha disposto de qualquer meio de calcular e, com mais forte razão, de impedir esse resultado.
Sermos tratados pelo universo como se fôssemos omniscientes, surda ameaça de todo o destino, se o nosso saber é misto de ignorância, se o mundo em que somos forçados a agir para subsistir, nos é, no seu funcionamento secreto, ainda quase inteiramente obscuro. Sófocles adverte-nos. O homem não conhece o conjunto das forças cujo equilíbrio constitui a vida do mundo. A boa vontade do homem, prisioneira da sua natural cegueira, é pois ineficaz para o preservar da desgraça.
Tal é o conhecimento que o poeta nos revela na sua tragédia. Disse-o já duro conhecimento. Mas responde tão exactamente a toda uma parte da nossa experiência que ficamos deslumbrados pela sua verdade. O prazer do verdadeiro livra-nos da revolta. O destino de Édipo — mesmo se o seu caso não é mais que um caso-limite — parece-nos de súbito exemplar de todo o destino humano.
E isto mais ainda do que se ele pagasse um erro no sentido corrente da palavra. Se ele se comportasse como senhor iníquo e brutal, como o tirano de Antígona, por exemplo, tocar-nos-ia sem dúvida na sua queda, mas de maneira menos aguda, porque nós pensaríamos poder evitar a sua sorte. Pode-se evitar ser um homem mau. Como evitar ser um homem? Édipo é homem apenas — homem que triunfou como nenhum outro na sua carreira. A sua vida é toda construída de boas obras. E esta vida acabada manifesta de súbito a sua impotência, faz explodir a vaidade das obras perante o tribunal do universo.
Não é que o seu exemplo nos desanime de agir. Uma poderosa vitalidade se desprende da sua pessoa, mesmo no fundo do abismo donde nos fala. Mas nós sabemos agora, graças a ele — sim, nós sabemos: pelo menos isto se ganhou — , o preço que poderemos ter de pagar pela acção, e que o fim dessa [288] acção, por vezes, não nos pertence. O mundo que nos aparecia falsamente claro, quando pensávamos poder construir nele, à força de sabedoria e de virtude, uma felicidade inteiramente preservada dos golpes que ele nos destina. A realidade que nós imaginávamos maleável, revelam-se subitamente opacos, resistentes, cheios de coisas, de presenças, de leis que não nos amam, que existem não para nosso uso e serviço, mas no seu ser desconhecido. Sabemos que é assim, que a nossa vida paira numa vida mais vasta, que talvez nos condene. Sabemos que quando olhávamos tudo com olhos claros era então que estávamos cegos. Sabemos que o nosso saber é pouca coisa, ou antes, que das intenções do universo a nosso respeito uma só é certa: a condenação dada contra nós pelas leis da biologia.
Sófocles fez da cegueira de Édipo um admirável símbolo, prenhe de sugestões múltiplas. Ao cegar-se, Édipo torna visível a ignorância do homem. Faz mais ainda. Não apresenta apenas o nada do saber humano, alcança na noite uma outra luz, acede a um outro saber, que é o conhecimento da presença em redor de nós de um mundo obscuro. Este conhecimento do obscuro não é já cegueira, é olhar,
O mesmo tema se anunciava no diálogo de Tirésias e do rei, o cego via pelo olhar do Invisível, ao passo que o vidente se mantinha mergulhado nas trevas. No final do drama, ao rebentar os seus olhos de homem, Édipo não manifesta apenas que só o deus é vidente, entra na posse duma luz que lhe é própria, que lhe permite sustentar a visão do universo tal como ele é, e, contra toda a expectativa, aí afirmar ainda a sua liberdade de homem.
O gesto dos olhos rebentados permite-nos atingir, com efeito, na sua espantosa realização, a significação mais alta da tragédia.
Porque passa em nós, espectadores, uma espécie de frémito de alegria, quando a visão da face sangrenta se apresenta sobre a cena em vez de simplesmente nos encher de horror?
Porquê? Porque finalmente nós temos nesses olhos rebentados a resposta de Édipo ao destino. Édipo cegou-se a si mesmo. Ele o proclama com veemência:
"Apolo votou-me à desgraça. Mas eu, com as minhas próprias mãos, me ceguei."
Assim ele reivindica, escolhe o castigo que o destino lhe reservava. Dele faz o seu primeiro gesto de homem livre que os deuses não repelirão. Édipo, não passivamente, mas com toda a profundeza do seu querer, adere com violência ao mundo que lhe é preparado. A sua energia é, neste acto, singular, e [289] assustadora, tão cruel, em verdade, como a hostilidade do mundo em relação a ele.
Mas que significa este impulso poderoso que, subindo das raízes do seu ser como uma seiva, o leva a exceder a sua desgraça, senão que, nesta derradeira provação da rivalidade que o opõe ao mundo, Édipo toma agora o comando da corrida, e que, resolvido a alcançar o seu destino, o alcança, ultrapassa, o deixa enfim atrás de si, ei-lo livre.
O último sentido do drama é. ao mesmo tempo, adesão e libertação. Adesão. Édipo quer o que o deus quis. Não que a sua alma se junte misticamente na alegria do Ser divino. O trágico grego não desagua senão muito raramente no misticismo, se alguma vez chega a desaguar nele. Funda-se antes na verificação objectiva de que existem no mundo forças ainda ignoradas do homem, que regem a sua acção. Essa região desconhecida do Ser, esse mistério divino, esse mundo que está separado do dos homens por um profundo abismo todo esse divino é sentido por Édipo como um outro mundo, um mundo estrangeiro. Um mundo que talvez um dia seja conquistado, que se explicará em linguagem de homem. Mas por agora (o agora de Sófocles) um mundo fundamentalmente estrangeiro, quase um corpo estranho que é preciso expulsar da consciência humana. Não, como acontece com o místico, um mundo que a alma deve desposar. Na realidade, um mundo a humanizar.
Para ganhar a sua liberdade em relação a esse mundo, Édipo lançou-se no abismo que o separa do nosso. Por um acto de coragem inaudita, foi procurar no mundo dos deuses um acto deles, preparado para o punir nesse acto que lhe devia ser desferido como uma ferida, a si mesmo o aplicou "com as suas próprias mãos", dele fez um acto do mundo humano, quer dizer, um acto livre. Obrigado o homem a admitir que esse estrangeiro é capaz de lhe tomar a direcção da sua própria vida, acontece que o herói trágico não pode dar-lhe um lugar no seu pensamento, não pode aceitar determinar a sua conduta sobre a experiência que daí tira, se não estiver persuadido de que, no seu ser desconhecido, esse Senhor é de alguma maneira digno de ser amado. Édipo, ao escolher a cegueira, adapta a sua vida ao conhecimento que a sua desgraça lhe deu da acção divina no mundo. É nesse sentido que ele quer o que o deus quis. Mas esta adesão ao divino, que é acima de tudo um acto de coragem meditada, ser-lhe-ia impossível se não implicasse uma parte de amor. Amor que procede de um duplo movimento da natureza do homem: em primeiro lugar, o respeite do real e das condições que ele impõe a quem quer viver plenamente, e em [290] segundo lugar muito simplesmente o impulso que lança para a vida toda a criatura viva.
Para aceitar o preço de uma ofensa que cometeu sem saber como, é preciso que Édipo admita a existência de uma realidade cujo equilíbrio perturbou, é preciso que distinga, ainda que confusamente, no mistério em que esbarra, uma ordem, uma harmonia, uma plenitude de existência a que o impele a associar-se o amor ardente que sempre dedicou à vida, à acção, e que traz em si, agora, na plena consciência das ameaças que elas reservam a quem quer viver com grandeza.
Édipo faz um acto de adesão ao mundo que o despedaçou porque esse mundo é, seja o que for que ele empreenda em relação ao nosso, o receptáculo do Deus vivo. Acto religioso que exige, além da coragem lúcida, um inteiro desprendimento, pois essa ordem que ele pressente para além das aparências, não é uma ordem que o seu espírito de homem possa apreender claramente, uma ordem que lhe diga respeito, um plano da divindade que tenha o homem como fim, uma providência que o julgue e vise ao seu bem segundo as leis humanas da moral.
Que é então essa ordem universal? Como apreender essas leis inapreensíveis? Existe no fundo do universo, diz o poeta, "uma adorável santidade". Ela conserva-se a si própria. Não tem necessidade alguma do homem para se manter. Se acontece perturbá-la, por engano, qualquer imprudente, o universo restabelece, à custa do culpado, a ordem sagrada. Aplica a lei: o falso corrige-se a si mesmo, como que automaticamente. Se o herói do drama de Sófocles nos parece triturado por uma máquina, é porque o mundo, perturbado na sua harmonia pelo parricídio e pelo incesto, espontaneamente, mecanicamente, restabeleceu o seu equilíbrio esmagando Édipo. O castigo do culpado não tem outro sentido: é uma "correcção", no sentido de rectificação de um erro. Mas, na passagem da catástrofe que devasta a sua vida, Édipo reconhece que a vida do universo manifestou a sua presença. Ama essa pura fonte do Ser, e esse amor distante que dedica ao Estrangeiro, de maneira imprevista, alimenta e regenera a sua própria vida, desde o momento que aceitou que seja restaurada, pelo seu castigo, a santidade inviolável do mundo que o esmaga.
O deus que fere Édipo é um deus duro. Não é amor. Um deus-amor teria certamente parecido a Sófocles subjectivo, feito à imagem do homem e das suas ilusões, maculado de antropomorfismo e de antropocentrismo ao mesmo tempo. Nada na experiência de Édipo sugere um tal deus. O divino é mistério e [291] ordem. Tem a sua própria lei. É omnisciente e todo-poderoso. Não há mais nada a dizer dele... Contudo, se é difícil supor que nos ame, pelo menos ainda é possível ao homem concluir, com dignidade, um pacto com a sua sabedoria desconhecida.
Deus reina — incognoscível. Os oráculos, os pressentimentos, os sonhos — vaga linguagem que ele nos dirige — são como bolhas que do fundo do seu abismo sobem para as regiões humanas. Sinais da sua presença, mas que não permitem compreendê-lo e julgá-lo, se têm algo de sentido de uma predesti nação, são muito mais, para o homem, a ocasião de entrever a omnisciência de Deus, de contemplar o necessário, a lei. Esta visão colhida pelo homem dirige doravante o seu comportamento de criatura sem dúvida débil, mas decidida a viver de harmonia com as leis severas do Cosmos. Desde que. através da sua linguagem confusa, ouve o apelo que o Universo lhe dirige. Édipo lança-se para o seu destino com um impulso semelhante ao do amor. Amor fati, diziam os antigos (ou Nietzsche, condensando o seu pensamento) para exprimir esta forma nobre do sentimento religioso, esse esquecimento das ofensas, esse perdão do homem ao mundo. Ou ainda essa reconciliação no coração dividido do homem, do seu destino, que é o de ser esmagado pelo mundo, e da sua vocação, que é de amar e de concluir o mundo.
Adesão no amor que é criação. Ao mesmo tempo: Libertação. Édipo parece subitamente aprumar-se. Ele declara:
"Tão grandes são os meus males, que ninguém entre os homens poderia suportar-lhes o peso — a não ser eu."
É que o círculo do fatal está quebrado e ultrapassado, no momento que Édipo colabora na sua própria desgraça e a leva ao cúmulo, no momento que ele remata, com um acto deliberado, essa imagem absoluta da desgraça que os deuses se comprouveram a modelar na sua pessoa. Édipo passou para o outro lado do muro, está fora do alcance do deus, desde o instante em que, tendo-o conhecido e admitido como um facto, não rigorosamente definível, mas certo, tendo-o experimentado no desastre da sua vida, o substitui na sua função de justiceiro, a ele se substitui e de algum modo o demite.
Não rivaliza Édipo com ele até na sua função de criador, se essa obra-prima da Desgraça que o artista divino concebera é o gancho levantado pela mão de Édipo que vai procurá-la no fundo das suas pupilas para a apresentar à luz do dia?
E agora a grandeza de Édipo, a alta estatura do homem, ergue-se novamente diante de nós. [292]
Oferece-se aos nossos olhos invertida. Não já no sentido que imaginávamos no começo do drama, que a grandeza de Édipo tombaria no chão aniquilada, mas no sentido de que ela se transforma numa grandeza inversa.
Era uma grandeza de fortuna, grandeza de ocasião e como que emprestada, medível pelos bens exteriores, à altura desse trono conquistado, por esse amontoado de proezas, feita de tudo o que o homem pode arrancar à sorte de surpresa. E agora uma grandeza de infortúnio e de provação, não de catástrofes que ficaram alheias, mas de sofrimentos assumidos, recebidos na intimidade da carne e do pensamento, sem outra medida, de futuro, que a desgraça infinita do homem, essa desgraça que Édipo fez sua. Participando da imensidade da nossa miséria nativa, essa grandeza iguala enfim aquele que aceita reparar pelo preço do seu sofrimento o mal que não quisera com Aquele que o havia inventado para consumar a sua perda.
A grandeza que os deuses lhe recusavam à claridade do sol, restaura-a Édipo na paz não nocturna mas constelada da alma. Pura doravante dos seus dons, da sua graça, do seu serviço, alimentada da sua maldição, dos seus golpes, das suas feridas, feita de lucidez, de resolução, de possessão de si.
Assim o homem responde ao destino. Da violência da sua servidão, faz ele o instrumento da sua libertação.
III
Rei Édipo mostrava que em todas as circunstâncias e até no rigor da ofensiva dirigida contra ele pelo Destino, o homem está em condições de manter a sua grandeza e o seu prestígio.
A ameaça trágica pode tudo contra a sua vida, nada pode contra a sua alma, contra a sua força de alma.
Esta firmeza de alma, vamos nós reencontrá-la intacta no herói de Édipo em Colono, afirmada por ele próprio logo nos primeiros versos como a virtude suprema que o mantém de pé na terrível provação que defronta pelas estradas, há anos.
Quando Sófocles escreve Édipo em Colono, ultrapassou os limites ordinários da vida humana: reflectiu muito sobre Édipo, viveu muito com Édipo. A [293] resposta que na última parte de Rei Édipo o herói dava ao destino, não lhe parece, agora que ele próprio se aproxima da morte, absolutamente satisfatória. Continua válida, decerto, para o momento da vida de Édipo em que foi dada mas a vida de Édipo continuou... Não retomaram os deuses o diálogo? Retomaram a ofensiva? Édipo em Colono é uma continuação do debate entre Édipo e os deuses, continuação feita à luz íntima da experiência que Sófocles tem da velhice extrema. É como se Sófocles, próximo da morte, tentasse lançar, nesta tragédia, uma ponte, uma simples passagem entre a condição humana e a condição divina. Édipo em Colono é a única tragédia grega que franqueia o abismo que separa o homem da divindade — a Vida da Morte. É a história da morte de Édipo, uma morte que o não é, a passagem de um homem. eleito pelos deuses (porquê? ninguém o sabe) à condição de herói.
Os heróis são na religião antiga seres poderosos, por vezes intratavelmente benevolentes, por vezes claramente malévolos. O herói Édipo era o patrono da aldeia de Colono, onde nasceu e cresceu Sófocles. A criança, o adolescente prosperou sob o olhar desse demónio caprichoso que habitava nas profundezas da terra da sua aldeia.
Em Édipo em Colono, Sófocles procura preencher a distância que, para os Gregos, para o seu público ateniense e para si mesmo, existia entre o velho rei criminoso expulso de Tebas, o fora-da-lei condenado a rondar pelas estradas da Terra e esse ser benéfico que leva uma estranha sobrevivência no solo da Ática, esse deus à sombra do qual o jovem génio de Sófocles ganhou forças.
Esta tragédia tem pois por tema a morte de Édipo. mais exactamente a passagem da condição humana à condição divina. Mas por causa da referência implícita à juventude de Sófocles — essa juventude campestre cheia de oliveiras e de loureiros silvestres, de rouxinóis, de barcas e de cavalos — e dessa outra referência à velhice do poeta — carregada de conflitos, de desgostos cruéis e finalmente esplendente de serenidade — , por causa desta dupla referência, esta tragédia única contém, transporta num maravilhoso poema, tudo quanto podemos entrever das esperanças que Sófocles, na extrema margem da vida, põe na morte e nos deuses.
Édipo ganha a sua morte em três etapas. Conquista-a em três combates: contra os velhos camponeses de Colono, contra Creonte, contra seu filho Polinices. Em cada um destes combates contra pessoas que lhe querem tirar a sua morte, Édipo mostra uma energia singular num velho, manifesta uma [294] paixão, prova uma violência que, da última vez, na luta contra o filho, atinge um grau de intensidade quase intolerável.
Contudo, estas cenas de combate que nos conduzem à morte como a um bem a conquistar são tomadas numa corrente inversa de alegria, de ternura, de amizade, de confiante espera da morte. As cenas de luta são pois ligadas entre si e preparadas por cenas em que o velho reúne as suas forças no meio daqueles a quem ama, Antígona. Ismene, Teseu o rei de Atenas, em que saboreia na paz da natureza as últimas alegrias da vida, ao mesmo tempo que se prepara para essa morte que ele deseja e espera: faz passar na memória as dores da sua vida, essas dores que dentro em pouco lhe não farão mais mal. Toda esta corrente de emoções tranquilas nos leva para a serenidade da morte prometida a Édipo. Essa morte remata magnificamente o drama.
A morte de Édipo está pois situada no termo de duas correntes alternadas de paz e de luta: é o preço de um combate, é o cumprimento de uma espera.
Caminhamos, se assim posso dizer, para uma espécie de conhecimento da morte se estas palavras pudessem ter sentido. Graças à arte de Sófocles. tudo se passa como se o tivessem.
A primeira cena da tragédia é de uma poesia familiar e de uma beleza patética. O velho cego e a rapariga descalça avançam pelo caminho pedregoso. Há quantos anos andam assim pelas estradas, não o sabemos. O velho vem cansado, quer sentar-se. Pergunta onde está. Quantas vezes esta cena se repetiu? Antígona vê pelo velho, descreve-lhe a paisagem. Vê também por nós, espectadores. Sem dúvida havia um cenário com árvores pintadas numa tela. Sófocles inventou e empregou o cenário pintado. Mas o verdadeiro cenário é a poesia que brota dos lábios de Antígona que no-lo dá. A rapariga descreve o bosque sagrado com os seus loureiros e as suas oliveiras bravas, com a sua vinha; dá-nos a ouvir o canto dos rouxinóis: vemos o banco de pedra à beira da estrada e, ao longe, as altas muralhas da cidadela de Atenas.
O velho senta-se, ou antes Antígona senta-o na pedra. Retoma fôlego. O texto indica todo este pormenor com uma precisão pungente. Três coisas, diz Édipo a sua filha, bastaram para o preservar na sua provação: a paciência, o que ele chama, com uma palavra que significa igualmente "amar", a resignação, essa resignação que se confunde com o amor dos seres e das coisas. Finalmente, a terceira coisa e a mais eficaz, "a firmeza de alma", uma nobreza, ama generosidade da sua natureza que a desgraça não pôde alterar. [295]
Passa um caminheiro na estrada, interrogam-no. "Aqui", diz ele, "é o bosque sagrado das temíveis e benévolas filhas da Terra e da Escuridão, as Euménides."
O velho estremece; nestas palavras reconhece o lugar da sua morte, prometido por um oráculo. Com veemência — toda a energia do antigo Édipo — afirma que o não arrancarão daquele lugar. Reclama a sua morte, que lhe dará enfim o repouso. O caminheiro afasta-se para ir avisar Teseu. Édipo, sozinho com Antígona, roga às "deusas dos olhos terríveis" que tenha piedade dele, que lhe concedam a paz do último sono. Já o seu corpo não eéais que uma maceração: vai deixar este invólucro emurchecido, vai morrer.
Ouvem-se passos na estrada. É um grupo de camponeses de Colono, avisados de que entraram estrangeiros no bosque sagrado: indignam-se com o sacrilégio. O primeiro movimento de Édipo é penetrar no bosque, não deixar que lhe tirem a sua morte. Os camponeses espreitam-no da orla das árvores De súbito surge Édipo, que não é homem para se esconder muito tempo. Vem defender a sua morte. Apertado com perguntas indiscretas, declina a sua horrível identidade, sacudindo os camponeses de um arrepio de horror. Esquecendo a promessa feita de que não usariam de violência, o coro grita: "Fora daqui, fora desta terra." Édipo é um ser contaminado: eles o expulsarão.
A partir deste primeiro combate, Édipo, ao contrário do que fazia em Rei Édipo, proclama e advoga a sua inocência. Parece ter sido através dos seus longos sofrimentos que ele tomou consciência dessa inocência — no lento e doloroso caminhar da estrada. Não que este novo sentimento o faça insurgir-se contra os deuses que o feriram. Simplesmente, sabe ao mesmo tempo estas duas doisas: os deuses são os deuses e ele está inocente. Além disso, porque os deuses o tocaram e cada dia mais ainda, porque o acabrunham de miséria, dai lhe vem um carácter sagrado. Édipo sente e exprime confusamente que um ser atingido pelos deuses está fora do alcance das mãos humanas — essas mãos ameaçadoras dos camponeses que se estendem para o agarrar. O seu corpo sagrado deve ficar, depois da sua morte, neste bosque das Euménides. Carregado de maldições divinas, sujo de máculas recebidas contra vontade, este corpo ao mesmo tempo impuro e sagrado (é a mesma coisa para os povos primitivos) dispõe doravante de um novo poder. É como uma relíquia, fonte permanente de bênçãos para aqueles que a conservem. Édipo anuncia-o orgulhosamente aos camponeses do coro trazendo o seu corpo aos habitantes da Ática, oferece um benefício a toda a região, à cidade de Atenas, cuja grandeza ele assegurará. [296]
Os camponeses recuam. Édipo ganhou o seu primeiro combate. ... O drama prossegue em muitas peripécias.
A cena mais desgarradora e a mais decisiva é a da súplica de Polinices e da intratável recusa do pai a ouvi-lo.
O filho está diante do pai — o filho que expulsou o pai, que o votou à miséria e ao exílio. Polinices está perante a sua obra: diante dela se mostra aniquilado. Este velho que se arrasta pelos caminhos com os olhos mortos, a cara cavada de fome, os cabelos mal tratados, tendo sobre ele um manto sujo cuja imundície se pega à do seu velho corpo — esse refugo de humanidade, é seu pai. Aquele a quem se propunha implorar, talvez levá-lo à força, para que o salve dos seus inimigos e lhe devolva o trono... Já nada pode pedir. Apenas pode confessar o seu erro e pedir perdão. Fá-lo com uma simplicidade que afasta qualquer suspeita de hipocrisia. Tudo é autêntico nas suas palavras. Édipo escuta-o. Não responde. Odeia este filho. Polinices esbarra com um bloco de ódio. Pergunta a Antígona que há-de fazer. Esta diz apenas: Recomeça e continua. Ele toma ao princípio, fala da questão que o opõe a Etéocles. Não fala somente por si, mas por suas irmãs, por seu pai mesmo, a quem se propõe instalar no palácio.
Esbarra sempre com o mesmo muro de rancor implacável. Édipo mantém-se imóvel e selvagem.
Finalmente, uma palavra do corifeu lhe roga que responda, por deferência para com Teseu que lhe enviou Polinices. O selvagem odiento é um homem cortês. Responde, pois, mas somente por consideração para com o seu hospedeiro. E para explodir em horríveis imprecações. Este velho tão perto da morte e que deseja a paz do último sono, este velho não desarma, neste momento em que vê o filho pela última vez — o filho pródigo e arrependido — o pai não desarma o seu ódio inexpiável.
Em numerosas cenas deste amplo drama pudemos ver um Édipo apaziguado, um Édipo tranquilo, conversando na alegria da amizade com Teseu, na doçura da afeição com Ismene ou Antígona reencontradas. Este abrandamento da cólera era sempre devido no velho à longa aprendizagem do sofrimento que lhe impôs a sua condição de miserável: aprendeu ao longo das estradas a suportar a sorte, vergou-se à sua vida de pobre diabo. Mas o perdão, o esquecimento das injúrias, não os aprendeu ele. Não sabe perdoar aos inimigos. Seus filhos trataram-no como inimigo: responde aos golpes com golpes. Maldiz os filhos. As maldições de um pai são terríveis entre todas as maldições. [297]
"Não, não, nunca derrubarás a cidade de Tebas. Tu serás o primeiro a cair, manchado de um assassínio, tu, e teu irmão contigo! Eis as imprecações que lancei contra vós..."
Repete as fórmulas consagradas, a fim de que as maldições invocadas ajam por si mesmas.
"Que, de mão de irmão, tu mates e sucumbas por tua vez, vítima de quem te baniu!... Invoco também a sombra terrível do Tártaro para que ela te colha em seu seio, invoco as deusas deste lugar, e Ares que vos pôs no coração, a ambos, essa execração mortal. Vai-te! Tais são os dons que Édipo neste dia reparte entre seus filhos."
Depois de assim amaldiçoar o filho, o velho cala-se bruscamente, fecha-se de novo no seu silêncio de pedra — enquanto Antígona e Polinices choram longamente. Por fim, o rapaz retoma o caminho para o seu destino.
Nunca, no decurso do drama, foi Édipo tão terrível. Nunca esteve talvez tão longe de nós. Acaba de liquidar ferozmente as suas contas com a vida.
E agora os deuses vão glorificar este homem inexpiável.
Ressoa o trovão. Édipo reconhece a voz de Zeus que o chama. Pede que mandem chamar Teseu, que deverá, sozinho, assistir à sua morte, e receber um segredo que transmitirá aos descendentes.
Édipo está livre de todo o temor. À medida que o momento solene se aproxima, sentimo-lo como que libertado do peso do seu corpo mortal e miserável. A cegueira já não é um obstáculo à sua marcha.
"Daqui a pouco", diz a Teseu, "sem nenhuma mão que me guie. conduzir-te-ei ao lugar onde devo morrer."
Sente nos membros uma "luz obscura" que o toca. É conduzido por essa luz invisível que penetra no bosque sagrado, seguido de suas filhas e de Teseu. O coro canta o eterno sono.
Um mensageiro chega. "Morreu?", pergunta o coro. E o homem não sabe que responder. Relata as últimas palavras de Édipo, os adeuses às filhas. Depois o velho meteu-se pelo bosque, apenas acompanhado de Teseu. Uma voz então ressoou no Céu, chamando Édipo pelo nome. O trovão ribomba outra vez.
Os outros tinham-se afastado. Quando se voltaram, "Édipo já ali não estava; não havia mais ninguém. Só o rei conservava a mão diante dos olhos, como se qualquer prodígio lhe tivesse aparecido, insuportável à vista. Depois prosternou-se, adorando a Terra e os deuses" [298]
Como morreu Édipo? Ninguém o sabe. Terá morrido? E que é a morte? Haverá uma relação entre a vida de Édipo e esta morte maravilhosa? Qual? Não podemos responder a estas perguntas, mas temos o sentimento de que, por esta morte estranha em que o herói desaparece no deslumbramento duma luz demasiado viva, os deuses quebraram para Édipo o curso da lei natural. A morte de Édipo parece (a Nietzsche, por exemplo) fundar um mundo novo, um mundo onde deixaria de haver Destino.
A interpretação de Édipo em Colono é delicada. Antes de mais, falemos uma vez ainda da diferença importante que separa esta tragédia da do Rei Édipo. No mais antigo dos dois dramas, Édipo confessava o seu erro e tomava sobre si a responsabilidade dele. No segundo, ao longo da tragédia e diante da maior parte das personagens, protesta a sua inocência. Apresenta o seu caso como legítima defesa, que, com efeito, diante de um tribunal ateniense, lhe valeria uma sentença de absolvição.
Contudo, esta contradição entre os dois dramas — além de que pode justificar-se pelo tempo que, na vida de Édipo, separa as duas acções — é apenas aparente. Por várias razões. A mais importante é que o Édipo do segundo drama não defende a sua inocência senão do ponto de vista da lógica humana e do direito humano. Fala a homens que vão estatuir sobre a sua sorte, quer obter deles protecção e justiça. Afirma que os homens justos não têm o direito de o condenar, que está humanamente inocente.
A sua inocência é pois encarada relativamente às leis da sociedade humana. Édipo está "inocente segundo a lei". Não é afirmada de maneira absoluta. Se o fosse, a consciência nova que Édipo daí tiraria marcar-se-ia por uma reviravolta da sua atitude para com os deuses. O respeito da acção deles na vida, o misto de terror e de adoração que ele sente em Rei Édipo por ter sido escolhido para ilustrar a omnipotência divina, daria lugar a um sentimento de revolta por ter sido atingido apesar da sua inocência. Nada disto se indica no nosso segundo drama.
Exactamente como em Rei Édipo, proclama a intervenção dos deuses na sua vida e fá-lo com simplicidade, mesmo nas próprias passagens que apoiam a sua inocência humana. ("Assim o quiseram os deuses", ou "Os deuses tudo conduziram.") Nenhuma acrimónia em Édipo, tanto numa como noutra peça.
Em Édipo em Colono como em Rei Édipo, verifica, como o mesmo espírito de objectividade, o mesmo desprendimento de si:
"Cheguei aonde cheguei, sem nada saber. Eles, que sabiam, me perderam." [299]
A sua perda prova, pois (inocente ou culpado: palavras demasiadamente humanas), a sua ignorância e a omnisciência dos deuses.
Contudo, no final de Rei Édipo como ao longo de Édipo em Colono, é dos deuses e só deles — nunca dos seus próprios méritos — que o rei derrubado espera a libertação. A sua salvação depende de uma livre decisão dos deuses.
A concepção da salvação que se manifesta no nosso drama confirma pois e verifica inteiramente a concepção do erro e do castigo tal como ela se manifestava na primeira tragédia. Édipo não merece a salvação, tal como não quis a sua falta nem mereceu o seu castigo.
É evidente que a apoteose que remata o drama de Édipo e coroa o seu destino não poderá, de modo algum, ser interpretada como recompensa de uma atitude moral.
Por isso não é a inocência do rei, o seu arrependimento, o seu perdão aos filhos que determinam a intervenção benévola dos deuses. Uma só e única circunstância parece decidi-los: a extensão das suas desgraças.
Podemos agora tentar precisar o sentido religioso de Édipo em Colono sem esquecer o de Rei Édipo.
Em Rei Édipo, Édipo era castigado não por uma falta pessoal mas como homem ignorante e actuante, pela lei da vida com que esbarra todo o ser actuante. A sua única falta residia na sua existência, na necessidade em que o homem está posto de agir num mundo cujas leis ignora. A condenação que o atingia, despojada de todo o carácter de punição, não atingia na sua pessoa senão o homem actuante.
Édipo em Colono faz aparecer no universo uma outra lei de que os deuses são guardiões, uma lei complementar da precedente, a lei que salva o homem sofredor. A ascensão de Édipo ao nível do herói não é concedida a Édipo pessoalmente, como recompensa dos seus méritos e da sua virtude. É concedida, como graça, ao homem sofredor. Tal como Édipo fora no primeiro drama a perfeição da acção, assim o vemos, em Colono, na ponta extrema do sofrimento humano. Não tenho que enumerar os males de Édipo, estabelecer o inventário pormenorizado deste sofrimento.
Um só verso da primeira cena basta para recordar o abismo de miséria em que caiu este homem feito para agir e para reinar. Édipo, esgotado, diz a Antígona:
"Senta-me e olha pelo cego." [300]
É total o contraste desta imagem do velho, mais fraco que uma criança, com a imagem do rei protector e salvador do seu povo que nos é oferecida no princípio de Rei Édipo.
Ora, é a este velho acabrunhado pela sorte, a este homem sofredor que os deuses vão salvar, que eles escolheram para glorificar, não tanto por causa da maneira como suportou os seus males, mas para manifestar o seu resplandecente poder de deuses. Não só Édipo será salvo, como se tornará ele próprio salvador. O seu corpo maculado vai revestir-se de uma virtude singular: dará a vitória ao povo e a prosperidade à terra.
Porque foi Édipo escolhido? Não o sabemos exactamente. Senão porque sofria. Os deuses são deuses uma vez mais: a sua graça é livre.
Quando muito, entrevemos que existe para Sófocles como que uma lei de compensação no mistério do universo. Se os deuses atingem Édipo sem razão, se o levantam sem razão, a verdade é que é o mesmo homem que sucessivamente e ferido e levantado. Quando Édipo se espanta ao saber por Ismene o oráculo que confere ao seu corpo esse poder salutar, Ismene responde.
"Os deuses te levantam depois de te terem derrubado."
Ismene não formula esta verificação como uma lei. Mas parece que Sófocles quer fazer-nos entrever que no coração do universo não há apenas a dura indiferença dos deuses, há também uma clemência, e o homem — o mesmo homem — pode, no curso da vida, encontrar uma e outra.
De Édipo, diz-nos ele "que levado por um deus ou recolhido no seio benévolo da Terra, está ao abrigo de todo o sofrimento".
A morte de Édipo não é nem a purificação de um culpado nem a justificação de um inocente. Não é outra coisa que a paz após os combates da
vida, que o repouso aonde um qualquer deus nos conduz.
Sófocles sabe, sem que isso o perturbe, que a morte é o único cumprimento possível duma vida humana. O homem nasceu para o sofrimento. (Édipo o diz. "Nasci sofredor.") Viver é arriscar o sofrimento. Mas esta mesma natureza temporal que nos expõe ao sofrimento é também a que cumpre a nossa libertação. Édipo reza às deusas do bosque sagrado:
"Concedei-me agora este termo da minha vida. Concedei à minha existência este desenlace, se dele vos não pareço indigno, eu que, durante a minha vida inteira, mais do que nenhum outro, fui sujeito à desgraça."
Édipo fala como um bom servidor que cumpriu bem a sua tarefa de ser sofredor. Reclama o seu salário: a paz da morte. [301]
Sófocles nada mais parece pedir à morte que esta paz, que é a fonte escondida da vida. Nenhuma imortalidade pessoal lhe parece necessária. Simplesmente, não fala dela. O sentido que dá à morte de Édipo parece-lhe suficiente, uma vez que os deuses querem que seja assim. Uma vez mais, somos reconduzidos ao rochedo da fé de Sófocles: admitir o que é.
No entanto, aqui somos voltados pelo poeta para uma outra face do Ser Se os deuses são assaz pérfidos, ou assaz indiferentes à vida, à felicidade humana, para deixarem que um deles monte a armadilha abominável que constitui a vida de Édipo, a sua volúvel indiferença compreende também, nas suas inumeráveis opções, a bondade. Mudaram de humor como uma mulher muda de vestido. Após o vestido cor de sangue e incêndio, o vestido cor do tempo.
Menos trágica talvez, esta cor é mais humana: e depois, nós somos homens, o que faz que o drama inteiro nos prenda e nos retenha por uma fibra mais terna. O céu mudou. Ganhou — por uma vez — rosto humano. Daí que no drama surjam tantos momentos tranquilos, calmas conversas, presenças amigas, atenta serenidade. E a viva beleza dos cavalos e das árvores. E as aves que cantam e que voam. E os pombos torcazes que arrulham. E essa longa, longa vida de Édipo (e de Sófocles) que, apesar de tudo, fluiu dia após dia, respirou como se bebe quando se tem sede.
Em Rei Édipo toda a mostra de amizade, toda a intenção de tranquilizar, carregadas de ironia, tinham um sentido mortal. Em Édipo em Colono, a lenta preparação da morte de Édipo é, por momentos, tão cheia de amigável bondade que, juntando-se por acaso à bondade divina, estas atenções humanas dão finalmente ao conjunto do drama, que é o drama da morte de Édipo, um sentido de vida.
Este sentido de vida está presente ao longo da tragédia. Corre por ela sem cessar, como esse fio vermelho tecido na brancura das velas da marinha inglesa, que, em caso de naufrágio, permitia descobrir a origem dos destroços. Assim todo este drama de morte tem constante e precioso valor de vida. Mas esse sentido culmina na última cena pelo dom insigne que os deuses concedem aos despojos de Édipo.
Édipo foi escolhido pelos deuses para tomar-se após a sua morte uma imagem exemplar da vida humana, infeliz e corajosa, uma força de vida que defenderá o solo da Ática para sempre. Tal como foi, assim ficará. Era vingativo, até ao ponto de cuspir, raivoso, a maldição sobre o filho.
Mas este traço convém à sua nova natureza de herói. Um sábio diz dos heróis: "Estes [302] seres superiores são eminentemente potências maléficas: quando ajudam, também prejudicam, e se nos acodem com o seu socorro, fazem-no com a condição de nos trazerem prejuízo."
A imortalidade do herói Édipo não é, de modo algum, a imortalidade da pessoa de Édipo num além longínquo; é, pelo contrário, no próprio lugar onde acabou a sua vida. a duração de um poder excepcional concedido pelos deuses a sua forma mortal, ao seu corpo sepultado, à sua cólera contra os adversários da comunidade ateniense. Édipo já não existe: concluiu a sua existência pessoal e histórica. Contudo, o sangue quente dos seus inimigos, correndo sobre a terra de Colono, virá um dia reaquecer de paixão o seu cadáver gelado. Ele o deseja, o declara no próprio coração do drama. O seu destino pessoal está doravante terminado. O seu túmulo fica em lugares onde se manifesta, sobre o solo do povo ateniense, o poder activo dos deuses.
Se ainda tem existência humana, essa existência é muito menos pessoal que colectiva. Existirá na medida em que Teseu, o seu povo, os seus descendentes, se lembrarem e se servirem dele. A sua existência está, de futuro, estreitamente ligada à da comunidade de que os deuses o fizeram protector.
Este sentido público da morte de Édipo ressalta claramente das últimas instruções que o velho dá às filhas. Insiste para que não assistam à sua morte: apenas Teseu, o chefe do Estado, estará presente e transmitirá aos sucessores o segredo cuja guarda Édipo lhe confiará.
Assim já a morte de Édipo lhe não pertence, nem àquelas a quem amou mais do que ninguém no mundo poderá amar. A sua morte não é uma questão privada: pertence a Atenas e ao seu rei. Esta morte tem, finalmente, um sentido de vida, de vida pública ateniense. Não é o fim da história de Édipo, é um penhor de duração para o povo que o venerará.
Édipo junta-se ao grupo dos heróis que protegem e defendem Atenas e a Grécia.
Heróis consagrados pelo gênio, Homero, Hesíodo, Arquíloco, Safo, Ésquilo. Não tarda que Sófocles tome lugar nesta constelação de presenças que velam pelo povo ateniense.
Os homens conseguem forçar o destino e instalar-se no céu heróico pelo gênio ou pela desgraça. Édipo e Sófocles têm igualmente esse direito.
Tal é a resposta última do grande poeta ateniense a essa pergunta que a lenda de Édipo tinha feito à sua infância e que ele só resolveu no termo adiantado da sua vida — frente às portas da morte, abertas para o acolherem. [303]

Aparentemente a Teogonia parece-nos apenas um mero catalogo de nomeações divinas, mas em uma analise mais profunda de seu conteúdo podemos perceber que todo o relato hesiódico vai muito além de nomeações olímpicas, Hesíodo ao compor a Teogonia expôs genealogicamente as gerações divinas e os mitos cosmogônicos, é importante ressaltar que esta ordenação genealógica, não deve ser entendida como uma ordem cronológica pois no tempo mítico não é presente essa relação de "antes e depois" o mito em si não é cronológico ele é contínuo, o tempo e a temporalidade se subordinam ao exercício dos poderes divinos e a ação e presença das potestades divinas, estabelecer uma relação de anterioridade e posterioridade seria impor um pensamento moderno sobre uma maneira arcaica de ver e entender o mundo.
Podemos dizer que a poesia em Hesíodo é de um todo didático-religioso, numa época anterior a aquisição da escrita, o aedo é o principal detentor do conhecimento e o transmite aos demais pelo canto, mas este conhecimento passado pelo aedo, não o pertence, porém lhe é revelado pelas musas filhas de Memória com Zeus, estas não são apenas divindades que revelam fatos passados, presentes e futuros distantes ao poeta, porém são a própria palavra cantada, o poeta, portanto, tem na essência da palavra o poder de ultrapassar e superar todos os bloqueios e distâncias espaciais e temporais, um poder que só lhe é conferido pela Memória através das palavras cantadas (Musas) ao nomeá-las o aedo não está apenas a descrever atributos, mas está evocando a sua presença para que lhe seja revelado os acontecimentos sem que nada o venha passar despercebido, e para que o seu canto seja agradável para os seus ouvintes, Hesíodo cataloga as musas em nove sendo elas: Clio(Glória), Euterpe (História), Thalia(Festa), Melpomene(Jubilo), Terpsichore(Coreografia), Erato(Amável), Polimenia(Muitos Hinos), Urania(Celeste), Calliope(Bela Voz) os nomes das musas exprimem qualidades próprias relacionadas a poesia oral, assim a poesia em Hesíodo tem uma característica religiosa não apenas por transmitir conceitos míticos de formação e ordenação do cosmos mas por estar totalmente estruturada, sobre a concepção de uma forma de pensar arcaica que acredita não ser a voz nem a habilidade humana do cantor que imprimirá sentido e força, direção e presença ao canto, mas é a própria força e presença das Musas que gera e dirige o canto do aedo, a partir do instante em que Hesíodo evoca as musas, seu canto passa a ter um caráter sagrado pois sem elas, ele nada poderia saber como é citado abaixo:
"Pelas Musas heliconíades comecemos a cantar"(Teogonia,p.103).
Assim a teogonia não apresenta-se somente como um hino enaltecendo e glorificando Zeus, mas também como uma canção que enaltece e personifica a importância da poesia oral e a maneira como esta era concebida pelos gregos tendo sua personificação no mito das musas.
Se em Hesíodo temos uma poesia didático-religiosa, em Homero encontramos uma poesia heróica, trata-se, com efeito, de uma poesia burguesa, destinada a reis e heróis, a homens voltados para as armas e para o mar, os poemas homéricos influenciaram a cultura grega que por sua vez passou essa influência à latina e culminou em todas as culturas ocidentais que derivam da cultura greco-romana. Diferentemente da Teogonia as epopéias Ìliada e Odisséia que são atribuídas a Homero, apresentam-se em um formato in medias res, podemos comparar traços marcantes nas narrativas de Homero e Hesíodo, os poemas atribuídos a estes, aparecem em primeira e segunda pessoa, em Hesíodo observamos uma narrativa mais marcada em primeira pessoa, tanto na Teogonia quanto em sua segunda obra O Trabalho e os Dias onde Hesíodo mostra como se criou e organizou o mundo dos mortais e a condição humana, Hesíodo faz-se presente em sua narração revelando-se de maneira pessoal como podemos ver nos versos abaixo:
"Elas um dia a Hesíodo ensinaram belo canto quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino esta palavra primeiro disseram-me as Deusas Musas olimpíades, virgens de Zeus porta-égide" (Teogonia, p.103);
"Ouve, vê, compreende e com justiça endireita sentenças. Tu! Eu a Perses verdades quero contar."( Os Trabalhos e os dias,v. 10).
Em Homero estas características narrativas podem ser observadas no proêmio da Odisséia e na invocação das musas no catálogo das naus na Ìliada:
"O guerreiro diz-me, musa, ardiloso, que muitíssimo vagou, desde que, de Tróia, a sagrada cidadela pilhou, e de muitos homens viu as cidades e o espírito conheceu e muitas dores ele, no mar, sofreu em seu ânimo, lutando por sua vida e pelo retorno dos companheiros mas nem assim os companheiros salvou como queira, pois eles, pela própria insensatez, pereceram tolos, que os bois do filho de Hipérion, o Sol comeram: logo este lhes tirou o dia do retorno." (Odisséia,I,1-9)
As Musas descendem da união de Zeus com Memória o que coloca a natureza das Musas como decorrência das atribuições de seus genitores; sendo assim as Musas não são apenas memória mas são força e poder provindos de Zeus, Homero por sua vez descreve as Musas apenas como filhas de Zeus porta égide ocultando a origem maternal dessas divindades essa ocultação materna pode ocorrer porque neste momento do relato em que se deseja eternizar os nomes dos combatentes em Tróia o poeta volta-se para as filhas do Deus que detêm o poder e que são o resultado da ação do poder sobre a memória, mas também podemos interpretar esta passagem da seguinte maneira, em uma sociedade patriarcal o papel da mulher não se faz de forma direta principalmente no que diz respeito aos filhos já que estes recebiam apenas o direito a paternidade, visão paterna que é bastante presente nos epítetos atribuídos aos guerreiros como podemos perceber no epíteto do guerreiro Aquiles Pelida, Pelida por ser filho de Peleu; nessa interpretação o mito atribuído somente a paternidade das musas reflete a cultura de uma sociedade patriarcal, as Musas são expressadas de uma forma bastante única tanto nos poemas homéricos quanto nos hinos hesiódicos. Nas obras de Hesíodo este se coloca submisso as Musas isso se confirma na passagem em que Hesíodo afirma que as Musas lhe ordenaram a cantar, nos poemas homéricos não são as Musas que se dirigem ao poeta, mas o poeta que dirigi-se a Musa isso demonstra em Homero uma maior autonomia por parte do aedo, já que este define o objeto a ser cantado e por onde irá iniciar o seu canto, mas mesmo com essa relação de autonomia nos seus poemas Homero reivindica uma origem divina e deixa claro que sem a permissão das Musas o aedo nada poderia saber pois delas provinham os dons do canto e da palavra a chegada de Demódoco ao festim de Alcínoo exemplifica bem isto.
"O arauto reapareceu, conduzindo o bravo aedo a quem a Musa amante havia dado sua parte de bens e de males, pois, privado de vista, dela havia recebido o canto melodioso".(Odisséia, VIII, 62 - 64)
Tanto em Hesíodo quanto Homero podemos perceber que o poeta assume a função de interprete dos Deuses: estes lhe dão o divino dom da palavra e o canto,
Essa relação do aedo com as filhas de Zeus, atribui ao aedo um caráter divino como nos mostra Homero:
"Não há homem sobre a terra que aos aedos não devam estima e respeito; pois eles aprendem da Musa as suas obras, da Musa que estima a raça dos aedos". (Odisséia, VIII, 479 - 481)
As obras homéricas e os hinos hesiódicos são um conjunto de Teofanias a presença e interferência dos Deuses faz-se presente em todos os momentos, retratando assim um aspecto da cultura grega onde cada manifestação da natureza, ou cada acontecimento rotineiro tinha sua devida atribuição divina, o que não poderia ser diferente nas narrativas da época, o sendo assim podemos perceber que o grande mito das Musas nada mais é, que uma forma criada pelo homem grego arcaico para explicar sua imensa capacidade de criar, e expressar os seus sentimentos ver e entender o mundo,as obras homéricas e os hinos hesiódicos são um conjunto de teofanias que representam e apresentam o pensamento de uma sociedade que buscava uma explicação não apenas para sua existência, mas para as razões de existirem.

Entre as criações do povo grego, a tragédia é talvez a mais alta e a mais ousada. Produziu ela algumas obras-primas inigualadas, cujo fundo, enraizado no medo das nossas entranhas, mas também florescendo na esperança do nosso coração, se exprime em uma beleza perfeita e convincente. O nascimento da tragédia, por meados do século V - no limiar da época clássica , está ligado a condições históricas que convirá recordar, embora de maneira breve, se quisermos apreender o sentido da orientação deste gênero novo. Por um lado, a tragédia grega retoma e prossegue o esforço da poesia anterior para por de acordo o mundo divino com a sociedade dos homens, humanizando ainda mais os deuses. Apesar do desmentido que lhe da a realidade quotidiana e a despeito da tradição do mito, a tragédia grega exige com veemência que os deuses sejam justos e façam triunfar a justiça neste mundo. Por outro lado, é também em nome da justiça que o povo dos Atenienses continua a travar uma luta duríssima, no plano da vida politica e no plano da vida social, contra os possidentes que são também os seus dirigentes, para lhes arrancar enfim a plena igualdade de direitos entre cidadãos - aquilo a que chamará regime democrático. É no decurso do ultimo período destas lutas que a tragédia surge. Pisistrato, levado ao poder pela massa dos camponeses mais pobres, é que ajuda o povo na conquista da terra, institui nas festas em honra de Dioniso concursos de tragédia destinados ao prazer e a formação do povo dos cidadãos.
Passava-se isto uma geração antes de Esquilo. Essa tragédia primitiva, ainda pouco dramática, ao que parece, e indecisa entre o riso lascivo dos sátiros e o prazer das lagrimas, encontra em um acontecimento imprevisto a sua escolha, a escolha da gravidade é aceita corajosamente o peso dessa gravidade, que doravante a define: escolhe como seu objeto próprio o encontro do herói e do destino, com os riscos e os ensinamentos que ele implica. Esse acontecimento que deu a tragédia o tom "grave", tom que não era o da poesia ática imediatamente anterior, foi a guerra persa, a guerra de independência que o povo ateniense sustentou por duas vezes contra o invasor persa. O combatente de Maratona e de Salamina, Esquilo, sucede a Anacreonte, espirito conceituoso e poeta de corte.
Esquilo é um combatente, refunda a tragédia, tal como a conhecemos, senhora dos seus meios de expressão. Mas funda-a como um combate. Todo o espetáculo trágico é, com efeito, o espetáculo de um conflito. Um "drama" , dizem os Gregos, uma ação. Um conflito cortado de cantos de angustia, de esperança ou de sabedoria, por vezes de triunfo, mas sempre, é ate nos seus cantos líricos, uma ação que nos deixa ofegantes, porque nela participamos, nós, espectadores, suspensos entre o temor e a esperança, como se se tratasse da nossa própria sorte: o choque de um homem de quatro côvados (de dois metros), diz Aristófanes, de um herói contra um obstáculo dado como intransponível, e que o é, a luta de um campeão que parece ser o campeão do homem, o nosso campeão, contra uma força envolvida de mistério - uma força que quase sempre, com ou sem razão, esmaga o lutador.
Os homens que conduzem esta ação não são "santos", embora ponham o seu recurso em um deus justo. Cometem erros, a paixão perde-os. São arrebatados e violentos. Mas tem, todos eles, algumas grandes virtudes humanas.
Todos, a coragem; alguns o amor da terra, o amor dos homens; muitos, o amor da justiça e a vontade de a fazer triunfar. Todos, ainda, estão possuídos de grandeza.
Não são santos, não são justos: são heróis, isto é, homens que, no ponto mais avançado da humanidade, ilustram, pela sua luta, ilustram em atos, o incrível poder do homem de resistir a adversidade, de transformar o infortúnio em grandeza humana e em alegria - para os outros homens, e antes de mais para os homens do seu povo.
Há neles qualquer coisa que exalta em cada um dos espectadores a quem o poeta se dirige, que exalta ainda em nós o orgulho de ser homem, a vontade e a esperança de o ser cada vez mais, alargando a brecha aberta por estes ousados campeões da nossa espécie no espago murado das nossas servidões.
"A atmosfera trágica", escreve um critico, "existe sempre que eu me identifico com a personagem, sempre que a ação da peça se torna a minha ação, quer dizer, sempre que eu me sinto comprometido na aventura que se joga... Se digo 'eu', é o meu ser inteiro, o meu destino inteiro que entra em jogo".
Contra quem se bate afinal o herói trágico? Bate-se contra os diversos obstáculos com os quais esbarram os homens na sua atividade, os obstáculos que dificultam a livre florescência da sua pessoa. Bate-se para que não se de uma injustiça, para que não se de uma morte, para que o crime seja punido, para que a lei de um tribunal vença o linchamento, para que os inimigos vencidos nos inspirem fratemidade, para que as liberdades dos deuses, se tem de ser incompreensível para nós, não ofenda ao menos a nossa liberdade. Simplifiquemos: o herói trágico bate-se para que o mundo seja melhor ou, se o mundo tem de continuar a ser o que é, para que os homens tenham mais coragem e serenidade para viver nele.
E ainda mais: o herói trágico bate-se com o sentimento paradoxal de que os obstáculos que encontra na sua ação, sendo intransponíveis, tem de ser transpostos, pelo menos se quiser alcançar a sua própria totalidade, realizar essa perigosa vocação de grandeza que traz em si, isto sem ofender o que subsiste ainda no mundo divino de crume (nemesis), sem cometer o erro da desmedida (hybris).
O conflito trágico é pois uma luta travada contra o fatal, cabendo ao herói afirmar e mostrar em ato que o fatal não o é ou não o será sempre. O obstáculo a vencer é posto no seu caminho por uma força desconhecida sobre a qual não tem domínio e a que, desde então, chama divina. O nome mais temível que dá a esta força é o de Destino.
A luta do herói trágico é dura. Por mais dura que seja, e ainda que de antemão pareça condenado o esforço do herói, lança-se nela - e nós, publico ateniense, espectador moderno, estamos com ele. É significativo que este herói condenado pelos deuses não seja humanamente condenado, quer dizer, condenado pela multidão dos homens que assistem ao espetáculo. A grandeza do herói trágico é uma grandeza ferida: quase sempre ele morre. Mas essa morte, em vez de nos desesperar, como esperaríamos, para além do horror que nos inspira, enche-nos de alegria. Assim acontece com a morte de Antígona, de Alcestes, de Hipolito, e de muitos outros. Ao longo do conflito trágico, participamos da luta do herói com um sentimento de admiração e, mais, de estreita fratemidade. Esta participação, esta alegria, só podem significar uma coisa - uma vez que somos homens: e que a luta do herói contém, até na morte-testemunho, uma promessa, a promessa de que a ação do herói contribui para nos libertar do Destino. A não ser assim, o prazer trágico, espetáculo do nosso infortúnio, seria incompreensível.
A tragédia emprega pois a linguagem do mito e esta linguagem não é simbólica. Toda a época dos dois primeiros poetas trágicos, Esquilo e Sófocles, é profundamente religiosa. Crê na verdade dos mitos. Crê que no mundo divino que apresenta ao povo subsistem forças opressivas que parecem votar a vida humana ao aniquilamento. O destino, por exemplo, como disse. Mas em outras lendas é o próprio Zeus, representado como tirano brutal, déspota hostil à humanidade, que desejaria destruir a espécie humana.
Estes mitos, e outros, muito anteriores ao nascimento da tragédia, é dever do poeta interpretá-los e faze-lo em termos de moral humana. Essa é a função social do poeta quando fala, nas Dionísias, ao seu povo de Atenas. Aristófanes, à sua maneira, confirma-o pela voz de dois grandes poetas trágicos, Eurípedes e Esquilo, a quem põe em cena, e que, adversários na sua comedia, se entendem pelo menos na definição do poeta trágico e no objetivo que ele se deve propor. Em que deve ser admirado um poeta?... No fato de tornarmos melhores os homens nas cidades.,, (E a palavra " melhores" significa mais fortes, mais adaptados ao combate da vida.) A tragédia afirma a sua missão educadora.
Na época de Esquilo, o poeta trágico não considera ter o direito de corrigir os mitos, menos ainda reinventá-los à sua vontade. Mas estes mitos são contados com numerosas variantes. Entre essas variantes da tradição popular ou da tradição dos santuários, Esquilo escolhe. Esta escolha tem de ser feita no sentido da justiça, e ele assim o faz. Razão porque o poeta educador do seu povo escolhe as lendas de mais difícil interpretação, aquelas que parecem trazer mais claro desmentido a Justiça divina. São essas, com efeito, que mais o perturbam e que perturbam a consciência do seu povo. São as lendas trágicas, aquelas que fariam desesperar de viver, se o trágico não pudesse ser, no fim de contas, resolvido em justa harmonia.
Mas porque essa exigência, sempre dificilmente satisfeita, de justiça divina? Porque o povo ateniense traz na sua carne as feridas do combate que sustentou, que ainda sustenta pela justiça humana.
Se, como muitos o pensam hoje, a criação poética, a literatura não são outra coisa que o reflexo da realidade social (pode o poeta ignora-lo, mas não é isso que importa), a luta do herói trágico contra o Destino não é mais que a luta, exprimida na linguagem do mito, conduzida pelo povo, do século VII ao século V, para se libertar das violências sociais que o oprimem ainda no momento em que a tragédia nasce, no momento também em que Esquilo é o seu segundo e antético fundador.
É no decurso desta luta secular do povo ateniense pela igualdade politica e pela justiça social que se instala, na festa mais popular de Atenas, a representação dessa outra luta do herói contra o Destino, que constitui o espetáculo trágico.
Na primeira destas lutas, de um lado está o poderio de uma classe nobre ou rica, em todo o caso impiedosa, que possui ao mesmo tempo a terra e o dinheiro e que conduz a miséria o povo dos pequenos camponeses e dos artífices, que ameaça enfim desagregar a própria existência da comunidade. Frente a ela, a poderosa vitalidade de um povo que quer viver, que exige que a justiça seja igual para todos, que o direito seja o novo laço que assegurara a vida de cada homem e a existência da cidade.
A segunda luta, imagem da primeira, e a de um Destino brutal, arbitrário e assassino e de um herói maior que nós, mais forte e mais corajoso que nós, que bate para que haja entre os homens mais justiça e humana bondade, e para ele a gloria.
Há um ponto do espaço e do tempo em que estas lutas paralelas convergem e se reforçam. O momento é o das duas festas primaveris de Dioniso; o lugar o teatro do deus, no flanco da acrópole da cidade. Ai o povo inteiro se reúne para ouvir a voz dos seus poetas, que, ao mesmo tempo que lhe explicam os mitos do passado, considerados historia, o ajudam na luta para continuarem a fazer historia, a longa luta da sua emancipação. O povo sabe que os poetas dizem a verdade: e a sua função própria instrui-lo nela.
No começo do século v - principio da era clássica - a tragédia apresenta-se ao mesmo tempo como uma arte conservadora da ordem social e como uma arte revolucionaria. Uma arte conservadora da ordem social no sentido de que permite a todos os cidadãos da cidade resolver em harmonia, no mundo fictício para onde os conduz, os sofrimentos e os combates da vida quotidiana de cada homem do povo. Conservadora, mas não mistificadora.
Mas este mundo imaginário é a imagem do mundo real. A tragédia só dá a harmonia despertando os sofrimentos e as revoltas que apazigua. Faz mais do que dá-la, no prazer, ao espectador, enquanto o espetáculo dura, promete-a ao devir da comunidade, intensificando em cada homem a recusa de aceitar a injustiça, intensificando a vontade de lutar contra ela. No povo que a escuta com um coração unanime, a tragédia reúne todas as energias de luta que ele traz em si. Neste sentido, a tragédia não é já conservadora, mas ação revolucionária.
Apresentamos alguns exemplos concretos.
Eis a violenta luta de Prometeu Agrilhoado, tragédia de Esquilo, de data desconhecida (entre 460 e 450). Esquilo crê na Justiça divina, crê em um Zeus justo. De uma justiça que é, muitas vezes, obscura. O poeta escreve, em uma tragédia anterior a Prometeu:
"Não é fácil conhecer o desígnio de Zeus. Mas eis que em todos os lugares Ele flameja de súbito no meio das trevas... Os caminhos do pensamento divino seguem para o seu destino por entre espessas sombras que nenhum olhar poderia penetrar".
É preciso que Esquilo explique ao seu povo como, na obscuridade do mito de Prometeu, "flameja de súbito, a justiça de Zeus".
Prometeu é um deus cheio de bondade para com os homens. Muito popular na Ática, e, com Hefesto, o padroeiro dos pequenos artífices, nomeadamente desses oleiros do Cerâmico que faziam em parte a riqueza de Atenas. Não só dera aos homens o fogo, como inventara para eles os ofícios e as artes. Em honra deste deus venerado pelos Atenienses, a cidade celebrava uma festa na qual era disputada uma corrida de estafetas, por grupos, servindo de testemunho um archote.
Ora, é a este "benfeitor dos homens", a este deus "Amigo dos Homens", que Zeus pune pelo beneficio de que ele foi autor. Fá-lo agrilhoar por Hefesto, compadecido mas vigiado pelos servidores de Zeus, Poder e Violência, cuja linguagem cínica corresponde a horrenda figura que tem. O Titã é cravado a uma muralha de rochedos no deserto de Citia, longe das terras habitadas, e assim ficará até que se resigne a reconhecer a "tirania" de Zeus. É esta a cena impressionante que abre a tragédia. Prometeu não pronuncia uma única palavra na presença dos seus carrascos.
Como é isto possível? Sem duvida Esquilo não ignora que, "roubando o fogo", privilegio dos deuses, Prometeu se tornou culpado de uma falta grave. Mas desta falta nasceu para os homens o alivio da sua miséria. Um tal mito enche Esquilo de angustia trágica. Sente amagada a sua fé em um Zeus justo - Zeus, senhor e sustentáculo da ordem do mundo. Mas não foge a nenhuma das dificuldades do assunto que decidiu olhar em frente. E, assim, escreve toda a sua tragédia contra Zeus.
O Amigo dos Homens (o 'Filantropo', como diz Esquilo, inventando uma palavra em que se exprime, na sua novidade verbal, o amor de Prometeu pela humanidade) é pois abandonado à solidão, em um deserto onde não ouvira "voz humana" nem verá "rosto de homem", nunca mais.
Mas estará realmente sozinho? Repudiado pelos deuses, inacessível aos homens, ele está no seio da natureza, de que é filho. Sua mãe chama-se ao mesmo tempo Terra e Justiça. É a esta natureza, em que os Gregos sempre sentiram a presença escondida de uma vida poderosa, que Prometeu se dirige, em um canto lírico em uma poesia esplendorosa e intraduzível. Ele diz:
"Espaços celestes, rápida corrida dos ventos, Fontes dos rios, riso inumerável, Das vagas marinhas, Terra, mãe comum, Eu vos invoco, invoco a Roda do Sol, Olhar do mundo, apelo para que vejam O que sofro dos deuses - eu, deus...".
Mais adiante, diz a razão do seu suplicio:
"Se, misero, estou ligado a este jugo de necessidade, Foi porque aos mortais fiz o dom mais precioso. Na haste oca do nartecio Escondi o produto da minha caçada, A fonte do Fogo, a Centelha, O Fogo que para os homens se revelou Senhor de todas as artes, Estrada sem fim...".
Neste momento, ergue-se uma musica: a natureza invocada responde ao apelo de Prometeu. É como se o céu se pusesse a cantar. O Titã vê aproximar-se pelos ares o coro das doze filhas do Oceano. Do fundo das aguas, ouviram o lamento de Prometeu e vem compadecer-se da sua miséria. Abre-se um dialogo entre a piedade e a raiva. As Oceanidas trazem as suas lagrimas e os seus tímidos conselhos de submissão à lei do mais forte. Prometeu recusa submeter-se à injustiça. Revela outras iniquidades do senhor do mundo. Zeus, que fora ajudado pelo Titã na luta para conquistar o trono do céu, só ingratidão manifestou a Prometeu. Quanto aos mortais, Zeus pensava exterminar-lhes a raça, "para fabricar uma outra, nova", se o Amigo dos Homens não se tivesse oposto ao projeto. E o amor que manifesta para com o povo mortal que hoje lhe vale o suplicio. Prometeu sabia-o: conhecendo as consequências, aceitando de antemão o castigo, deliberou cometer a falta.
Contudo, nesta tragédia que parece, pelo seu terra e pelo seu herói preso ao rochedo, inteiramente votada ao patético, Esquilo achou maneira de introduzir uma ação, um elemento dramático: deu a Prometeu uma arma contra Zeus. Esta arma é um segredo que ele recebeu de sua mãe, e esse segredo interessa à segurança do senhor do mundo. Prometeu só entregara o segredo em troca da promessa da sua libertação. Entregá-lo-á ou não? Zeus obrigá-lo-á a isso ou não? Tal é o nó da ação dramática. Como, por outro lado, Zeus não pôde aparecer em cena, o que diminuiria a sua grandeza, o combate de Prometeu contra ele trava-se através dos espaços celestes. Do alto do céu, Zeus ouve as ameaças de Prometeu contra o seu poder: treme. As ameaças tornam-se mais claras com algumas palavras que Prometeu deixa voluntariamente escapar, aflorando o seu segredo. Ira Zeus desferir o raio? Ao longo de todo o drama, a sua presença é-nos sensível. Por outro lado, passam diante do rochedo de Prometeu personagens que mantem com Zeus relações de amizade, de ódio ou de servilidade e que, depois dos lacaios Força e Poder do começo, acabam de no-lo dar a conhecer na sua perfídia e na sua crueldade.
No centro da tragédia, em uma cena capital já conhecida do leitor desta, cena que precisa e alarga o alcance do conflito, Prometeu enumera invenções de que fez beneficiar os homens. Não é Já aqui, como o era no mito primitivo que o poeta herdou, apenas o roubador do fogo, e o gênio criador da civilização nascente, confunde-se com o próprio gênio do homem ao inventar as ciências e as artes, ao ampliar o seu domínio sobre o mundo. O conflito Zeus-Prometeu toma um sentido novo: significa a luta do homem contra as forças naturais que ameaçam esmagá-lo. Conhecem-se essas conquistas da civilização primitiva: as casas, a domesticação dos animais, o trabalho dos metais, a astronomia, as matemáticas, a escrita, a medicina.
Prometeu revelou ao homem o seu próprio gênio.
Ainda aqui a peça é escrita contra Zeus: os homens - por eles entendo sempre os espectadores, que e missão do poeta educar - não podem renegar o benfeitor e dar razão a Zeus, sem renegar a sua própria humanidade. A simpatia do poeta pelo Titã não cede. O orgulho de Prometeu por ter levantado o homem da ignorância das leis do mundo ao conhecimento delas e a razão, é partilhado por Esquilo. Sente-se orgulhoso por ser da raça dos homens e, pelo poder da poesia, comunica-nos esse sentimento.
Entre as figuras que desfilam diante do rochedo de Prometeu, escolherei apenas a da infeliz lo, imagem cruel e tocante. Seduzida por capricho amoroso do senhor do céu, depois covardemente abandonada e entregue ao suplicio mais atroz, Io delirante é a vitima exemplar do amor de Zeus, como Prometeu era a vitima do seu ódio. O espetáculo do sofrimento imerecido de lo, em vez de levar Prometeu a temer a cólera de Zeus, só serve para exasperar a sua raiva.
É então que, brandindo mais abertamente como uma arma o segredo de que é senhor e atacando Zeus, lança o seu desafio através do espago:
"A vez de Zeus chegará!
Orgulhoso como é hoje,
Um dia se tornara humilde.
A união que se prepara para celebrar
O deitara abaixo do trono
E o fará desaparecer do mundo.
A maldição de que Crono, seu pai,
O amaldiçoou, no dia em que foi expulso
Da antiga realeza do ceu...
So eu sei o seu futuro, só eu posso ainda conjura-lo.
Que se recoste por agora no seu trono,
Confiante no estrondo do trovão,
Brandindo na mão o dardo de fogo.
Nada o impedira de cair de vergonhosa queda,
Tão poderoso será o adversário que ele se prepara para engendrar,
Ele contra si mesmo,
Gigante invencível, Inventor de um raio mais poderoso que o seu E
de um fragor que cobrirá o do seu trovão...
No dia em que a desgraça o atingir,
Saberá então qual a distancia
Que separa a realeza da escravatura."
Mas Prometeu só descobriu uma parte do seu jogo. O nome da mulher perigosa para Zeus (e Zeus não costuma privar-se de seduzir os mortais), guarda-o ele para si.
O golpe de Prometeu atinge o alvo. Zeus tem medo e riposta. Envia o seu mensageiro, Hermes, a intimar Prometeu que lhe de o nome. Se o não fizer, piores castigos o esperam. O Titã troça de Hermes, chama-lhe macaco e lacaio, recusa entregar o seu segredo. Hermes anuncia-lhe então a sentença de Zeus. Prometeu espera com altivez a catástrofe que irá traga-lo no desastre do universo.
Então o mundo começa a vacilar, e Prometeu responde:
"Eis finalmente os atos, não já palavras.
A terra dança debaixo dos meus pés.
O fogo subterrâneo uiva nas profundidades.
Em sulcos abrasados cai o raio deslumbrante.
Um ciclone levanta a poeira em turbilhoes.
O furor dos ventos divididos lança-os uns contra os outros.
O céu e o mar confundem-se.
Eis o cataclismo que Zeus,
Para me amedrontar, lança contra mim!
O Majestade de minha mãe,
E vos, espaços celestes, que rolais em volta do mundo
A luz, tesouro comum de todos os seres,
Vede as iniquidades que Prometeu suporta".
Prometeu está derrubado, mas não vencido. Amamo-lo ate ao fim, não só pelo amor que nos manifesta, mas pela resistência que opõe a Zeus.
A religião de Esquilo não é uma piedade feita de hábitos passivamente aceitos: não é naturalmente submissa. A condição miserável do homem revolta o poeta crente contra a injustiça dos deuses. O infortúnio da humanidade primitiva torna-lhe plausível que Zeus, que o permitiu, tenha concebido o pensamento de aniquilar a espécie humana. Sentimentos de revolta e de ódio contra as leis da vida existem em toda a personalidade forte. Esquilo liberta magnificamente estes sentimentos, em deslumbrante poesia, na pessoa de Prometeu com a sua própria revolta contra a vida.
Mas a revolta é apenas um instante do pensamento de Esquilo. Uma outra exigência, igualmente imperiosa, existe nele, uma necessidade de ordem e de harmonia. Esquilo sentiu o mundo não como um jogo de forças anárquicas, mas como uma ordem que compete ao homem, ajudado pelos deuses, compreender e regular.
Por isso, depois da peça da revolta, Esquilo escreveu para o mesmo espetáculo a peça da reconciliação, o Prometeu Libertado. O Prometeu Agrilhoado fazia parte, com efeito, daquilo a que os Gregos chamavam trilogia ligada, isto é, um conjunto de três tragédias ligadas por uma unidade de pensamento e de composição. As duas outras peças da trilogia perderam-se. Sabemos apenas que ao Prometeu Agrilhoado se sucedia imediatamente o Prometeu Libertado. (Da terceira parte, que abria ou acabava a trilogia, nada sabemos de seguro.) Acerca do Prometeu Libertado possuímos algumas informações indiretas. Temos também alguns fragmentos isolados.
O suficiente para admitir que Zeus aceitava renunciar ao capricho pela mulher cujo nome Prometeu possuía. Fazia este ato de renuncia para não lançar o mundo em novas desordens. Tornava-se por isso digno de continuar a ser senhor e guardião do universo.
Desta primeira vitória, alcançada sobre si próprio, resultava uma outra: Zeus renunciava à sua cólera contra Prometeu, dando assim satisfação a Justiça. Prometeu fazia, por seu lado, ato de submissão e, arrependendo-se sem duvida da parte de erro e de orgulho que havia na sua revolta, inclinava-se perante o senhor dos deuses, agora digno de o ser. Assim, os dois adversários, vencendo-se a si próprios interiormente, consentiam em uma limitação das suas paixões anárquicas, com vista a servir um objetivo supremo, a ordem do mundo.
O intervalo de trinta séculos que separava a ação das duas tragédias em questão tornava mais verosímil este devir do divino.
Por outros termos: as forças misteriosas que Esquilo admite presidirem ao destino, a evolução do mundo - forças, na origem, puramente arbitrárias e fatais - acedem lentamente ao plano moral. O deus supremo do universo, tal como o poeta o concebe através dos milênios que o precederam, é um ser em devir. O seu devir, exatamente como o das sociedades humanas, de que esta imagem da divindade procede, é a Justiça.
*
A Orestia de Esquilo, trilogia ligada que conservamos integralmente, representada nas Dionisias de 458, constitui a última tentativa do poeta para por de acordo, na sua consciência e perante o seu povo, o Destino e a Justiça divina.
A primeira das três tragédias de Orestia e Agamemnon, cujo assunto é o assassínio de Agamemnon por Clitemnestra, sua mulher, no seu regresso vitorioso de Troia. A segunda intitula-se Coeforas, o que quer dizer Portadoras de oferendas. Mostra como Orestes, filho de Agamemnon, vinga a morte do pai em Clitemnestra, sua própria mãe, que ele mata, expondo-se assim, por sua vez, ao castigo dos deuses. Na terceira, Eumenides, vê-se Orestes perseguido por Erinias, que são as divindades da vingança, levado a um tribunal de juízes atenienses - tribunal fundado nessa ocasião e presidido por Atena em pessoa - e finalmente absolvido, reconciliado com os homens e com os deuses. As próprias Erinias se tornam divindades benéficas, e é isso mesmo que significa o seu novo nome de Eumenides.
A primeira tragédia é a do assassínio; a segunda, da vingança; a terceira, do julgamento e do perdão. O conjunto da trilogia manifesta a ação divina exercendo-se no seio de uma família de reis criminosos, os Atridas. E, no entanto, este destino não é mais que obra dos próprios homens; não existiria, ou não teria força, se os homens o não alimentassem com os seus próprios erros, com os seus próprios crimes, que se vão engendrando uns aos outros. Este destino exerce-se com rigor, mas encontra fim e apaziguamento no julgamento de Orestes, na reconciliação do último dos Átridas com a Justiça e a Bondade divinas.
Tal é o sentido geral da obra, tal é a sua beleza, tal é a sua promessa. Por mais temível que seja, a Justiça divina deixa ao homem uma saída, uma parte de liberdade que lhe permite, guiado por divindades benévolas, Apolo e Atena, encontrar o caminho da salvação. É o que acontece a Orestes, através duma dura provação, a morte de sua mãe, e a provação terrível da loucura em que se afunda durante algum tempo: Orestes é, no entanto, salvo. A Oréstia é um ato de fé na bondade duma divindade severa, bondade difícil de conquistar, mas bondade que não falta.
Leiamos de mais perto, para tentarmos apreender essa força do destino, primeiro concebida como inumana, depois convertida em Justiça, para tentarmos também entrever a extraordinária beleza da obra.
A ação da Oréstia liga-se e desenvolve-se sempre, ao mesmo tempo, no plano das paixões humanas e no plano divino. Parece mesmo, por instantes mas trata-se apenas de aparência), que a estória de Agamémnon e de Clitemnestra poderia ser contada como a estória de um marido e de uma mulher quaisquer, que têm sólidas razões para se detestarem, tão sólidas, em Clitemnestra, que a levam ao crime. Este aspecto brutalmente humano é acentuado pelo poeta com uma crueza realista.
Clitemnestra é desenhada como uma terrível figura do ódio conjugal. Esta mulher nunca esqueceu, e é natural que não tenha podido esquecer, durante os dez anos de ausência do marido, que Agamémnon, ao partir para Tróia, não temeu — para garantir o êxito dessa guerra absurda que não tinha outro fim senão restituir a Menelau uma bela adúltera — degolar, à fé de um oráculo, sua filha Ifigênia. Clitemnestra ruminou, durante esses dez anos, o seu rancor, à espera da hora saborosa da vingança. "Pronto a levantar-se um dia, terrível, um intendente pérfido guarda a casa: é o Ódio que não esquece, a mãe que quer vingar o seu filho." Assim a descreve o coro no princípio do Agamémnon.
Mas Clitemnestra tem outras razões para odiar e matar, que vai buscar aos seus próprios erros. Na ausência do marido, instalou no leito real "um leão, mas um leão covarde" que, enquanto os soldados se batem, fica em casa, "à espera, espojado no leito, que do combate volte o senhor".
Clitemnestra, com efeito, tomou por amante Egisto, desprezível e brutal, que se embusca com ela, espiando o regresso do vencedor. Serão dois a feri-lo. A rainha ama com paixão este poltrão insolente a quem domina: proclamá-lo-á depois do crime, impudicamente, gloriosamente, frente ao coro. Egisto é a sua desforra: Agamémnon, "diante de Ilion, deliciava-se com as Criseidas", e agora fez-lhe a afronta de trazer para o lar e recomendar aos seus cuidados a bela cativa que ele prefere, Cassandra, filha de Príamo, Cassandra, a profetisa — ofensa que exacerba ainda mais o velho ódio da rainha e leva ao extremo a sua vontade de matar o rei. A morte de Cassandra "avivará a volúpia da sua vingança".
Clitemnestra é uma mulher de cabeça, "uma mulher com vontade de homem", diz o poeta. Montou uma armadilha engenhosa e joga um jogo infernal. Para ser avisada sem demora do regresso do marido, instalou, de Tróia a Micenas, através das ilhas do Egeu e nas costas da Grécia, uma cadeia de sinais luminosos que, em uma só noite, lhe transmitirá a notícia da tomada de ílion. Assim, preparada para os acontecimentos, apresenta-se, perante o coro dos principais da cidade, como esposa amante e fiel, cheia de alegria por ver voltar o marido. Desembarcado Agamémnon, repete diante do rei e diante do povo a mesma comédia hipócrita e convida o esposo a entrar no palácio onde o espera o banho da hospitalidade — essa banheira onde o assassinará, desarmado, ao sair dela, com os braços embaraçados no lençol que lhe entrega. "Banho de astúcia e de sangue", em que ela o mata a golpes de machado.
Eis o drama, humano, da morte de Agamémnon — visto deste lado conjugal. Este drama é atroz: revela na alma roída pelo ódio de Clitemnestra, sob a máscara dificilmente sustentada, horríveis negridões. Executado o crime, a máscara cairá: a rainha defenderá o seu ato sem corar, justificá-lo-á, glorificar-se-á dele com um triunfal encarniçamento.
No entanto, este drama de paixões humanas, de paixões baixamente humanas, enraíza-se, na pessoa de Agamémnon, que é nele o herói trágico, num outro drama de mais vasta envergadura, um drama onde os deuses estão presentes. Se o ódio de Clitemnestra é perigoso para Agamémnon, é apenas porque, no seio do mundo divino, e de há muito tempo, nasceu e cresceu uma pesada ameaça contra a grandeza e contra a vida do rei.
Existe nos deuses, e porque os deuses são o que são, isto é, justos, um destino de Agamémnon. Como se constituiu essa ameaça? Que destino é esse, esse peso de fatalidade que acabará por esmagar um rei que procura grandeza para si próprio e para o seu povo? Não é fácil compreender logo de entrada a justiça dos deuses de Esquilo. No entanto este destino não é mais que a soma das faltas cometidas na família dos Átridas de que Agamémnon é descendente, faltas ancestrais a que vêm juntar-se as da sua própria vida. O destino é o conjunto das faltas que exigem reparação e que se voltam contra Agamémnon para o ferir.
Agamémnon é descendente de uma raça adúltera e fratricida. É filho desse Atreu que, tendo convidado seu irmão para um repasto de paz, lhe deu a comer os membros dos filhos, que degolara. Agamémnon traz o peso desses crimes execráveis e de outros ainda. Porquê? Porque, para Ésquilo, é lei dura mas certa da vida que nenhum de nós está sozinho no mundo, na sua responsabilidade intacta, que existem faltas de que somos solidários como parte de uma linhagem ou de uma comunidade. Ésquilo, embora o exprima diferentemente, tem a profunda intuição de que somos cúmplices das faltas de outrem, porque a nossa alma as não repeliu com vigor. Ésquilo tem a coragem de olhar de frente essa velha crença, mas também velha lei da vida, que quer que os erros dos pais caiam sobre os filhos e constituam para eles um destino.
No entanto, toda a sua peça diz também que este destino herdado não poderia ferir Agamémnon; só o fere porque Agamémnon cometeu, ele próprio, as mais graves faltas. É, enfim, a sua própria vida de erros e de crimes que abre caminho a esse aspecto vingador do divino que espreitava nele o descendente dos Atridas.
Em mais de uma circunstância, com efeito — os coros da primeira parte do Agamémnon o recordam em cantos esplêndidos — , os deuses permitiram a Agamémnon, submetendo-o a uma tentação, escapar à influência do destino, salvar a sua existência e a sua alma recusando-se a fazer o mal. Mas Agamémnon sucumbiu. De cada uma das suas quedas, saiu mais diminuída a sua liberdade em relação ao destino.
O seu erro mais grave é o sacrifício de Ifigênia. O oráculo que o prescrevia era uma prova em que o amor paterno do rei deveria ter triunfado da sua ambição ou do seu dever de general. Tanto mais que este dever era um falso dever, uma vez que Agamémnon empenhara o seu povo numa guerra sem justiça, uma guerra em que os homens iam para a morte por causa de uma mulher adúltera. Assim os erros se engendram uns aos outros na vida difícil de Agamémnon. Quando os deuses decidem recusar à frota o caminho de Tróia se ele não verter o sangue de sua filha, abrem no seu coração um doloroso debate.
Agamémnon tem de escolher e é preciso que escolha claramente o bem no fundo da sua alma já escurecida pelas faltas anteriores. Ao escolher o sacrifício de Ifigênia, Agamémnon entrega-se ao destino.
Eis como a poesia de Ésquilo apresenta este debate:
Outrora, o mais velho dos chefes da frota aqueia,
Próximo das águas de Aulis, brancas de remoinhos,
Quando as velas ferradas, os paióis vazios
Fizeram murmurar o rumor dos soldados,
Rei dócil ao adivinho, dócil aos golpes da sorte,
Ele mesmo, Agamémnon, se fez cúmplice do destino.
Os ventos sopravam do Entrímnis.
Ventos contrários, de fome e de ruína,
Ventos de equipagens debandadas,
Ventos de cabos apodrecidos e de avarias,
E o tempo dobrando a sua ação.
Cardava a flor dos Argivos.
E quando, mascarando-se sob o nome de Ártemis,
O sacerdote revelou o único remédio,
Cura mais amarga que a tempestade e o naufrágio,
De tal modo que o bastão dos Atridas batia o solo
E as lágrimas corriam dos olhos deles,
Então o mais velho dos reis disse em voz alta:
"A sorte esmaga-me se eu desobedeço.
Esmaga-me se eu sacrificar a minha filha,
Se eu firo e despedaço a alegria da minha casa,
Se eu maculo do sangue de uma adolescente degolada
As minhas mãos de pai junto do altar.
"De um lado e doutro só para mim desgraça.
Rei desertor, terei de abandonar a frota,
Deixar assim os meus companheiros de armas?
Terei de escolher o sacrifício, acalmar os ventos,
Escolher e desejar o sangue vertido,
Desejá-lo com fervor, com furor?...
Não o permitiram os deuses?...
Que assim seja, pois, e que esse sangue nos salve!"
Agora o destino está pousado na sua nuca,
Lentamente nele cravando um pensamento
De impiedade, de impureza, de sacrilégio.
Escolheu o crime e a sua alma mudou de sentido.
E o vento da cega loucura leva-o a tudo ousar,
Leva-o a erguer o punhal
Do sacrifício de sua filha. — Para quê?
Para a conquista de uma mulher,
Para a guerra de represálias,
E para abrir aos seus barcos
O mar.
O sangue de Ifigênia era, aliás, apenas o primeiro sangue de um crime maior. Agamémnon decidira derramar o sangue do seu povo numa guerra injusta. Isto ele o pagará também, e justamente. Ao longo desta guerra sem fim, a cólera popular subia, antecipando-se ao regresso do rei. A dor, o luto do seu povo, mutilado na perda da sua juventude, juntam-se à cólera dos deuses e, com ela, entregam-no ao Destino.
Mais uma vez a poesia de Ésquilo exprime em imagens cintilantes o crime da guerra injusta. (Cito apenas o fim deste coro).
É bem pesada a glória dos reis
Carregada da maldição dos povos.
Pesado o renome que fica a dever ao ódio.
A angústia oprime hoje o meu coração; pressinto
Qualquer golpe tenebroso da Sorte. Porque
Os reis que chacinam os soldados
Fazem recair sobre si o olhar dos deuses.
E o voo das negras Erínias
Plana por sobre as instáveis fortunas
Que não ganharam raizes na justiça.
Não há recurso contra o julgamento do Céu.
O raio de Zeus fere os cumes mais altos.
Uma última vez, no decorrer do drama, os deuses oferecem a Agamémnon a possibilidade de restaurar a sua liberdade prestando-lhes homenagem. É a cena do tapete de púrpura. Nela vemos juntarem-se o drama das paixões humanas e o drama da ação divina. É a terrível Clitemnestra que tem a ideia desta última armadilha. Ela crê na existência e no poder dos deuses, mas tem, em relação a eles, um cálculo sacrílego: tenta metê-los no seu jogo. Prepara ao orgulho do vencedor de Tróia uma tentação, que os deuses permitem. O que para ela é armadilha, é para eles prova, última possibilidade de salvação. Quando o carro do rei pára diante do palácio, Clitemnestra ordena às servas que estendam um tapete de púrpura sobre o solo, que o pé vencedor não deve pisar. Porque esta honra é reservada aos deuses nas procissões onde se transporta a sua imagem. Se Agamémnon se iguala aos deuses, expõe-se aos seus golpes, entrega-se uma vez mais ao destino que o espreita. Vêmo-lo resistir primeiro à tentação, depois sucumbir. Caminha sobre o tapete de púrpura. Clitemnestra triunfa: pensa poder agora ferir impunemente, uma vez que o seu braço passará a ser a arma de que os deuses se servem para ferir. Engana-se: podem os deuses escolher o seu braço, que nem por isso ela será menos criminosa. Só eles têm o direito de ferir, só eles são puros e justos.
As portas do palácio fecham-se atrás do casal inimigo, o machado está pronto.
Agamémnon vai morrer. Não o julguemos. Conhecemos a sua grandeza, e sabemos que ele não era mais que um homem sujeito a errar.
Para fazer ressoar em nós esta morte, digna de piedade, do vencedor de Tróia, Esquilo inventa uma cena de rara força dramática e poética. Em vez de fazer que a morte nos seja contada depois, por um servidor saído do palácio, faz com que a vivamos antes que ela se dê, evocando-a através do delírio de Cassandra, a profetisa ligada a Agamémnon pelos laços da carne apaixonada. Cassandra, até aí calada, no seu carro, insensível à presença daqueles que a rodeiam, é bruscamente presa de um arrebatamento delirante.
Apolo, o deus profeta, está nela: mostra-lhe o assassínio de Agamémnon que se prepara, mostra-lhe a sua própria morte que seguirá a dele. Mas é por fragmentos que o futuro e também o passado sangrento da casa dos Átridas se descobrem na sua visão interior. Tudo isto na presença do coro que troça dela ou renuncia a compreender. Mas o espectador, esse, sabe e compreende... Assim são as estrofes de Cassandra:
Ah! maldita! Eis o que perpetraste.
Preparas a alegria do banho
Ao esposo, com quem te deitas...
Como dizer agora o que se passa?
Ela aproxima-se. A mão
Se levantou para ferir, uma outra mão implora...
Oh! oh!... Oh! oh!... Horror...
O horror aparece, a rede, vejo-a...
Não será ela a rede do Inferno?...
Ah! aí está ela, a verdadeira rede, o engenho...
A cúmplice do leito, a cúmplice do crime...
Acorrei, Erínias insaciáveis, bando maldito!
Vingai o crime, atirai pedras
E gritai e feri...
Ah! ah! Vê, cuidado!
Afasta o touro da vaca.
Ela envolve-o num pano. Fere
Com o corno negro da sua armadilha.
Fere. Ele cai na banheira cheia...
Tem cuidado com o golpe traiçoeiro da cuva assassina.
Aterrorizada Cassandra entra no palácio, onde viu a degolação que a espera no cepo.
Finalmente, as portas abrem-se. Os cadáveres de Agamémnon e de Cassandra são apresentados ao povo de Micenas. Clitemnestra, de machado na mão, o pé sobre a sua vítima, triunfa "como um corvo de morte". Egisto está a seu lado. O ódio criminoso do par adúltero terá a última palavra? O coro dos velhos de Micenas enfrenta, como pode, o júbilo da rainha. Lança-lhe à cara o único nome que a pode perturbar, o nome de seu filho exilado, Orestes — esse filho que, segundo o direito e a religião do tempo, é o vingador designado do pai assassinado.
As Coéforas são o drama da vingança, vingança difícil, perigosa. No centro do drama está Orestes, o filho que deve matar a mãe, porque os deuses o ordenam. Recebeu ordem de Apolo. E, contudo, horrível crime é esse, mergulhar a espada no seio da sua própria mãe, um crime que, entre todos, ofende os deuses e os homens. Este crime ordenado por um deus em nome da justiça, porque o filho deve vingar o pai e porque não existe outro direito que permita castigar Clitemnestra, fora desse direito familiar, esse crime será, também em nome da justiça, perseguido pelas divindades da vingança, as Erínias, que reclamarão a morte de Orestes. Assim a cadeia de crimes e vinganças corre o risco de não ter fim.
Orestes, o herói trágico, é apanhado, e de antemão o sabe, entre duas exigências do divino: matar e ser punido por ter matado. A armadilha parece não ter saída para uma consciência reta, pois é o mundo dos deuses, a que é preciso obedecer, que parece dividido contra si mesmo.
No entanto, Orestes, nesta terrível conjuntura, não está sozinho. Quando, no princípio das Coéforas, chega com Pílades a Micenas, onde não passou a sua juventude, encontra junto do túmulo do pai — que é um montículo erguido no centro da cena — sua irmã mais velha, Electra, que vive à espera do seu regresso há longos anos, apaixonadamente fiel à recordação do pai assassinado, odiando a mãe, tratada por ela e por Egisto como serva — alma solitária que não tem outras confidentes além das servas do palácio, as Coéforas, mas alma que permanece viva porque uma imensa esperança habita nela, a esperança de que Orestes, seu caro irmão, voltará, de que ele matará a mãe abominável e o seu cúmplice, de que ele restaurará a honra da casa.
A cena do reconhecimento do irmão e da irmã diante do túmulo do pai é de uma maravilhosa frescura. Depois das cenas atrozes do Agamémnon, essa tragédia em que o nosso universo lentamente se intoxicava de paixões baixas, a hipocrisia da rainha, as covardias do rei e o ódio que ganhava tudo, e, para terminar cinicamente, se patenteava em júbilo de triunfo, depois dessa tragédia que nos asfixiava, respiramos finalmente, com a alegria do encontro dos dois irmãos, uma lufada de ar puro. O túmulo de Agamémnon está ali. O próprio Agamémnon ali está, cego e mudo na sua tumba. Agamémnon invingado, cuja cólera é preciso acordar, a fim de que Orestes, incapaz ainda de detestar sua mãe, a quem não conhece, se encha do furor do pai, faça reviver em si seu pai, até que possa ir buscar a essa estreita ligação que une o filho ao pai, a essa continuidade do sangue que nele corre, a força de ferir sua mãe.
A cena principal do drama — e a mais bela também, poeticamente — é a longa encantação em que, voltados para o túmulo do rei, sucessivamente o coro, Electra e Orestes procuram juntar-se-lhe no silêncio da tumba, no mundo obscuro onde repousam os mortos, recordá-lo, fazê-lo falar por eles, despertá-lo neles.
Mais adiante vem a cena da morte. Orestes começou por matar Egisto. Aqui, nada de difícil. Uma ratoeira, um animal imundo. Nada mais. Agora Orestes vai ser colocado diante de sua mãe. Até aqui apresentara-se diante dela como um estrangeiro, encarregado de lhe trazer uma mensagem, a da morte de Orestes. E nós vimos em Clitemnestra, após o breve estremecimento da ternura maternal, a horrível alegria que encontra na morte do filho, esse vingador que sempre temeu, o único vingador a temer. No entanto, ainda está desconfiada. Não esquece um sonho terrível que teve na noite anterior, no qual uma serpente que ela alimentava com o seu leite a mordia, e do seu seio fazia correr o sangue com o leite.
Assassinado Egisto, um servo vai bater à porta das mulheres, para anunciar o crime a Clitemnestra. A rainha sai, esbarra com o filho, de espada ensanguentada na mão, e com Pílades... Compreende subitamente, num grito de amor por Egisto. Suplica, implora, descobre ao filho o seio onde ele mamou o leite nutriente. Orestes tem um momento de desfalecimento, parece cambalear perante o horror da coisa impossível, volta-se para o amigo: "Pílades, que farei? Poderei matar minha mãe?" Pílades responde: "E que fazes tu da ordem de Apolo e da tua Lealdade? Mais vale ter contra si todos os homens que os deuses."
Orestes arrasta sua mãe e mata-a.
E de novo, como no fim do Agamémnon, as portas do palácio se abrem e, no lugar onde repousavam Agamémnon e Cassandra, jazem agora Clitemnestra e Egisto: Orestes apresenta os cadáveres ao povo e justifica o seu crime.
Orestes está inocente, uma vez que obedeceu à ordem de um deus. Mas pode alguém assassinar a sua própria mãe e ficar inocente? Através da sua justificação, sentimos subir dentro dele o horror. Grita o seu direito e a justiça da sua causa. O coro procura tranquilizá-lo: "Nada fizeste de mal." Mas a angústia não pára de crescer na sua alma, e é a sua própria razão que começa a vacilar. De súbito, erguem-se diante dele as deusas terríveis, as Erínias, vê-as. Nós não as vemos ainda, são apenas aspectos do seu delírio. E no entanto têm uma assustadora realidade. Que vão elas fazer de Orestes? Não o sabemos. O drama das Coéforas, que se abrira num sopro de juventude, num impulso de libertação, numa corajosa ofensiva contra o sinistro destino dos Atridas, ofensiva conduzida pelo filho, o único filho inocente da raça, esse drama aberto na esperança, acaba mais baixo que o desespero: acaba na loucura.
As Coéforas mostraram o fracasso do esforço humano na luta contra o destino, o fracasso de um homem que, não obstante, obedecia à ordem de um deus, na sua empresa de pôr fim à engrenagem de crime e de vingança que parecem engendrar-se um ao outro, até ao infinito, na raça maldita dos Átridas. Mas a razão deste fracasso é clara. Se o homem não pode já restaurar a sua liberdade, diminuída pelas faltas ancestrais, se não pode, mesmo apoiado na autoridade de Apolo, estendendo as suas mãos para o céu, encontrar os braços dos deuses, é porque o mundo divino aparece ainda aos homens como tragicamente dividido contra si mesmo.
Esquilo, no entanto, crê com toda a sua alma na ordem e na unidade do mundo divino. O que ele mostra no terceiro drama da Oréstia, as Euménides, é como um homem de boa vontade e de fé, tão inocente de intenção quanto um homem o pode ser, pôde, graças a um julgamento a que de antemão se submetia, lavar-se do crime imposto pela fatalidade, reencontrar uma liberdade nova e finalmente reconciliar-se com o mundo divino. Mas foi preciso para tal que, no mesmo movimento, o mundo divino operasse a sua própria reconciliação consigo mesmo, e pudesse surgir doravante ao homem como uma ordem harmoniosa, toda penetrada de justiça e de bondade.
Não entro nos pormenores da ação. A cena principal é a do julgamento de Orestes. Coloca-se ela — por uma audácia rara na história da tragédia – a alguns passos dos espectadores, na Acrópole, diante de um velho templo de Atena. Foi ali que Orestes, perseguido pelas Erínias, que querem a sua cabeça e beber o seu sangue, se refugiou. Ajoelhado, rodeia com os braços a velha estátua de madeira de Atena, outrora caída do céu e que todos os Atenienses conhecem bem. Ora em silêncio, e depois, em voz alta, suplica à deusa. Mas as Erimas seguiram-lhe a pista e cercam-no na sua roda infernal. Assim como diz o poeta, "o odor do sangue humano sorri-lhes".
Entretanto, Atena a jovem Atena, sensata e justa — aparece ao lado da sua estátua. Para decidir da sorte de Orestes, funda um tribunal, e esse tribunal é composto de juizes humanos, de cidadãos atenienses. Vemos aqui o mundo divino aproximar-se dos homens e encamar-se na mais necessária das instituições humanas, o tribunal. Perante este tribunal, as Erínias acusam. Declaram que ao sangue derramado deve forçosamente responder o sangue derramado.
É a lei de talião. Apolo desempenha o papel da defesa. Recorda as circunstâncias atrozes da morte de Agamémnon. Pede a absolvição de Orestes. Os votos dos jurados dividem-se igualmente entre a condenação e a absolvição.
Mas Atena junta o seu sufrágio àqueles que absolvem Orestes. Orestes está salvo.
Doravante, crimes como os que se cometeram na família dos Atridas não relevarão mais da vingança pessoal, mas deste tribunal fundado por uma deusa, onde homens decidirão da sorte dos inocentes e dos culpados, em consciência.
O Destino fez-se Justiça, no sentido mais concreto da palavra.
Finalmente, a última parte da tragédia dá às Erínias, frustradas da vítima que esperavam, uma espécie de compensação que não é outra coisa senão uma modificação da sua natureza íntima. De futuro, as Erínias, agora Eunémides, não serão ávidas e cegas exigidoras de vingança: o seu poder temível é, de súbito, graças à ação de Atena, "polarizado para o bem", como o disse um crítico. Serão uma fonte de bênçãos para aqueles que o mereçam: velarão pelo respeito da santidade das leis do casamento, pela concórdia entre os cidadãos. São elas que preservarão o rapaz de uma morte prematura, que darão à moça o esposo que ela ama.
No fim da Oréstia, o aspecto vingador e fatal do divino penetra-se de benevolência; o Destino, não contente de confundir-se com a Justiça divina, inclina-se para a bondade e torna-se Providência.
Assim a poesia de Ésquilo, sempre corajosa em alimentar a arte dramática com os conflitos mais temíveis que podem opor os homens ao mundo de que fazem parte, vai buscar esta coragem renovada à fé profunda do poeta na existência de uma ordem harmoniosa na qual colaborem enfim os homens e os deuses.
Neste momento histórico em que a cidade de Atenas esboçava uma primeira forma de soberania popular — essa forma de vida em sociedade que, com o tempo, merecerá o nome de democracia — , a poesia de Ésquilo tenta instalar firmemente a justiça no coração do mundo divino. Por aí, exprime o amor do povo de Atenas pela justiça, o seu respeito pelo direito, a sua fé no progresso.
Eis, no fim da Oréstia, Atena rogando pela sua cidade:
Que todas as bênçãos de uma vitória que nada macule
Lhe sejam dadas!
Que os ventos propícios que se levantam da terra, Aqueles que voltejam nos espaços marinhos,
Aqueles também que descem das nuvens como o hálito do sol Regozigem a minha terra!
Que os frutos dos campos e dos rebanhos
Não cessem de abundar em alimento
Para os meus concidadãos!
Que apenas os maus sejam mondados sem piedade!
O meu coração é o de um bom hortelão.
Compraz-me em ver crescer os justos ao abrigo do joio.

A religião grega começa logo por parecer muito primitiva. É-o realmente. Certas noções que lhe são familiares nos séculos clássicos - como as de hybris e da nemesis - encontram-se em populações tão pouco evoluídas como são as tribos Mois do sul da Indochina. Seria um erro, para procurar compreende-la, ir buscar pontos de comparação à religião cristã. No decurso de dez séculos de existência, e mais ainda, a vida religiosa dos Gregos tomou formas muito diversas: nunca teve forma dogmática, o que para nos simplificaria o seu conhecimento. Nada na religião grega se parece com um catecismo ou com uma aparência de pregação. A menos que os espetáculos trágicos e cômicos possam ser chamados "pregação". E podem-no, num sentido que precisaremos adiante. Acrescentemos que não existe, por assim dizer, na Grécia, qualquer clero, e se o há não tem influencia - excluindo os oráculos dos grandes santuários. São os magistrados da cidade que, entre outras funções, realizam certos sacrifícios e dizem certas orações. Estes atos rituais constituem uma tradição ancestral que os cidadãos não pensam sequer contestar. Mas as orações são extremamente livres, podem mesmo dizer-se flutuantes. A crença conta menos do que o gesto ritual que se executa. Uma espécie de aceno de mão, um beijo atirado com as pontas dos dedos à essas grandes potestades, cuja importância na existência humana às massas populares, como os intelectuais, raramente separados da massa, estão de acordo em reconhecer.
A religião grega tem o aspecto exuberante e mal arrumado de um folclore. Na realidade, é também um folclore. A distinção que hoje se faz entre religião e folclore, se tem algum sentido, quando aplicada a uma religião de índole dogmática como o cristianismo, não o tem quando aplicada as religiões antigas. É ao caos vivo das tradições folclóricas que os poetas e os artistas antigos, que se conservaram crentes enquanto a sua arte se dirigiu ao povo, vão buscar a matéria com que criavam e recriavam incessantemente as imagens dos seus deuses: remoldam assim a fé popular, tornam os deuses mais humanos. Esta humanização progressiva do divino é um dos traços mais salientes da religião grega. Esta tem outros caracteres, não menos importantes, mas, obrigado a escolher, é sobre este ponto que mais insistirei.
Ao principio, a religião grega, como todas as religiões primitivas, reflete a fraqueza do homem perante as "potências" que, na natureza, depois na sociedade ou ainda no seu próprio espirito, lhe parecem embaraçar a sua ação e constituir para a sua existência uma ameaça tanto mais temível quanto é certo apreender mal a origem dela. O que interessa ao homem primitivo não é a natureza ou as forças naturais em si mesmas, mas somente a natureza na medida em que intervém na sua existência e lhe fixa as condições.
O homem, mesmo primitivo, sabe-se capaz de refletir - veja-se Ulisses -, capaz de empreender atos, de calcular as consequências deles. E ei-lo que constantemente esbarra em obstáculos, se engana e falha o seu objetivo, que é simplesmente o de satisfazer algumas necessidades elementares. Acaba naturalmente por admitir que existem à sua volta vontades muito mais poderosas que a sua e que o comportamento delas é para si absolutamente imprevisível.
O primitivo verifica, pois, empiricamente, a ação da divindade como a de uma "potencia" que intervém inopinadamente na sua vida. As mais das vezes em seu detrimento, por vezes também em seu beneficio. Benéfica ou maléfica, mas acima de tudo inesperada e arbitraria. Estranha a si próprio na maneira de ser e de agir. Um deus é, em primeiro lugar, qualquer coisa que surpreende. Sente-se em relação a ele, a sua ação, espanto, temor e também respeito. O grego, para exprimir estes sentimentos complexos, diz aidos, o inglês awe. O homem não considera a "potência" sobrenatural, tem antes o sentimento de ter encontrado outro.
O sentimento religioso primitivo define-se quase inteiramente pelo sentimento da presença do Outro.
O divino pode existir por toda a parte, na pedra, na água, na arvore e no animal. Não que tudo na natureza seja deus, mas tudo pode sê-lo por sorte ou má sorte, e manifestar-se como deus.
Um camponês passa na montanha: encontra à beira de um carreiro um monte de pedras. Este monte formou-se, com o tempo, com as pedras que os camponeses como ele atiravam, ao passar. A estes montes, chama ele "herma". São pontos de referencia tranquilizadores numa região pouco conhecida. Um deus ali habita: mais tarde tomará a forma humana e chamar-se-á Hermes, guia dos viajantes e condutor das almas pelos caminhos difíceis que levam às regiões infernais. Por agora, não é mais que um monte de pedras, mas este monte é deus, todo "poderoso". Por vezes, um viajante que sente necessidade de ser tranquilizado e protegido depõe ali uma oferenda alimentar: o passante seguinte toma-la-á, se tem fome, e ao seu achado chamará "hermaion".
Os Gregos começam por ser, e durante muito tempo, camponeses. Depois, marinheiros. Os seus deuses também. Eles habitam os campos, a floresta, os rios, as fontes. Depois, o mar. A terra grega não recebe toda a agua de que precisa, ou recebe-a de uma maneira caprichosa. Os rios são raros e sagrados. Não atravessar um rio sem ter dito uma oração e lavar as mãos nas suas aguas. Não urinar na foz de um rio ou perto das nascentes. (Conselhos de Hesiodo, o camponês.) Os rios passam por dar fecundidade não só aos campos, mas também ao gênero humano. Quando um rapaz se torna adulto e corta pela primeira vez os seus longos cabelos, consagra-os a um rio da sua terra.
Cada rio tem a sua divindade. Este deus fluvial tem a forma de um touro de rosto humano. Ainda se encontram no folclore europeu atual gênios dos rios com forma de touro. Na Grécia, o gênio da agua aparece também sob a forma de cavalo. Posídon, que se tornou um dos grandes deuses da Grécia clássica, tem relações tão estreitas com o cavalo como com a agua. Um dia fez jorrar, de um golpe de um tridente, um charco de agua salgada - pomposamente denominado mar - sobre a Acrópole de Atenas, como o cavalo alado Pégaso fez brotar a fonte Hipocrene com uma pancada do casco, no monte Helicon. A forma e as funções de Posídon dependem do mester que exercem as populações que lhe prestam culto. Entre os marinheiros da Jônia, Posídon é o deus do mar. Em terra firme, e particularmente no Peloponeso, é ao mesmo tempo o deus-cavalo e dos tremores de terra. Os rios numerosos que se afundam no solo e reaparecem, por vezes, muito mais longe, passam, na crença popular, por corroer o solo e provocar os abalos sísmicos.
Os Gregos povoam ainda a natureza de inúmeros outros gênios, aos quais dão forma meio animal, meio humana. Os centauros, que tem corpo de cavalo e busto de homem, pertencem à criação poética e artística: são contudo, certamente, de origem popular. O seu nome parece significar "os que chicoteiam as aguas", é provável que tenham sido, originariamente, gênios das correntes montanhosas do Pelion e da Arcádia, onde a poesia, os localiza. Na Jônia, os silenos são atestados pelas inscrições: também eles exprimem, com a sua defeituosa forma humana, as suas pernas e cauda de cavalo, os aspectos selvagens da natureza. Além disso, são itifalicos, o que, nos tempos primitivos, não é uma característica destinada a fazer rir, antes exprime o grande poder de fecundidade da natureza. O mesmo em relação aos sátiros, bodes nos pés, nas orelhas e na cauda, e igualmente itifalicos. Reunidos mais tarde no cortejo jovial e bravio de Dioniso, ajudam, com ele, a fazer crescer as arvores e as plantas, contribuem para a multiplicação dos rebanhos e das famílias. Com este grande deus, fazem voltar a Primavera.
Como todos os povos da Europa, os Gregos exprimiram também a fecundidade da natureza sob a forma de numerosos gênios femininos. Os mais populares e os mais próximos do homem - no entanto, como todos os seres divinos, perigosos se se aproximam - são gênios amáveis, acolhedores e graciosos como donzelas e cujo nome de "ninfas" significa exatamente donzelas. Criaturas encantadoras, benévolas, alegres, sempre prontas a dançar, e que de súbito, inexplicavelmente irritadas e ameaçadoras, se tornam esse outro que caracteriza o divino. Um homem diante de nós enlouquece: está "possesso das ninfas". É a elas, no entanto, que se dirige o culto mais intimo, aquele a que nos conduzem os nossos sentimentos mais profundos, o amor da nossa mulher e dos nossos filhos. Ulisses, voltando a Ítaca, depois de vinte anos, e antes de empreender com Telemaco o duro combate contra os pretendentes que deve restituir-lhe Penelope e o seu domínio, aproxima-se do antro profundo, da caverna abobadada das ninfas, perto da beira-mar, as quais, noutros tempos, oferecera tantos sacrifícios. É a proteção delas que confia o tesouro das suas viagens, é sobretudo a elas que quer entregar a salvação da sua empresa. Prosternado, depois de ter beijado essa outra divindade rustica, "a Terra que da o trigo", logo levanta as mãos ao céu, implora as ninfas protetoras e familiares que lhe concedam, com Atena, a vitória.
Há uma rainha da natureza selvagem, muito semelhante às ninfas que a acompanham, aquela a quem primeiro se chamou, muito simplesmente, Senhora dos animais selvagens, destinada a ser na vida religiosa do povo grego a grande deusa Artemis. Frequenta as florestas e os cimos das altas montanhas. O seu culto está ligado ao das árvores, das fontes, dos rios. Chamam-lhe, conforme os lugares, Lygodesmos, o que significa que ela vive entre os salgueiros, por vezes Caryatis, por causa das nogueiras, por vezes Cedreatis, por causa dos cedros. É a deusa mais popular de toda a Grécia. O camponês grego atual não a esqueceu completamente. Da como rainha as ninfas, em que ainda acredita, a "Bela Senhora" ou a "Rainha das Montanhas". Esta sobrevivência de Artemis, através de dois mil anos de fé cristã, é um dos índices mais vivos do caráter ao mesmo tempo popular e universal da antiga religião do camponês grego. E eis ainda outra sobrevivência, no que se refere às ninfas: não há muito tempo - um século, apenas - em um alojamento rupestre de uma colina situada em plena cidade de Atenas, as mulheres gravidas levavam oferendas às ninfas, de quem esperavam bom parto e felicidade conjugal.
Mas eis agora, a Terra que dá o trigo. Velha entre todas as divindades do mundo, com o Céu. Viva sob os pés, a enxada ou a charrua do camponês, e também a mãe de todas as raças de seres vivos - animais, homens e deuses. Alimenta-os com o seu grão. O seu nome grego de Demeter significa provavelmente que é a "Mãe das Searas". Um dia, segundo Homero, Demeter uniu-se amorosamente a um mortal, Iasion: um campo três vezes lavrado lhes serviu de leito. Ela deitou ao mundo Pluto, cujo nome significa riqueza.
Na economia antiga, a riqueza é constituída pela provisão de trigo que os homens armazenam nos silos e de que vivem na estação em que os frutos da natureza são raros. Hades, deus subterrâneo dos mortos, é uma forma derivada de pluto: o seu nome significa "aquele que possui a riqueza". Esta riqueza não é somente a dos mortos inúmeros de que ele é soberano, e acima de tudo a das sementes acumuladas nos silos.
Demeter é a deusa das sementes. Tem uma filha, sempre associada ao seu culto, que, entre diversos nomes, tem mais comumente o de "Filha do Grão": Core. Demeter e Core - a "Mãe das Searas" e a "Filha do Grão" - são, desde tempos pre-helenicos, duas grandes deusas da população camponesa ática, e, depois, de toda a comunidade ateniense. É conhecida a lenda segundo a qual Hades, o deus subterrâneo dos silos e dos mortos, raptou Core para o seu domínio infernal. Por ordem de Zeus e para acalmar a dor da mãe, foi obrigado a restituir-lhe. Todos os anos lhe torna a dar: os mistérios de Eleusis, na Ática, celebram o regresso da Filha do Grão à luz do dia, o encontro das deusas que passam juntas oito meses sobre a terra e ficam quatro meses separadas.
Os oitos meses contam-se - segundo uma hipótese sedutora - a partir do momento em que se reabrem os silos para fazer as sementeiras do Outono. Toda a vegetação cresce depressa na Ática, os cereais semeados em Outubro crescem durante o Inverno, com uma breve paragem em Janeiro. Amadurecem nos fins de Abril, ceifados em Maio, malhados em Junho. Depois, as sementes que se reservam para as sementeiras seguintes voltam aos silos: a Filha do Grão desce a terra, para junto de Hades... No entanto, por natural confusão, a permanência de Core sob a terra foi também relacionada com o tempo que o grão semeado leva a crescer em nova espiga.
Pouco antes da época da abertura dos silos, celebravam-se na Ática, em Eleusis, os mistérios de Demeter e de Core, nos quais os iniciados assistiam, sob uma forma que não podemos precisar, a reunião da mãe das Searas e da Filha do Grão. De qualquer modo, a iniciação propunha aos mistas um espetáculo, por certo muito simples. Um escritor cristão, que parece honesto (deveremos acreditar nele?), declara que o mais alto mistério da iniciação consistia na ostensão, feita pelo grande sacerdote de Eleusis, de uma espiga de trigo ceifado.
Se o culto de Demeter e de Core tem uma origem agraria elementar, não é menos verdade que, com os séculos, se enriqueceu de significações mais profundas.
A terra alimenta com a sua vida o grão de trigo. Enquanto somos vivos, alimenta-nos dele. Quando morremos, retoma-nos nela e, por nossa vez, tornamo-nos alimento das plantas da terra. Trigo alimentador, somos também o teu alimento. Destinados a descer ao seio da Terra viva, a morte que nos espera perde o seu horror. A germinação da colheita nova pode simbolizar a eternidade da vida.
Assim se desenvolveu, sobre os fundamentos de um velho culto camponês, uma esperança de imortalidade, que primeiro não era para os indivíduos, mas para a sucessão das gerações. Esta evolução esta já concluída a partir do fim dos tempos arcaicos. Mais tarde, na reivindicadora Atenas, no século V, quando se sentiu libertado dos laços da família e da tradição, o individuo passou a desejar a imortalidade para si próprio. Os mistérios de Eleusis acabaram por prometer mais isto aos iniciados: uma vida de felicidade nos Infernos lhes estava destinada. Mas não era este o inteiro e natural desenvolvimento do culto agrário, antes um começo de desvio.
Um ultimo traço interessante deve assinalar-se a proposito dos mistérios de Eleusis. Originariamente, era um culto familiar: o chefe de família admitia nele quem lhe parecia. Isto explica a possibilidade de assistirem a celebração os estrangeiros, as mulheres e os escravos. Os mistérios de Eleusis ofereciam pois aos seres mais deserdados da sociedade antiga, as mulheres como aos escravos, uma compensação para a miséria da sua condição. Deste ponto de vista - pelo caráter de universalidade que tinham, pelo menos em principio prefiguravam de algum modo o culto cristão.
Os Gregos são, a partir do século VIII, tanto quanto camponeses, um povo de marinheiros. Lançam-se, com a Odisseia, à descoberta e a colonização, terra apos terra, do Mediterrâneo ocidental. Sabemos em que difíceis condições e sobre que medíocres barcos. Comparado com Ulisses, arrastado pelos espaços vazios do mar Jônio, Lindbergh atravessou o Atlântico numa poltrona. Mas estes espaços não estão vazios. A cada volta de um cabo, em cada estreito apertado, um "maravilhoso" nascido do terror, um prodígio assustador e contudo sedutor para o coração do homem avido de aventuras e de tesouros, espreita o marinheiro sem bussola. "A miséria do ventre faminto faz equipar os navios e sulcar as vagas. No entanto, é sobre o mar e as ilhas, e para além da superfície infinita dos abismos que se podem, ver as coisas estranhas, descobrir o mundo, enumerar as suas maravilhas.
Derivando de crenças populares mais antigas que a própria Ilíada, o maravilhoso odissaico refaz em criaturas estranhas às formas da vida, recria-as no gigantesco, no grotesco ou no eternamente belo. Estas criaturas que, demasiado distantes do humano, não podem ser objeto de um culto, são no entanto significativas do duplo sentimento que inspira aos primitivos a grandeza do mar sem limites: o sentimento do seu imenso poder de destruição, o sentimento do seu poder pérfido de sedução. Rimos da aventura do Ciclope porque um homem astuto o venceu para nos permitir que riamos. Mas os marinheiros perdidos sobre a costa da Sicília ou de Nápoles não riam quando ouviam rosnar ou ralhar o Vesúvio ou o Etna.
Os Ciclopes, sob a capa da sua pacifica vida de pastores, são absolutamente enigmáticos para os homens. Não há oração possível de Ulisses a esse monstro antropófago, ateu, anti-social que é Polifemo. O poeta da Odisseia mostra com insistência o horror dos Ciclopes por tudo o que toca a vida civilizada: barcos, leis e assembleias. Tem, como os outros "monstros" do poema, a brutalidade irracional, a impenetrabilidade radical dos primitivos ao entendimento dos fenômenos naturais.
Tome-se Caribdis e Cila: não é mais que vertiginosa mecânica do mar, que engole um apos outro os barcos, ou monstro de seis goelas com tripla mandíbula e dentes "cheio de negra morte". Tais criações exprimem miticamente o horror do marinheiro perante o terrificante poder de aniquilamento de que o mar dispõe em relação a ele.
Com Circe e as Sereias o símbolo e mais complexo. Estas belas ninfas são a armadilha da natureza, o rosto que nos atrai e nos "encanta" (no sentido de que são "encantadoras"). Mas o sorriso das ninfas dissimula mal a fundamental hostilidade do mundo natural (deve ler-se muito para lá desta linguagem de imagens!) para com a espécie humana. Circe usa os seus "encantamentos" para transformar os homens em animais, fecha-os nos seus estábulos. As Sereias cantam com voz divina, mas cantam num prado juncado de ossadas. A natureza é aqui apreendida no contraste que lhe atribuímos da sua beleza e do seu mortal ódio para com a vida da nossa espécie. Uma vez atraídos por Circe, a encantadora faz entrar os homens no circulo da natureza onde ela rema. Transformados em leões ou em porcos, esquecem que existe uma pátria. Assim, como em outras narrativas da Odisseia, de cada vez que os homens penetram na zona interdita, no mundo cego da natureza, de cada vez que se deixam conquistar por uma dessas criaturas de rosto duplo que o poeta vai buscar a tradição para exprimir esse mundo, perdem a pátria, símbolo da sua comum humanidade, perdem o regresso, como diz o poeta. Perdem a sua qualidade de homens que vivem em sociedade.
E se a não perdem completamente, se não se deixam aniquilar pelo terror que os desumaniza, é porque Ulisses é um homem. Não digo sequer um herói: nenhuma labareda sobrenatural se ateia sobre a sua cabeça como sobre a de Diomedes ou de outros combatentes da Ilíada. O seu rosto tão humano só tem a marca das lutas que ele sustentou e da experiência que delas retirou. É um homem por todos os laços que o prendem à sociedade humana: o amor de sua mulher e de seu filho, o amor do trabalho criador de objetos e de ações.
Ulisses é um homem e torna ao seu pais porque, mobilizando ao mesmo tempo todos os recursos da inteligência, do coração e das mãos, venceu os demônios do mar.
Contudo, na época da formação da Ilíada e da Odisseia, uma parte do temor que inspira o "maravilhoso" marinho esta já vencida. O positivo Ulisses é capaz, ao contar as suas aventuras aos seus hospedeiros feaces, de sorrir por momentos desse mundo fantástico e assustador criado pelos seus antepassados marinheiros. Na própria Odisseia temos outros indícios deste recuo do "maravilhoso". Os Gregos, incapazes de aceitar tanto mistério inacreditável, de se resignar ao incompreensível, cedo substituíram, nas suas tradições, estes deuses monstruosos, estas ninfas cruéis, por deuses de forma humana, por isso mesmo mais legíveis para a imaginação e a razão. Sobre o mar, e não só nele, começou a reinar o tranquilizador antropomorfismo. Assim, Posídon, o Príncipe do Mar, atrela os cavalos como um nobre guerreiro da Ilíada. (É certo que os seus cavalos voam sobre as vagas.) A volta dele alegremente saltam os golfinhos, os cães do mar, os cetáceos. Senhor dos espaços marinhos, tem o seu palácio, tem a sua esposa (a rainha Anfitrite) nos abismos. Reina sobre o inumerável povo dos peixes e dos monstros. Este povo fugidio e pérfido. Quanto a Posídon, sempre furioso como as vagas, persegue com a sua raiva Ulisses e todos os marinheiros que se aventuram sobre as ondas. Mas tem a forma, os pensamentos e os sentimentos de um homem: partindo disto, passa a ser permitido aos marinheiros entregues às suas súbitas fúrias procurar os motivos da sua cólera e tentar aplaca-la.
Este antropomorfismo - esta humanização dos deuses - não se estende apenas ao domínio marinho, mas ao conjunto do mundo. Zeus começou por ser um deus do céu, um deus do tempo que faz - deus do raio e das tempestades, deus das nuvens que se amontoam e rebentam em chuvas mais devastadoras que benéficas. A língua grega diz indiferentemente "o deus chove" ou "Zeus chove". Depois Zeus torna-se o deus da vedação. Um dos seus antigos epítetos é Herkeios: Zeus da sebe ou da barreira. Torna-se o deus da casa, que protege das intempéries, torna-se o deus do lar. Zeus Herkeios tem o seu altar em cada morada. É adorado como Zeus pater (Jupiter), o que quer dizer que é, não o antepassado, mas o protetor da família. Protege a casa e os recursos que ela contem, é chamado, a este titulo, em muitas regiões gregas, Zeus Ktesios (Zeus, o Adquiridor). Porque protege a casa, porque vela pelo sal e pelo pão, alimento elementar, porque os oferece ao viajante que entra em casa, e imaginado por aqueles que o invocam como um hospedeiro acolhedor, cheio de humanidade para os estrangeiros e os miseráveis sem lar. É humano, ao mesmo tempo, pela forma e pelos sentimentos. É, simultaneamente, o mais poderoso e o melhor dos deuses.
O mesmo se passou com outros deuses, que se tornaram deuses do Olimpo. Vejamos Apolo. É belo como o dia, o seu rosto irradia claridade. Toda uma parte da sua atividade revela a sua origem solar. As suas flechas ferem de morte súbita, como uma insolação o pode fazer. Mas a sua ação cura os doentes, como os raios solares o fazem também. É um deus humaníssimo, muitas vezes cheio de bondade; não é somente o corpo que ele purifica e cura: lava também a nodoa do crime, quando o culpado vai implorar ao seu altar ou mergulhar-se na fonte próxima do seu santuário de Delfos. Mas - um texto o acentua - terá de ser de coração puro. Como não representar sob forma humana um deus tão próximo dos homens?
Mas nós distinguimos em varias regiões da Grécia, nomeadamente entre os Arcades, povo de pastores, uma outra origem de Apolo (porque a figura de Apolo combina em si varias outras, de origens muito diversas, a maneira de um sincretismo): é Apolo Lykeios, o que quer dizer, deus dos lobos; e matador de lobos. Protege os rebanhos, transporta os cordeiros e os vitelos nos braços... Assim, como bom pastor, o representa a escultura arcaica. Imagem que atravessou os séculos e as religiões: a representação de Apolo bom pastor, ou de Hermes bom pastor, transportando os rebentos do rebanho aos ombros, e também a do Cristo imberbe que se vê nas catacumbas ou nos mosaicos de Ravena - a mais antiga das representações do Deus feito homem.
Por outro lado, Apolo, deus do dia, tem o olhar agudo que conhece o futuro e o revela. No santuário de Delfos, num vale da encosta de Parnaso, há um templo famoso de Apolo, venerado de todo o mundo antigo, helênico e bárbaro. Ali o deus inspira a sua profetisa, e os sacerdotes interpretam em oráculos a linguagem inarticulada da Pitia. Apolo sabe o que melhor convém aos indivíduos e as cidades. Milhares de crentes se juntam no seu santuário. Consulta-se o deus por qualquer coisa, como hoje se consulta o advogado, o notário ou o padre. Em muitos casos, os seus conselhos são excelentes. Se se trata de fundar uma cidade nova para além dos mares, o deus indica o local mais favorável e os recursos da terra distante para onde se vai emigrar. (Claro que os padres que davam os oráculos estavam informados, por meios que não diferiam muito dos de uma agencia de viagens, acerca dessas terras, desconhecida de quem os consultava. Mas escondiam-no pouco e os fieis não o ignoravam.) Delfos enchia-se de tesouros esplendidos que vinham do mundo inteiro.
Por vezes, os oráculos do deus eram enganadores: induziam fatalmente em erro aqueles que queriam segui-los. O deus queria assim, pensava-se, mostrar que a omnipotência e a liberdade divinas podem sempre prevalecer sobre a vontade dos homens. Apolo punha-se à distancia.
Apolo, deus da luz, é também o da harmonia. Inventou a musica e a poesia para encantamento dos homens. Pratica-as e ama-as acima de todas as coisas. O melhor meio de alcançar os favores deste deus, distante mas benévolo, é oferecer-lhe festas em que coros de rapazes e de moças cantam e dançam em volta dos seus altares.
Aliás, a maior parte dos deuses amam as belas festas. São os deuses joviais de um povo cheio de alegria que se concilia os preciosos favores divinos organizando belos espetáculos, competições desportivas, corridas de archotes, jogos de bola. Dirigir aos deuses preces e oferecer-lhes sacrifícios - muito bem. Celebrar festas em sua honra - e mesmo espetáculos cômicos, onde de caminho se troçara deles -, melhor ainda. Os deuses amam o riso, mesmo que esse riso os arranhe um pouco. O riso dos deuses, no Olimpo onde se reúnem, no palácio de Zeus, é "inextinguível", diz Homero. Dançar uma bela dança ao som da flauta, dançar em sua honra com o corpo cheio de musica, eis o que acima de tudo agrada aos deuses, que são deuses carnais, tão sensíveis como os homens à beleza do ritmo e da melodia.
*
Assim nasceram, depois dos tempos primitivos, algumas das figuras dessa religião que foi a dos deuses do Olimpo.
Recriadas por Homero, o genial poeta da Ilíada, os deuses gregos tornam-se intensamente humanos. A sua presença física é percebida por todos os sentidos. Dizer que são vivos, é pouco. Ouvimos os seus gritos, e por vezes os seus bramidos. Os cabelos de Zeus e de Posídon são mais negros que o natural: tornam-se azuis, cianosos. Vemos o branco deslumbrante ou o azul sombrio das túnicas das deusas, ou ainda a sua cor de açafrão. Os véus deslumbram "como o sol". Hera traz pedras preciosas do tamanho de amoras. Zeus não faz uso discreto do ouro nos seus atavios: manto de ouro, ceptro de ouro, chicote de ouro, e o resto. As tranças luzidias de Hera caem aos lados da cabeça. O perfume que usa é violento: enche o céu e a terra. Os olhos de Atena cintilam, os de Afrodite têm o brilho do mármore. Hera sua, Hefesto também, e enxuga o rosto, e tem o peito cabeludo. Coxeia ostensivamente...
Nunca mais acabaríamos. Estes deuses físicos ensurdecem-nos e cegam-nos. Pouco falta para que nos ofusquem.
A esta forte presença carnal corresponde uma vida psíquica igual, e contudo diferente da dos heróis. Não por certo mais complexa, mas mais obscura. Estes deuses de carne e osso, que parecem devolver-nos a sua própria imagem, muito mais humanos e por consequência mais acessíveis às nossas orações que os deuses primitivos (comja ou calhau), têm contudo em si qualquer coisa de inefável — precisamente essa coisa que os torna deuses. Por vezes um simples pormenor no-lo faz entrever. Assim, quando Afrodite, descida ao campo de batalha, é ferida por Diomedes, o poeta mostra-nos a lança aguda do herói, que, antes de penetrar no braço da deusa e de fazer jorrar o sangue imortal, "rasga o leve véu tecido pelas Graças". Por este episódio singular, por este rasgar do tecido quase imaterial que velava a bela carne divina, ficamos sabendo que Diomedes realizou uma ação inaudita e que "a mais fraca das deusas" é, não obstante, uma grande deusa. Na verdade, os deuses humanizados da Ilíada ainda são temíveis: são Potências. Qualquer coisa resiste sempre neles à humanização perfeita, que o próprio leitor do poema lhes recusa. A exuberância extraordinária da sua alegria, no seio da dor do mundo que dirigem, é uma terrível confirmação da sua divindade. Os homens conhecem-nos à aproximação da morte como deuses dos vivos. Vivem a vida numa plenitude tão total que o crente nada mais pode fazer que adorá-los. O crente enche-se da alegria deles através da imagem que lhe é dada pelo poeta-vaies. Pouco importa que façam da sua liberdade soberana um uso quase impossível de prever. Pouco importa que um fosso profundo separe a condição divina e a condição humana. A única coisa que nos toca é que os deuses vivem numa felicidade sem fim, na jovialidade e no riso, no absoluto da alegria. "As lágrimas são reservadas aos homens, o riso aos deuses", diz Homero.
O sentimento religioso que tais deuses podem inspirar aos homens tem a sua grandeza. Está ainda ligado ao temor da Potência desconhecida. Mas a este temor junta-se uma espécie de alegria desinteressada, isto é, que existe no mundo, separada dele e muito próxima dele, como que uma raça de seres imortais, uma raça de homens liberta das mais pesadas servidões que lesam a espécie mortal, de deuses que vivem na serenidade do Olimpo cintilante, eles próprios serenos porque libertados da morte, do sofrimento e dos cuidados. Para estes deuses, a moral não tem sequer sentido: a moral é uma invenção humana, uma espécie de ciência tirada da experiência humana e destinada a remediar os principais acidentes da nossa condição. Mas para que precisariam os deuses da Ilíada de uma moral, se as paixões a que se entregam, na profusão do prazer, não têm para eles as desagradáveis consequências que para os seres mortais? Sabemos que a cólera de Aquiles provoca a derrota dos Gregos e multiplica os mortos sob as muralhas de Tróia. Mas a cólera de Zeus contra Hera, que se lê no mesmo canto da Ilíada, descamba simplesmente em cena doméstica e acaba numa gargalhada "inextinguível". Toda a paixão divina, vivida na aventura, acaba no riso.
Tais reflexões sobre a condição divina são cruéis para os Gregos. Fazem-nas os maiores poetas e comunicam-nas ao povo. O Grego crente contempla, entretanto, o Olimpo como um espectáculo que o "arrebata" (no sentido mais expressivo do termo). Indiferentes às querelas humanas, os deuses da Ilíada existem por si mesmos, pela mera alegria de existir, e não em função do homem, como guardas alistados ao serviço do Bem. Muito simplesmente, existem. Como uma das múltiplas formas da vida, como os rios, o sol e as árvores, cuja única razão aparente de existirem é a de nos agradarem pela sua beleza. São livres, não à nossa maneira de uma liberdade duramente arrancada à natureza, mas de uma liberdade que é um dom da natureza. Nunca se dirá suficientemente o que há de heróico em confiar o governo do mundo e a sorte do homem a grandes forças não imorais mas amorais e obscuras, sem objetivo claramente definido mas talvez não impossível de conhecer, e para as quais o princípio de causalidade não tem papel a desempenhar.
O povo grego é um povo corajoso, cuja coragem não consiste na resignação, mas na luta. Adora nos seus deuses aquilo que ele está decidido a conquistar um dia: os espaços ilimitados da alegria de viver.
Esta religião das figuras do Olimpo não é, como alguns afirmaram, uma religião imóvel, uma espécie de consolação estética para o mal de ter nascido mortal. O esteticismo ameaça-a, mas ela não se afundará nele — apesar das obras-primas inúmeras que deve ao seu culto da beleza — porque, na data em que ela surgiu e floresceu, o povo grego tem ainda em si muitos outros recursos criadores. O que é preciso dizer, contudo, é que, apresentando ao homem uma humanidade mais perfeita, feliz de uma felicidade sempre ativa, posto que não ameaçada, e mais feliz que ele próprio, ela o convida a rivalizar com essa nova espécie de humanidade. Convida o homem a "combater o Anjo". Os Gregos deram o nome de hybris a este perigoso combate, que não se trava sem perigo. Os deuses são ciosos da sua felicidade e defendem-na como classe possidente. Hybris (orgulho) e ciúme (nemêsis), são ainda crenças primitivas. Lentamente, os Gregos libertar-se-ão delas. Uma das linhas essenciais do combate da tragédia será a luta que travará contra o perigo da hybris e a ameaça da nemésis. A tragédia responderá, quer aceitando o risco da grandeza humana, quer pondo os homens em guarda contra uma ambição alta de mais para o povo mortal. De um modo geral, a tragédia afirmará ao mesmo tempo a grandeza do homem ferido e a omnipotência dos deuses que o ferem. E ainda tem, de uma maneira ou de outra, de justificar a ação dos deuses. É preciso que os deuses sejam finalmente justos. Mas ainda não chegámos a esse ponto. Os deuses da Ilíada não querem saber de uma justiça que limitaria a sua liberdade e o seu poder soberanos.
Mas que acontecerá, no fim de contas, a esta bela religião de figuras, que apresentava ao homem, numa forma perfeitamente realizada, os seus desejos inconfessados e as mais preciosas conquistas do seu futuro? Acontecer-lhe-á, muito simplesmente, dissolver-se no humano. As divindades do Olimpo, na época das cidades, das divindades "políadas", tornar-se-ão caudilhos das comunidades de cidadãos, ou mesmo, quanto a Zeus e Apolo, por exemplo, da comunidade helênica. Os deuses não serão mais que estandartes das cidades, drapejando aos ventos dos combates. Ou humanizar-se-ão, ao ponto de não serem mais que símbolos das forças ativas que agem no nosso pensamento, no nosso sangue, e mantêm o nosso corpo de pé. Nesse momento, a religião grega, confundida com o poder e a glória da cidade, ou com os motivos mais fortes dos nossos atos, estará muito perto da morte. Imobilizar-se-á em imagens poéticas, belas talvez, mas de uma beleza vazia.
Na verdade, a religião, ao humanizar-se, laiciza-se. O Estado e os deuses formam, a partir de então, uma unidade indissolúvel. Os templos erguidos em Atenas por Pisístrato, mais tarde por Péricles, celebram, não menos que a glória dos deuses, a glória da comunidade que os construiu e, no segundo caso, a glória da metrópole do Império. O sentimento religioso cede aqui o lugar ao patriotismo e ao orgulho dos cidadãos por oferecerem à divindade monumentos tão esplêndidos, pretexto de festas deslumbrantes e objeto da admiração do mundo. Mas, ao identificar-se com o orgulho cívico, a religião dos deuses humanizados de novo se afasta do coração do homem, e engrandece-o menos do que ele pensa.
Entretanto, por essa altura, já o povo grego terá firmemente nas mãos uma outra arma, ou antes uma outra ferramenta para reconstruir o mundo: essa ferramenta é a ciência. Saberá servir-se dela?
*
Falaremos agora dos deuses artesanais. A ciência — como se verá mais adiante, nesta obra — nascerá do trabalho e particularmente da técnica das artes do fogo. Nos tempos arcaicos, o homem atribui aos deuses as suas próprias invenções. Estas invenções multiplicam-se na época em que o povo grego não é já apenas camponês e marinheiro, quando uma nova classe da sociedade — numerosa a partir da época de Sólon — vive do trabalho das suas mãos nas cidades que crescem: é a classe artesanal, a classe obreira, e também a classe dos mercadores, lojistas e comerciantes. Eles têm igualmente os seus deuses, deuses trabalhadores, à sua imagem.
Hefesto — depois de Prometeu — é o génio do fogo, não o fogo do raio, mas o da cozinha e da forja, o fogo submetido ao uso do homem. Tem as suas oficinas, ouvimo-lo trabalhar nos vulcões, com os seus ajudantes. Uma multidão de ferramentas à sua disposição — martelos e tenazes — , uma enorme bigorna, vinte foles soprando as fornalhas. Meio nu, trabalha todo o dia, com um gorro de operário na cabeça, martelando o metal na bigorna. Em Atenas, onde lhe chamam simplesmente Obreiro, tem, no século V, um belíssimo templo, ainda quase intacto hoje, na parte baixa da cidade, no bairro mais popular da Atenas antiga. Na esplanada deste templo, o povo festeja-o com danças e ruidosos divertimentos. (Estas festas ficaram populares e são celebradas ainda nos nossos dias.) Reservada à classe obreira, a festa antiga chamava-se Calchéia: era a festa dos caldeireiros, embora nela participassem também outros artífices, nomeadamente os numerosos oleiros. Atena presidia também, na sua qualidade de deusa Obreira (Ergané).
A deusa que deu o nome a Atenas — Atena — é a imagem mais perfeita da Atenas industriosa dos séculos arcaicos e clássicos. Boa obreira ela própria, é a padroeira de todo o seu povo trabalhador. O carpinteiro e o pedreiro devem-lhe o esquadro. Protege também as artes metalúrgicas e, mais ainda, o povo inumerável dos oleiros que deu o seu nome ao vasto arrabalde do Cerâmico. Atena inventou a roda de olaria e inventou os primeiros vasos de barro. Vigia de modo a impedir os acidentes na pintura e cozedura. Põe em debandada os diabos que partem os vasos e fazem estalar o verniz — os demónios Syntrips, Sabaktés e Smaragos, que se embuscam na argila e no forno. Todo o grupo de oleiros, patrões, modeladores, compositores, desenha dores, pintores que dispõem o preto, reservando para as figuras a argila vermelha, e que retocam o desenho — por vezes com um pincel de uma única seda — com um traço vinoso ou com um traço branco, obreiros encarregados de velar pela cozedura, serventes que amassam argila — , todos a invocam. De um deles, conservamos uma canção popular muito comovente. Começa por uma oração a Atena, para que ela estenda a sua mão sobre o forno, para que os vasos fiquem cozidos ao ponto conveniente, para que o preto conserve o brilho
e a venda dê bom lucro. Num vaso, vemos Atena em pessoa, escoltada de pequenas Vitórias, aparecer no meio de uma oficina de oleiros e colocar coroas sobre a cabeça dos trabalhadores.
A deusa Obreira vela também pelos trabalhos das mulheres. A roca e o fuso são para ela atributos mais preciosos que a lança. É "com os dedos de Atena", diz-se, que as mulheres e as moças de Atenas tecem e bordam esses estofos iluminados de recamaduras, ora flexíveis e transparentes para ficarem soltos na cintura, ora pesados para tombarem em nobres pregas verticais. Quatro garotinhas, de sete a onze anos de idade, fechadas durante nove meses no opistodomo do santuário da deusa, na Acrópole, tecem e bordam de cenas míticas a túnica nova que lhe é oferecida todos os anos na sua festa. Ligada a toda a vida quotidiana do seu povo, a deusa Obreira representa-o exatamente: sobre a Acrópole, defende-o, na sua grandeza, de lança em punho e capacete na cabeça; nas ruas da cidade baixa e no arrabalde, oferece, sem mistério e sem mística, ao povo da gente de pouco, uma religião honesta e, para a época, muito sensata.
Há, num coro de Sófocles, um apelo assim formulado: "Descei à rua, vós, povo dos obreiros manuais, que adorais a filha de Zeus de olhos brilhantes, Ergané, descei com os cestos sacrificiais, ficai perto das bigornas." Este "descei à rua" não deve ser tomado no sentido revolucionário parisiense. (De resto, a passagem é um fragmento, o que exige muita prudência na interpretação.) Podemos pensar que se trata simplesmente de um apelo a qualquer festa comum às duas divindades dos obreiros: pelo menos, trata-se de uma festa popular, todo o povo dos trabalhadores manuais a celebrará.
Próximo destes deuses obreiros, muito popular em toda a Grécia, está o antigo deus dos montes de pedras, agora esperto deus dos viajantes, traficantes, lojistas, mercadores e comerciantes, Hermes. Vêem-se as suas estátuas nas praças de mercado e ao longo dos caminhos e estradas por onde os viajantes seguem com as mercadorias. Servem também de referência e protegem contra os ladrões. É inexato apresentar Hermes como deus dos ladrões: ele protege os mercadores contra os ladrões. Protege também a clientela contra os mercadores. Para garantia das duas partes, inventou as balanças, os pesos e as medidas. Compraz-se nos debates da transação: aguça a língua do comprador e a língua de vendedor, inspirando a cada um a proposta mais honesta e mais lucrativa, até que entre ambos se estabeleça acordo.
Em todas as coisas, Hermes é partidário da conciliação. Nos conflitos entre cidades, sugere aos embaixadores fórmulas diplomáticas. Detesta acima de tudo a violência da guerra, onde perecem ao mesmo tempo o negócio e a humanidade. Os únicos proventos que este deus comerciante não favorece, são os lucros da guerra. Vota aos bandidos o fabricante de lanças e de escudos que deseja que uma boa guerra venha aumentar o seu negócio. Ele, o deus cheio de astúcia, abomina as mentiras da propaganda de que se alimentam, para sua ruína, os povos brigões. Numa das suas comédias, o poeta Aristófanes atribui a Hermes fogosas invetivas contra os maus condutores do povo que, com os seus berros, fazem com que a paz fuja da sua terra. E o poeta declara também que o deus Hermes respira com mais satisfação o hálito da deusa das Festas que o odor da mochila militar.
Tal é a maneira (e podia citar muitos outros exemplos) como o povo grego "humaniza" as duras necessidades do seu trabalho. Os últimos deuses mencionados, mais ainda que os outros, nasceram da necessidade e da luta empreendida pelas classes inferiores contra os obstáculos que encontram na estrutura do sociedade. Nasceram ou modificaram-se, tomando a forma que disse, na classe obreira ou na dos mercadores; exprimem a vontade do povo de pôr no campo dos trabalhadores os próprios deuses, de os utilizar no seu conflito com a classe dirigente.
O velho temor que inspiravam os deuses desconhecidos dá lugar à amizade — uma amizade proveitosa que põe os deuses ao serviço dos homens e que, de algum modo, os doma e os domestica.
*
Contudo, nem todos os deuses estão plenamente humanizados. Alguns deles — por virtude da opressão das classes dirigentes e pela ignorância em que os homens vivem ainda das verdadeiras leis do mundo e da sociedade — continuam ser forças incompreensíveis, resolutamente hostis ao progresso e à vida das comunidades. Os oráculos, de que os poderosos não tinham qualquer escrúpulo em servir-se, a favor dos seus interesses, deixavam-se manobrar facilmente: assim, Apolo e Zeus foram muitas vezes "humanizados" num sentido detestável.
Mas eis agora um exemplo de uma divindade que parece irredutível a qualquer tentativa de humanização: o Destino, ou, como se diz em grego, Moira. Moira não é divindade a que alguma vez se tenha dado forma humana. É uma espécie de lei — desconhecida — do universo, cuja estabilidade assegura. Intervém no curso dos acontecimentos para repor as coisas nos seus lugares quando elas são desarrumadas pela liberdade assaz relativa dos homens e quase soberana dos deuses.
A noção de destino não é, entre os Gregos, um fatalismo que recusa toda e qualquer liberdade aos seres do mundo. Moira constitui um princípio que se coloca acima da liberdade dos homens e dos deuses, e que, inexplicavelmente, faz com que o mundo seja verdadeiramente uma Ordem, uma coisa em ordem. (Qualquer coisa como — a título de comparação sumária — a lei da gravidade e a lei da gravitação dos astros). Esta concepção é a lei de um povo que, sem ler ainda no jogo das causas sabe contudo que o universo forma um todo, um organismo que tem as suas leis, e que pressente que a tarefa do homem é devassar um dia o segredo dessa ordem existente.
Se a verificação da existência de Moira fica por explicar, ela não revela menos de um racionalismo fundamental, uma vez que supõe uma ordem estável e conhecível um dia. Deste ponto de vista, pelo menos, a lei não humana é uma vez mais reportada ao homem. O próprio nome do Universo é, em grego, altamente significativo: cosmos — e a palavra significa conjuntamente Universo, Ordem e Beleza.
A religião, nestes séculos religiosos, não é senão uma das formas do humanismo grego.
Mas há que ir mais longe. O esforço principal desta religião, após os séculos homéricos e arcaicos, vai consistir, na época clássica, em tentar ligar mais ainda o mundo divino e o espírito do homem. Estes deuses, como vimos, eram, ao princípio, pouco morais. Caprichosos nos seus serviços e nas suas benesses. A consciência religiosa grega quis absolutamente saber se eram justos. Revoltava-se à ideia de que estes seres mais poderosos que os homens pudessem não obedecer à Justiça.
Muito cedo, um velho poeta-camponês (pouco tempo depois do poeta da Odisseia), esse pequeno proprietário rústico que se chama Hesíodo, põe assim a questão (posta também, mas com menos firmeza, pelo poeta da Odisseia):
"Trinta milhares de Imortais são, sobre a terra, e por vontade de Zeus, os vigilantes dos mortais... E existe também uma virgem, Justiça, filha de Zeus, honrada e venerada pelos deuses, habitantes do Olimpo. Ofende-a alguém com tortuosos insultos? Logo ela vai sentar-se aos pés de Zeus, seu pai, e lhe denuncia o coração dos homens injustos... O olho de Zeus, que vê tudo e distingue tudo, vê também isto, se lhe apraz, e não ignora o que valem os tribunais que os muros de uma cidade encerram. Por mim, quero deixar de ser justo a partir deste dia, e meu filho também: é mau ser justo se o injusto conta com os favores da justiça. Mas custa-me a crer que as sentenças injustas sejam ratificadas pela sabedoria de Zeus".
Nos séculos seguintes, de toda a poesia lírica grega dos séculos VII e VI — a da época da luta pelo direito escrito e pela igualdade dos cidadãos — sobem declarações semelhantes e uma imensa imploração à justiça divina como à justiça humana. Poetas ligados à ação pública afirmam que Zeus é justo ou deve sê-lo, ou insultam-no (o que vem a dar no mesmo) se verificam que o deus supremo não acode em auxílio da Justiça. Sabêmo-lo de Sólon, o Ateniense. Mas eis uma passagem do poeta exilado de Mégara, Teógnis:
"Ó Zeus, tu enches-me de espanto! És o rei do mundo, possuis honra e poder, conheces o coração de cada homem: o teu poder, ó rei, é soberano. Como é possível, pois, ó Zeus, que o teu pensamento vá pôr na mesma linha o perverso e o justo, aqueles cuja alma volta para a sabedoria e aqueles que obedecem à iniquidade e se entregam à violência?".
Tais gritos de revolta significam que a consciência religiosa grega exige que os deuses sejam justos. Contrariamente à poesia anterior — a da Ilíada — , em que eram simplesmente poderosos e livres.
Com o século V, com a tragédia de Ésquilo, é um deus justo e bom que começa a reinar sobre o mundo e as almas. Esse é aliás o grande problema de Ésquilo, o problema que torna trágica a sua tragédia. Para o poeta do Prometeu e da Oréstia, o mundo, depois de ter atravessado milênios em que só a força bruta reinava, entre os deuses como entre os homens, entrou numa idade em que lentamente se instalam no céu, nos comandos do universo, novos deuses que acederam enfim, eles próprios, à justiça e que amparam com a sua ação justa o progresso das sociedades humanas.
Esta é uma das linhas de evolução da religião grega. Os deuses, ao humanizarem-se — antropomorfizando-se, moralizando-se depois — tornam-se símbolos de um universo em realização de Justiça.

A segunda epopéia que até nos chegou sob o nome de Homero, ilustra uma das mais importantes destas conquistas: a que o povo grego fez do mar, a força de audácia, de paciência e de inteligência. Ulisses (de quem a Odisséia tirou o nome) é o herói desta conquista. Não é certo, e mesmo improvável que a Odisséia seja do mesmo autor que a Ilíada. Já os antigos o suspeitavam. A língua do poema, os costumes, as crenças religiosas são mais recentes talvez meio século que os da Ilíada. Contudo, o nascimento do poema, a sua composição pelo improviso, a sua transmissão primeiro oral no seio de uma corporação de poetas a quem chamavam os Homeridas, tudo se explica da mesma maneira que para a Ilíada. O autor que a compôs tirou sem duvida a matéria de um conjunto de poemas que formavam o vasto ciclo das lendas de Ulisses: ordenando as partes, que ele escolhia segundo as leis da arte, desenvolvendo ou reduzindo, soube dar ao poema que hoje lemos uma forte unidade, que lhe é conferida, em primeiro lugar, pela vigorosa personalidade do herói. Sem Ulisses, a Odisséia não seria mais que uma coleção de contos e aventuras de desigual interesse.
Mas não há nenhum destes contos, nenhuma destas aventuras - cujas origens são muito diversas e se perdem por vezes na noite do folclore primitivo da humanidade -, não há nenhuma destas narrativas que não nos fale da coragem ou da astucia ou da inteligência ou da sageza de Ulisses. O autor da Odisseia, aquele que a compôs, modelou, orientou uma matéria poética ainda informe, subordinando tudo, ação, episódios e personagens a Ulisses, aquele também que fixou pela escrita esta obra assim recriada, e um altíssimo artista. Mais ainda que um grande poeta. Pode-se fixar, muito proximamente, a data da composição da Odisséia na segunda metade ou mesmo nos finais do século VIII antes da nossa era. (Os sábios estão muito longe de chegar a acordo sobre esta data.) Escrita na mesma época da descoberta e da conquista do Mediterrâneo ocidental pelo povo grego, ainda que finja ignorá-las, a Odisséia é o poema da classe ascendente dos navegadores, mercadores e marinheiros, antes de se tornar a epopéia nacional do povo grego.
O nome do seu autor importa-nos pouco. Não há alias nenhum inconveniente em dar o mesmo nome, Homero (que era talvez uma espécie de nome familiar de todos os membros dos Homeridas), aos autores diferentes da Ilíada e da Odisséia. Mais de vinte e cinco séculos o fizeram antes de nós e isso não os impediu de apreciar as belezas destas obras-primas.
Sabe-se que os Gregos, ao chegarem ao seu pais, não conheciam já nem o mar nem o uso dos barcos. Os Egeus, seus mestres na arte náutica, usavam há séculos barcos a remos e a vela, descobriram os principais caminhos do mar, como diz Homero. Os que conduziam à costa asiática, os que levavam ao Egito, e, mais longe, os que abriam, a partir da Sicilia, o acesso ao Mediterrâneo ocidental. Por estes caminhos, os Egeus praticavam formas elementares de comercio, aquela a que se chama por exemplo ,troca muda, segundo a qual os marinheiros depõem na praia os produtos que querem trocar e, voltando aos seus barcos, esperam que os indígenas tenham deposto produtos de valor igual, após o que - muitas vezes depois de varias tentativas - as mercadorias são trocadas. Mas a forma mais primitiva e mais freqüente do comercio egeu ainda foi a simples pirataria. Os piratas pelasgos ficaram famosos durante muito tempo na tradição helênica: na realidade, tiveram temíveis sucessores.
Os Gregos propriamente ditos - é preciso repeti-lo - só lentamente, durante séculos, retomaram as tradições marítimas dos Egeus. Eram, acima de tudo, terrestres. Sem desdenhar a caça nem os seus magros rebanhos, tinham de aprender a cultura do solo antes da cultura do mar. Cedo a economia puramente agrícola deixou de bastar-lhes. Tiveram necessidade, tiveram desejo de produtos naturais e fabricados que só o Oriente podia proporcionar-lhes. Os nobres desejaram ouro em lingotes, jóias, tecidos bordados ou tingidos de púrpura, perfumes. Por outro lado, o Ocidente oferecia terra a quem queria tomá-la, e muito boa, dizia-se. Havia muito para tentar os indigentes, que já abundavam na jovem Grécia. Mas parece que a necessidade de certos metais contribuiu, mais que qualquer outra coisa, para impelir os Gregos para o mar. O ferro não era abundante na região. Sobretudo, o estanho faltava totalmente, tanto na Grécia como nos países vizinhos. Ora, este metal, que entra, com o cobre, na composição do bronze, era o único capaz de produzir, graças a esta liga, um bronze tão belo como resistente.
Se a espada de ferro, a partir da invasão dos Dórios, triunfara do punhal de bronze, e ainda o bronze que continua a ser no século VIII, é mais tarde, o metal por excelência da armadura defensiva do soldado pesado. Armadura de quatro peças: elmo, couraça dos ombros até ao ventre, perneiras nas canelas, escudo no braço esquerdo. Durante o tempo que esta nobre armadura reinou nos campos de batalha, o estanho era necessário àqueles que a usavam.
Foram pois nobres ousados, oriundos dos velhos clãs, que tomaram o comando das primeiras expedições de comercio. Só eles tinham meios para mandar construir e equipar barcos. Estes ricos terrestres não se enfadavam também de deitar a mão à esta nova fonte de riqueza, o comercio. Mas não bastava que tomassem o caminho do mar: precisavam de remadores, de homens de equipagem, de traficantes e de colonos. A massa dos sem-terra e dos sem-trabalho que pululavam na Grécia deu-lhes o núcleo das suas lucrativas expedições.
Mas onde encontrar esse raro estanho que exerce nos homens do século VIII uma espécie de fascinação? Em dois locais somente, pelo menos no Mediterrâneo. Ao fundo do mar Negro, na Colquida, no sopé do Cáucaso. Mileto, a grande cidade marítima da Jônia, tomou, depois de outras, este caminho oriental do estanho: com as minas do Cáucaso alimentou a sua metalurgia e a dos povos vizinhos. Mas havia um outro caminho do estanho, muito mais perigoso e desconhecido que a velha rota dos estreitos asiáticos: aquele que, contornando a Grécia pelo sul e metendo pelo mar sem ilhas, ia procurar para além do perigoso estreito de Messina, e, seguindo as costas da Itália, o estanho das minas da Etruria. Foi este o caminho das grandes cidades dos senhores da metalurgia, Calcis, na Eubeia, e Corinto.
Esta rota ocidental é também a do périplo de Ulisses, e foi sem dúvida para o público de aventureiros, de marinheiros, de colonos que o seguiam e também para esses ricos negociantes, essa oligarquia militar a quem o fabrico das armas apaixonava, que se compôs a nossa Odisséia. Ulisses tornava-se a guarda avançada desta multidão dispar de marinheiros, mercadores e aristocratas-industriais.
Contudo, a nossa Odisséia não canta em termos claros a historia da conquista do estanho. Faz o que fazem todas as epopéias. Transporta para um passado mítico as descobertas surpreendentes que um marinheiro fazia, cinqüenta ou cem anos antes (que podia fazer ainda, pensava-se), nos caminhos marítimos do Ocidente. Homero explora as narrativas dos navegadores que tinham explorado este mar desconhecido, cujas fábulas corriam por todos os portos - estórias de povos gigantes, de ilhas flutuantes, de monstros que devoram e despedaçam as naves. Por duas vezes o seu Ulisses encontra a ilha da feiticeira. E há também a estória da planta que faz esquecer ao marinheiro a pátria. A Odisséia está repleta de tais narrativas, como delas estão cheias as Mil e Uma Noites. Há nela, quaisquer que sejam a proveniência, a base histórica ou geográfica, contos que nada tem que ver, originalmente, com o regresso de Troia do chefe aqueu Ulisses, ponto de partida da nossa historia, e que são muito mais antigos que ele.
O Ulisses da Odisséia é um bom soldado, um chefe de grande autoridade que impõe a disciplina dos Tersitas do exército, um orador sutil, um diplomata. Nada o aponta como grande marinheiro. Na Odisséia, pelo contrário, todas as aventuras no gênero das de Simbad ou de Robinson Crusoe, que a imaginação popular das gentes do mar tinha forjado, parecem despejar-se sobre a sua cabeça. Atrai-as, torna-se "o homem que viu os povos numerosos, conheceu os seus costumes, suportou os males do mar, salvando a sua vida e a da sua gente". Torna-se o aventureiro dos mares, o homem "que errou por todos os lugares", o herói que sofreu sobre o mar "indizível",. Torna-se assim o antepassado e o patrono dos marinheiros perdidos nos mares do Ocidente, o legendário precursor desses corajosos aventureiros para quem Homero canta.
Mas outros elementos, anteriores ainda a estes contos de marinheiros, anteriores mesmo à navegação mediterrânica, entram na composição da figura de Ulisses. Ulisses, ou Odisseu, é o herói do conto popular do regresso do esposo. Um homem partiu para uma longa viagem. Ser-lhe-á a esposa fiel e reconhece-lo-á no regresso? Tal é o nó deste conto antigo, que se encontra igualmente nos escaldos escandinavos e no Râmayana. O marido que regressa, envelhecido ou disfarçado, e é reconhecido por três sinais que garantem a sua identidade. Os sinais variam de uma para outra versão do conto. Mas vêem-se muito bem, na Odisséia, os três sinais da versão que Homero conheceu. Só o marido é capaz de esticar o arco que possuía. Só ele sabe como foi construído o leito nupcial. Finalmente, tem uma cicatriz que só a esposa conhece - sinal que deveria ser o ultimo do conto, porque assegurava o reconhecimento dos esposos de uma maneira definitiva. Tal era a ordem provável dos sinais no conto seguido por Homero. O poeta utilizou-os em três cenas particularmente dramáticas do poema, mas invertendo-lhes a ordem, modificando-lhes o alcance, variando-lhes as circunstâncias. Nos contos populares, os acontecimentos produzem-se quase sempre em series de três. Esta repetição de três sustenta a atenção duma curiosidade ingênua. Homero, em vez de acentuar o efeito de repetição, varia tanto quanto possível as circunstancias dos três sinais. Só o sinal do leito nupcial é utilizado para o reconhecimento dos dois esposos, na cena admirável em que Penélope, ainda desconfiada, arma uma cilada a Ulisses. Ordena a Euricleia que transporte o leito nupcial para fora do quarto de dormir. Ulisses estremece. Ele próprio o construiu em tempos, afeiçoando os pés da cama num tronco de oliveira que as raízes ligam ao solo. Sabe que a ordem não pode ser executada, salvo se um miserável cortou a oliveira pela base. Di-lo, e desta maneira se faz reconhecer pela mulher. O sinal do arco é utilizado na grande cena do concurso entre os pretendentes. Ulisses, ao esticar o arco que ninguém pode retesar, e ao lançar a sua flecha contra Antinoo, faz-se reconhecer pelos pretendentes, a quem lança o seu nome como um desafio. Finalmente, o sinal da cicatriz é utilizado, antes de nenhum outro, numa cena inesperada, para nós e para Ulisses: a cicatriz fa-lo-á ser reconhecido por Euricleia, a velha serva, na cena em que ela lhe lava os pés - o que provoca uma grave peripécia na ação e faz perigar o plano sabiamente combinado de Ulisses.
Assim a arte de Homero enriquece de circunstancias vivas, imprevistas e diversas, os elementos que ele recebe, em serie do conto do regresso do esposo.
Tais são algumas das origens longínquas da Odisséia, poema do regresso de um homem à sua pátria.
É inútil contar uma vez mais este poema tão conhecido. Não esqueçamos no entanto que Ulisses não é mais que um proprietário rural muito ligado ao seu domínio, como a Penélope, sua mulher, cortejada por vizinhos na sua ausência, como a Telemaco, seu filho, a quem deixou ainda pequeno, ao partir. Conquistada Troia apos dez anos de cerco, Ulisses só pensa em regressar o mais depressa possível. Mas tem de dar a volta a Grécia para chegar à sua ilha de Itaca. É então, no cabo Maleia, que uma tempestade o atira para os mares do Ocidente, na direção da Sicilia, da Sardenha, da África do Norte, que, nos séculos que se sucedem à guerra de Troia, se tornaram regiões para além do mar desconhecido, terras assustadoras e povoadas de monstros. Assim, forçadamente, este terrestre se torna marinheiro. Mas ele só pensa no regresso, na sua Itaca, na sua família, nas suas terras.
A Odisséia é o relato dos dez anos deste regresso, e a luta contra as ciladas do mar, e depois, quando chega a casa disfarçado, a luta contra os pretendentes que lhe assediam a mulher, lhe devoram os bens, instalados na sua própria casa, e que ele chacina com a ajuda de seu filho de vinte anos e de dois servidores fieis a quem lentamente, prudentemente, se revela. A Odisséia é a reestruturação de uma felicidade familiar. Mas, para isso, quantos esforços e combates!
O mar do Ocidente é para os homens desse tempo uma realidade temível, ainda indomada. Inúmeros perigos esperam os homens que por ele se aventuram. Há correntes que arrebatam os barcos, tempestades que os despedaçam nos estreitos ou contra os rochedos dos cabos, ou então, fulminada pelo raio, a nave enche-se de enxofre e a equipagem e atirada ao mar. Ou então, ainda, é o céu que se esconde, às estrelas-bússolas que se furtam, e já ninguém sabe se está do lado das trevas onde o sol se afunda sob a terra, ou do lado da aurora donde ele emerge. São estes alguns dos riscos quotidianos que Ulisses defronta. Mas há também os piratas que esperam os barcos nos estreitos, que os pilham, e que vendem os marinheiros como escravos. Ou os selvagens que trucidam os marinheiros desembarcados numa costa desconhecida. Ou os antropófagos.
E com que barco se aventuram Ulisses e os seus no mar assustador? Um barco sem coberta, que apenas possui uma vela, a qual só pode servir com vento pela popa. Impossível navegar com vento pela frente, fazendo bordos. Se o vento é contrario, nada mais se pode fazer que remar, o que exige um esforço esgotante. Tenta-se, quase sempre, seguir ao longo da costa, na falta de outra carta que não sejam as constelações celestes, e sobretudo por causa dos víveres. Apenas se pode levar um pouco de pão - uma espécie de bolacha - e pouquíssima água. Isto exige escalas quase diárias e, muitas vezes, longas buscas em terra desconhecida para descobrir uma fonte. A não ser que se pendure no alto do mastro uma pele de carneiro que durante a noite se impregna de orvalho e que e depois espremida para conseguir uma gamela de água.
Assim é a vida do marinheiro grego do século VIII, uma vida de cão, em que o homem está entregue sem defesa a mais temerosa das forças naturais. Ulisses que - segundo a lenda - precede os conquistadores do mar nas rotas do Ocidente, avança como um herói para terras que, logo depois dele, vão povoar-se de cidades gregas. Mas avança ainda através das narrativas que dele contam as gentes do mar, para regiões fabulosas, todas eriçadas de perigos fantásticos que, na imaginação popular, duplicam ainda os perigos.
Na costa da Itália não há apenas os selvagens antropófagos, há o povo dos Ciclopes, gigantes de um só olho que vivem do queijo e do leite dos seus rebanhos, comendo também estrangeiros se a ocasião se proporcionar.
Nas ilhas do mar há também as belas deusas-fadas que retém os navegantes nas delicias e nas armadilhas dos seus amores. Entre elas, a deusa Circe que, no momento de se entregar aos homens que a desejam, lhes bate com a varinha e os transforma em leões, lobos ou outros animais. É a desgraça que acontece à maior parte dos camaradas de Ulisses, que são transformados em porcos. Mas Ulisses nunca abandona os seus. Corajosamente, ajudado pelo deus Hermes, apresenta-se no palácio da deusa, sobe a cama dela, ameaça-a com a espada e arranca-lhe o segredo do encanto. Os companheiros, que o julgavam perdido, acolhem-no "como os bezerros acolhem a manada das vacas que, de ventre repleto, tornam ao estábulo: saltam ao encontro delas, estendem o focinho, as varas do cerrado não podem conte-los, e mugindo rodeiam as mães".
Outras deusas habitam as ilhas do mar. Há a ninfa Calipso. Lançado na margem próxima da gruta da ninfa, Ulisses apaixona-se por ela, como um navegador dos mares austrais se apaixonaria por uma bela polinésia. Mas cansa-se mais depressa da sua conquista que a própria ninfa que, durante sete anos, guarda todas as noites no seu leito o mortal audacioso a quem ama e que um naufrágio privou do meio de a deixar. Todos os dias, porém, Ulisses se vai sentar num rochedo da margem e olha sem fim a extensão sem limites que o separa da terra pátria, da mulher, do filho, do seu domínio plantado de vinhas e de oliveiras. Calipso acaba por ser obrigada, por ordem de Zeus, a deixá-lo partir. Dá-lhe um machado, um martelo, cavilhas, com os quais ele constrói para desafiar a vasta extensão, não sem medo, uma simples jangada.
Há ainda, numa outra ilha do mar, as Sereias: são mulheres-aves-fadas que atraem os marinheiros cantando com uma voz maravilhosa e depois os devoram. No prado, diante delas, vêem-se ossos amontoados. Nenhum navegador que tivesse passado ao largo desta ilha pode resistir ao apelo da mágica voz. Ulisses quer escutar o canto inaudito das sereias, mas não ser vitima delas. Reflete, como é seu costume, descobre o meio de ter o que deseja e de evitar o que teme. Tapa com cera os ouvidos dos seus marinheiros e faz-se atar ao mastro do barco. Assim, para saborear uma beleza interdita ao comum dos mortais, Ulisses enfrenta um risco terrível e triunfa. Único entre os homens, ouviu sem perecer a voz das Aves-Magicas.
Estas ultimas estórias, de que o poeta da Odisséia fez maravilhosas narrativas, mostram que, para o povo grego da época homérica, o mar, por mais cheio de perigos que fosse, não tinha menos atrativos. Ulisses teme o mar, mas também o ama e quer possuí-lo no prazer. Esta extensão sem limites, cujo pensamento, diz ele, lhe "despedaça o coração", e também a grande sedutora. Oh! sem duvida, em primeiro lugar, por causa do proveito que dela se tira. É para além do mar, diz, que ,se amontoam numerosos tesouros; e percorrendo uma vasta parte do mundo que se traz para casa o esplendor do ouro, da prata e do marfim.
Por vezes, este Ulisses que só pensa em voltar para casa, parece ter pena de deixar uma certa ilha deserta que ninguém pensou em cultivar, o que o espanta. Já em imaginação dispõe as diversas regiões da ilha ainda selvagem: aqui, prados úmidos, de terra mole; além, belos vinhedos; mais adiante, campos onde a lavoura seria fácil e que produziriam belas colheitas. Apanha um punhado de terra e verifica que há "gordura debaixo da terra". Admira o porto tranqüilo, defendido do vento e da vaga, de tal maneira que os barcos nem sequer teriam necessidade de amarras. Ulisses, o terreno, parece ter alma de colono. Vê já crescerem nestas terras distantes (ainda desertas ou povoadas de monstros) as cidades que o povo construirá (que começa já a construir).
Assim o além do mar, tão forte como o medo, exerce a sua atração. E não é apenas o gosto do lucro que surge na lenda odissaica, é a infinita curiosidade do povo grego pelo mundo e suas maravilhas. Ulisses não resiste nunca ao desejo de ver coisas estranhas. Porque penetra ele na caverna do Ciclope, apesar das suplicas dos companheiros? Ele o diz: em parte porque espera obter dele, por persuasão, os presentes de hospitalidade que é uso oferecer aos estrangeiros, mas sobretudo porque quer ver esse ser estranho, esse gigante que não é "um comedor de pão". Do mesmo modo, quer ver Circe e quer ouvir as Sereias. Há em Ulisses um profundo sentimento de espanto em relação ao mundo e ao que ele contem. Ulisses, como todos os primitivos, pensa que a natureza esta cheia de mistérios, e tem medo dela - e o seu medo povoa-a de monstros. Mas quer ir ver esse mistério: quer devassá-lo e conhecê-lo. E, finalmente, dominá-lo e tornar-se senhor da natureza. É nisto que Ulisses é um homem civilizado.
Antes de conquistar o mar, de domar o mar e os caminhos do mar, Ulisses defronta-o naquilo em que ele é temível e sedutor. E dos seus sonhos e das suas esperanças que ele o povoa, assim como dos seus temores. Imagina-o, e de algum modo reinventa-o, carregado das maravilhas que cabe talvez ao homem descobrir ou inventar um dia. É este poder de reinvenção do mundo e do homem que da todo o valor, todo o encanto a um dos episódios mais belos da Odisseia, a aventura de Ulisses na terra dos Feaces, o seu encontro com Nausica.
Quem são estes Feaces? Não os procuraremos em nenhuma carta. É um povo de homens felizes que habitam, no seio do mar enfim domado, uma terra maravilhosamente fértil, onde vivem em sabedoria e em simplicidade. A terra dos Feaces - que se chama Esquefa - é um El-Dorado, é uma ilhota da idade do ouro poupada pelo tempo: a natureza e a arte rivalizam ali em belezas, em esplendores, em virtudes.
No grande pomar do rei Alcino, nunca as arvores deixam de produzir em todas as estações. Lá, cresciam grandes arvores de altas ramagens, que produziam a pêra e a romã, as belas laranjas, os doces figos e as verdes azeitonas. E nunca os frutos faltavam, de Inverno como de Verão. O bafo do Zefiro fazia rebentar uns e amadurecer outros, a pêra nova após a velha pêra, a maga apos a maga, o cacho apos o cacho, o figo depois do figo.
Quanto ao palácio de Alcino, brilha de uma luz que parece de sol e de lua. O ouro, a prata e o bronze ali resplandecem. Cães de ouro, mas vivos, obras-primas do deus Hefesto, guardam as portas. É um conto de fadas, este palácio. Neste El-Dorado, os costumes são também de ouro, o coração de Nausica é de ouro e toda a família é digna do paraíso terrestre. A navegação feace ficou nessa idade de ouro imaginada pelos infelizes marinheiros que remam contra ventos e vagas grossas: as naves dos Feaces são barcos inteligentes. Conduzem o marinheiro aonde ele quer ir, sem temer as avarias nem a perda entre as brumas.
Tal e Esqueria, que, ainda por cima, é a pátria da dança e do canto. Sem dúvida, há aqui uma parte de sonho, de conto de fadas, mas há também, no engenhoso povo grego, a idéia confusa, a imaginação clara de que os homens poderiam um dia fazer da terra um jardim maravilhoso, um pais de paz e de sabedoria, no qual levariam uma vida de felicidade...
Mas a maravilha de Esqueria ainda é Nausica, essa filha de rei, de tão graciosa simplicidade, igualmente capaz de fazer a barrela e de acolher com dignidade um estrangeiro nu como um selvagem que sai do bosque para lhe falar. Na véspera, Ulisses, atirado para a costa por uma tempestade, deitara-se sob os ramos na orla do bosque. Entretanto, nessa noite, Nausica teve um sonho. Atena dá-lhe a entender que ela breve casará e que deve, para o dia da boda, lavar a roupa da família no regato junto ao mar. Nausica vai falar ao pai e diz-lhe:
"Meu querido pai (em grego: Pappa phile), não quererás tu mandar preparar-me um carro que me conduza à beira-mar, onde devo lavar a roupa? Tu precisas de roupa lavada para ires ao Conselho. E meus três irmãos, que ainda não são casados, não querem ir ao baile sem roupa lavada de fresco..."
No entanto, Nausica cora de mencionar diante do pai as suas núpcias floridas. Mas o pai adivinhou-a e responde-lhe:
"Minha querida filha, não te recusarei nem um carro... nem coisa alguma".
Nausica parte pois com as servas e a roupa. Lavam-na calcando-a com os pés no regato, estendem-na nas pedras da margem. Merendam, depois jogam a bola. Mas uma bola cai no rio. Todas as moças gritam, e Ulisses acorda. Sai do bosque, tendo apenas o cuidado de partir um ramo para esconder a sua nudez sobre as folhas. As servas assustadas fogem para longe. Só Nausica não se mexe e espera firmemente o estrangeiro. Ulisses aproxima-se e faz a moça, a quem quer conquistar para o seu projeto, mas sem a assustar, um discurso "cheio de mel e habilidade". Ele diz:
"Sejas deusa ou mortal, ó rainha, suplico-te! Se és uma das deusas que habitam o vasto céu, penso que deves ser a filha de Zeus, Artemis, de quem tens a estatura, o talhe e a beleza. Mas se és uma das mortais que habitam a terra, três vezes felizes teu pai e tua nobre mãe, três vezes felizes teus irmãos. O seu coração deve encher-se de alegria quando eles vêem um tão belo ramo de verdura como tu entrar na dança. Mas mais feliz que ninguém no mundo, o marido que merecer lavar-te para a sua casa... Um dia, em Delos, vi um jovem tronco de palmeira de extrema beleza que, brotando do chão, subia para o céu. E, olhando-o, muito tempo fiquei estupefato de que uma coisa tão bela tivesse saído da terra... Assim, moça, te admiro e estou cheio de espanto, e tenho medo de tocar os teus joelhos..."
Depois disto conta-lhe uma parte das suas desgraças, mas sem lhe dizer o nome, e pede-lhe que o conduza ao pai. O resto passa-se como tinha de passar-se. Ulisses, estrangeiro e desconhecido, é recebido com generosidade pelo povo de Feaces. Conta então a sua historia, diz quem é. Reconduzem-no à sua pátria, onde terá ainda duros combates a travar contra os senhores que lhe pilham a casa, a pretexto de quererem casar com a mulher. Reconstrói enfim a felicidade ameaçada, à força de coragem, de inteligência e de amor.
Tais são alguns dos aspectos desta Odisséia que se tornou o poema mais popular de um povo de marinheiros - aquele em que as crianças gregas, que aprendiam a nadar logo que sabiam andar, aprendiam também a ler, decifrando-o e recitando-o em coro.
Este poema do marinheiro, feito com a experiência recente que um povo terreno tinha do mar, este poema feito de lutas e de sonhos, é também um poema de ação. Na pessoa de Ulisses, lança um povo curioso e bravo à conquista cada vez mais vasta do mar. Poucas gerações após a Odisséia, o Mediterrâneo, do Oriente ao Extremo Ocidente, será um lago grego cujas rotas principais estarão para o futuro demarcadas e conquistadas. Assim a poesia grega se liga sempre a ação: dela procede e a guia, dá-lhe uma firmeza nova.

Enfurecidos por Zeus ter confinado no Tártaro seus irmãos, os titãs, certos gigantes terríveis, de cabeleira espessa, barba hirsuta e com cauda de serpente no lugar de pés, organizaram um assalto ao Céu. Eles haviam sido concebidos pela Mãe Terra em Flegras, na Trácia, e totalizavam 24. Sem aviso prévio, eles se posicionaram no topo de suas montanhas e, de la, passaram a atirar aos céus rochedos e árvores em chamas, deixando em polvorosa os habitantes do Olimpo. Hera profetizou amargamente que os gigantes nunca poderiam ser mortos por um deus, apenas por um simples mortal com pele de leão, e que mesmo ele não poderia fazer nada, a não ser antecipar-se ao inimigo na busca de uma erva da invulnerabilidade, que crescia num lugar secreto da terra. Zeus foi imediatamente consultar-se com Atena, encarregou-a de avisar Hercules de tudo o que estava acontecendo — Hércules era, evidentemente, o mortal com pele de leão a quem Hera havia se referido - e proibiu Eros, Selene e Hélio de brilharem durante um tempo. Sob a tênue luz das estrelas, Zeus perambulou pela terra na região indicada por Atena, encontrou a erva e a levou em segurança para o Céu.
Os olímpicos agora já podiam travar combate com os gigantes. Hércules disparou sua primeira flecha contra Alcioneu, o líder dos inimigos, que tombou, mas voltou a se erguer ressuscitado, porque estava em Flegras, sua terra natal. “Depressa, nobre Hércules!”, gritou Atena. “Mande-o para outro país!” Hércules agarrou Alcioneu e o pôs sobre seus ombros, levando-o até o outro lado da fronteira da Trácia, onde o matou com uma clava.
Em seguida, Porfirião saltou para dentro do Céu a partir da grande pirâmide de rocha que os gigantes haviam construído, e nenhum dos deuses conseguiu manter-se em pé. Só Atena conseguiu adotar uma posição de defesa. Porfirião passou por ela como um raio e avançou contra Hera, tentanto estrangulá-la, mas, ferido no fígado por uma flecha oportunamente disparada pelo arco de Eros, sua [158] fúria se converteu em luxúria, o que fez com que ele arrancasse a gloriosa roupa de Hera. Zeus, ao ver que sua esposa estava prestes a ser violada, foi tomado por um ataque de ciúme e derrubou Porfirião com o seu raio. O gigante tornou a se levantar, mas Hércules, que regressava a Flegras naquele exato momento, feriu-o mortalmente com uma flecha. Nesse meio-tempo, Ares foi derrotado por Efialtes e obrigado a se ajoelhar diante dele. Mas Apolo feriu o desgraçado no olho esquerdo e lançou um grito de aviso a Hércules, que imediatamente lançou outra flecha em seu olho direito. Assim morreu Efialtes. Desde então, sempre que um deus feria um gigante —como quando Dionísio derrubou Êurito com seu tirso, ou quando Hécate queimou Clítio com suas tochas, ou quando Hefesto escaldou Mimas com uma vasilha de metal incandescente, ou quando Atena esmagou o lascivo Palas com uma pedra —, era Hércules quem tinha de se incumbir do golpe mortal. As deusas amantes da paz, Héstia e Deméter, não tomaram parte no conflito, permanecendo de pé, aterrorizadas, retorcendo as mãos de angústia. As Parcas, entretanto, fizeram vibrar os pilões de bronze com grande eficiência.
Desencorajados, os demais gigantes bateram em retirada para a terra, perseguidos pelos deuses do Olimpo. Atena lançou um enorme projétil na direção de Encélado, esmagando-o e convertendo-o na ilha da Sicília. Poseidon partiu a ilha de Cós com o seu tridente e lançou-a contra Polibotes, que se transformou na ilha próxima de Nisiros, onde está enterrado.
Os demais gigantes realizaram uma última tentativa em Batos, perto de Trapezunte, na Arcádia, onde ainda arde a terra, no meio da qual os lavradores, às vezes, ainda encontram ossos de gigantes. Hermes, tomando emprestado o elmo da invisibilidade de Hades, derrotou Hipólito, e Ártemis atravessou Gration com uma flecha, ao passo que os pilões das Parcas destroçaram a cabeça de Agrior de Toante. Ares, com sua lança, e Zeus, com seu raio, ocuparam-se do resto, embora Hércules ainda fosse chamado para liquidar cada gigante à medida que iam caindo. Conta-se ainda que a batalha teria ocorrido nos Campos Flégreos, peerto de Cumas, na Itália.
Sileno, o sátiro nascido da terra, afirma haver participado dessa batalha ao lado de seu discípulo Dionísio, matando Encélado e semeando o pânico entre os gigantes com o zurro de seu velho burro de carga. Mas Sileno está quase sempre bêbado e não consegue distinguir a verdade da mentira. [159]
Este é um relato pós-homérico, que se conserva numa versão deturpada: Eros e Dionísio, que participam da luta, são os últimos a chegar ao Olimpo, e Hércules é ali admitido antes de sua apoteose no monte Eta. O relato tem como objetivo explicar a descoberta de ossos de mamute em Trapezunte (onde ainda estão expostos no museu local) e as erupções vulcânicas próximas de Batos, além daquelas existentes na Palene trácia e árcade, em Cumae e nas ilhas da Sicília e Nisiros, sob as quais diz-se que Atena e Poseidon teriam enterrado dois gigantes.
O incidente historico subjacente à rebelião dos gigantes —e também à rebelião dos Aloídas, geralmente considerada uma réplica da anterior - parece ser uma tentativa concertada entre os montanheses não helênicos de atacar certas fortalezas helênicas, tentativa essa que foi rechaçada pelos súditos aliados dos helenos. Mas a impotência e a covardia dos deuses, em contraste com a invencibilidade de Hércules, e os cômicos incidentes da batalha são mais característicos da ficção popular do que do mito.
Não obstante, há um elemento religioso oculto nessa história. Esses gigantes não são de carne e osso, mas sim espíritos nascidos da terra, como demonstram suas caudas de serpente, e só é possível abatê-los mediante a posse de uma erva mágica. Nenhum mitógrafo menciona o nome da erva, mas provavelmente tratava-se de ephialtion, remédio específico contra pesadelos. Efialtes, o nome do líder dos gigantes, significa literalmente “o que salta” (incubus em latim). As tentativas de Porfirião de estrangular e violar Hera, bem como as de Palas de violar Atena, sugerem que a estória se refere principalmente à sabedoria de invocar Hércules, o Salvador, quando alguém se encontra acossado por pesadelos eróticos em qualquer momento das 24 horas do dia.
Alcioneu (“asno poderoso”) é possivelmente o espírito do siroco, “o vento do Asno Selvagem, ou Tífon”, que atrai sonhos maus, além de inclinação ao assassinato e ao estupro. Isso faz com que a afirmação de Sileno de haver desnorteado os gigantes com o zurro do seu asno seja ainda mais ridícula. Mimas (“mímica”) pode se referir à ilusória verossimilhança dos sonhos. Hipólito ("estouro de cavalos”) recorda a antiga atribuição dos sonhos de terror à deusa com cabeça de égua. Nos países setentrionais, os que padeciam de pesadelos invocavam Odin, até que seu lugar foi ocupado por são Swithold.
O uso que Hércules deu à erva pode ser deduzido do mito babilônico da luta cósmica entre os deuses novos e os antigos. Lá, Marduk, o equivalente de Hércules, segura uma erva na altura de suas narinas para encobrir o odor insuportável da deusa Tiamat; aqui, é o hálito de Alcioneu que tem de ser encoberto. [160]

As cinqüenta nereidas, amáveis e benfazejas ajudantes da deusa marinha Tétis, são sereias, filhas da ninfa Dóris com Nereu, um profético ancião do mar que tinha o poder de mudar de forma.As Fórcidas, primas das nereidas, filhas de Ceto e Fórcis, outro sábio ancião, são Ladão, Equidna e as três górgonas que habitam a Líbia; são também três Gréias e, segundo dizem alguns, as três Hespérides. As górgonas se chamavam Esteno, Euríale e Medusa, e houve um tempo em que eram belas. Mas uma noite, Medusa deitou-se com Poseidon, e Atenas, enfurecida porque haviam copulado num de seus templos, converteu-a num monstro alado com olhos brilhantes, dentes enormes, uma língua protuberante, garras afiadas e cabelos serpeirinos, cujo olhar convertia os homens em pedra. Quando finalmente Medusa foi decapitada por Perseu e de seu cadáver saíram os filhos de Poseidon, Crisaor e Pégasaso, Atena cravou a cabeça da morta em sua égide, embora alguns digam que a égide era a própria pele da Medusa, esfolada por Atena.
As Gréias tinham um rosto agradável e aspecto de cisne, mas eram grisalhas de nascimento e compartilhavam, todas as três, de um só olho e um só dente. Seus nomes eram Enio (Belona, entre os romanos), Péfredo e Dino.
As três Hespérides, chamadas Hespera, Egle e Erítia, habitam o longínquo jardim ocidental que a Mãe Terra deu a Hera. Há quem as chame de filhas Noite; outros, de filhas de Atlas e de Hésperis, filha de Héspero. As três cantam docemente.
Metade de Equidna era uma mulher formosa, e a outra metade, uma serpente malhada. Durante algum tempo ela viveu numa caverna profunda onde devorava vivos os mortais que dela se aproximavam, e deu a [153] seu marido, Tífon, uma prole de características monstruosas: Ortro, Cérbero, a Hidra de Lerna e a Quimera. Mas Argos, o gigante de cem olhos, matou-a enquanto ela dormia.
Ladão era todo serpente, embora dotado da capacidade humana de falar, e guardou os pomos de ouro das Hespérides até o momento em que Hércules o matou.
Nereu, Fórcis, Taumante, Euríbia e Ceto eram filhos de Ponto com a Mãe Terra. E por isso que as Fórcidas e as nereidas declaravam-se primas das harpias. Estas são as filhas louras e de asas velozes de Taumante com a oceânida Electra, que arrebatam os criminosos para serem punidos pelas Erínias. Todas vivem numa caverna cretense.
Parece que o título de Eurínome (“amplo governo” ou “grande viagem”), da deusa-Lua, proclamava sua soberania sobre o céu e a terra. Euríbia (“ampla força”) era seu título como governante do mar, e Eurídice (“ampla justiça”) era a governante que apanhava serpentes no mundo subterrâneo. A Eurídice eram oferecidos sacrifícios humanos masculinos, com mortes aparentemente provocadas por veneno de víbora. A morte de Equidna pelas mãos de Argos refere-se provavelmente à supressão do culto argivo à deusa-serpente. Seu irmão Ladão é a serpente oracular que assombra todos os paraísos, enrolando-se na macieira.
Entre os outros títulos marinhos de Euríbia encontram-se: Tétis (“a que dispõe”), ou sua variante Tethys; Ceto, correspondente ao monstro marinho hebraico Rahab, ou ao babilónico Tiamat; Nereide, como deusa do elemento úmido; Electra, como provedora de âmbar, produto marinho altamente valorizado pelos antigos; Taumante, como maravilhosa; e Doris, como generosa. Nereu —alias Proteu (“primeiro homem”) —, o profético “ancião do mar” que tomou seu nome de Nereide, e não o contrário, parece ter sido um rei sagrado oracular enterrado numa ilha costeira. Na pintura de uma ânfora primitiva, ele está representado com rabo de peixe e com um leão, um cervo e uma víbora saindo de seu corpo. Na Odisséia, Proteu também mudava [154] de forma, para indicar as estações pelas quais ia passando o rei sagrado desde o nascimento até a morte.
As cinqüenta nereidas parecem ter sido uma corporação de cinqüenta sacerdotisas lunares, cujos ritos mágicos asseguravam pesca abundante. E as górgonas aparentemente eram as representantes da deusa tripla que envergavam máscaras profiláticas - com o cenho franzido, olhos brilhantes e a língua protuberante entre dentes descamados —para apartar os profanos dos Mistérios da deusa. Os Filhos de Homero conheciam uma só górgona, que era uma sombra no Tártaro (Odisséia XI. 633-635) e cuja cabeça, motivo de terror para Odisseu (Odisséia XI. 634), Atena usava em sua égide, sem dúvida para advertir o povo a não se intrometer nos mistérios divinos ocultos por ela. Os padeiros gregos costumavam pintar máscaras de górgonas nas portas de seus fornos para dissuadir bisbilhoteiros de abri-las, impedindo assim que a corrente de ar estragasse o pão. Os nomes das górgonas —Esteno (“forte”), Euríale (“ampla perambulação”) e Medusa (“a astuta”) - são títulos da deusa-Lua. Os órficos chamavam a face da Lua de “cabeça de górgona”.
A condição de Posídon como genitor de Pégaso, com Medusa, evoca condição de genitor do cavalo Árion, ao copular com Deméter disfarçada de égua, bem como o subseqüente ataque de fúria da deusa. Ambos os mitos descrevem como os helenos de Posídon eram obrigados a se casar com as sacerdotisas da Lua, ignorando suas máscaras gorgôneas, e a se encarregar dos ritos de invocação da chuva do culto ao cavalo sagrado. Mas uma máscara de Deméter ficava guardada dentro de uma arca de pedra em Feneu e era usada pelo sacerdote da deusa durante a cerimônia de golpear com varas os espíritos infernais.
Crisaor era o signo da Lua nova de Deméter, a foice ou cimitarra dourada usada por seus consortes quando a representavam. Nessa versão, Atena é a colaboradora de Zeus, renascida de sua cabeça, traidora da antiga religião. As Hárpias, consideradas por Homero como personificações dos ventos de tempestade (Odisséia XX. 66-78), eram a antiga Atena, a deusa tripla com seu potencial de destruição repentina. Assim também eram as Gréias, as três Cinzentas, tal como demonstram seus nomes: Ênio (“belicosa”), Pêfredo (“vespa”) e Dino (“terrível”). Seu único olho e único dente são más interpretações de uma pintura sagrada.
Fórcis, forma masculina de Fórcida, a Deusa ou Porca que revora os cadáveres, aparece em latim como Orcus, um dos títulos de Hades, fenix porcus, porco. As górgonas e as Cinzentas eram chamadas de Fórcidas, pois profanar os Mistérios da deusa era condenar-se à morte. Entretanto, a palavra profética de Fórcis deve se referir a um oráculo-porca. [155] Os nomes das Hespérides, descritas tanto como filhas de Ceto e Fórcis quanto como da Noite, ou do titã Atlas, que segura os céus no extremo ocidente, referem-se ao pôr-do-sol. Então, o céu se torna verde, amarelo e vermelho, como se fosse uma macieira carregada de frutos, e o Sol, cortado pelo horizonte como uma meia maçã carmesim, encontra dramaticamente a sua morte nas ondas ocidentais. Quando o Sol já sumiu, surge Héspero. Essa estrela era consagrada a Afrodite, a deusa do amor, e a maçã era o presente com que sua sacerdotisa seduzia o rei, representante do Sol, para levá-lo à morte com canções de amor. Se uma maçã é cortada transversalmente, surge a estrela de cinco pontas de Afrodite no meio de cada uma das metades. [156]

Quando as almas descem ao Tártaro, cuja entrada principal se encontra num bosque de álamos negros ao lado do caudal do Oceano, os familiares piedosos colocam uma moeda debaixo da língua de seus respectivos cadáveres, para que elas possam pagar ao barqueiro Caronte, o avaro que as transporta em seu estranho barco através do rio Estige. Esse odioso rio faz fronteira com o Tártaro pelo lado ocidental e tem como tributários Aqueronte, Flegetonte, Cocito, Aornis e Lete. As almas sem moeda são obrigadas a esperar eternamente numa margem próxima, a menos que consigam escapar de Hermes, seu condutor, e rastejar por uma entrada posterior como a do Tênaro lacônio, ou a do Aornis tespiense. Um cão de três cabeças - ou de cinqüenta, segundo alguns - chamado Cérbero guarda a outra margem do Estige, disposto a devorar intrusos vivos ou almas fugitivas.
A primeira região do Tártaro contém os desolados Campos de Asfódelos, onde as almas dos heróis permanecem, sem propósito algum, entre as multidões de mortos menos distintos que se agitam como morcegos, e onde apenas Orion ainda tem ânimo para caçar cervos fantasmagóricos. Todos eles prefeririam viver como escravos de um camponês sem terra a governar todo o Tártaro. Seu único deleite são as libações de sangue que lhes proporcionam os vivos, e, quando bebem, voltam a se sentir quase humanos outra vez. Mas para além dessas paragens fica Érebo e o palácio de Hades e Perséfone. A esquerda do palácio, à medida que alguém se aproxima, um cipreste branco sombreia o remanso de Lete (“Esquecimento”), onde multidões de almas comuns buscam o que beber.
As almas iniciadas evitam essas águas, preferindo beber do remanso da Memória (Mnemósine), sombreado por um alámo branco, o que lhes dá certa vantagem [144] em relação às iniciantes. Perto dali, as almas recém-chegadas são julgadas diariamente por Minos, Radamanto e Éaco no ponto de confluência de três estradas. Radamanto julga os asiáticos, e Éaco se encarrega dos europeus, mas ambos submetem os casos difíceis a Minos. À medida que se emite o veredicto, as almas se dirigem a um dos três caminhos: o que as conduz de volta aos Campos de Asfódelos, se não forem virtuosas nem más; o que as conduz aos campos de punição do Tártaro, se forem más; e o que as leva aos pomares do Elísio, se forem virtuosas.
O Elísio, governado por Cronos, encontra-se perto dos domínios de Hades, apesar de não fazer parte deles e sua entrada ficar perto do remanso da Memória. É uma terra feliz onde o dia é eterno, sem frio nem neve, onde jogos, música e festas nunca terminam e seus habitantes podem decidir renascer na terra sempre que bem entenderem. Perto dali estão as ilhas dos Bem-aventurados, reservadas àqueles que encarnaram três vezes e três vezes mereceram o Elísio. Mas há quem diga que existe ainda uma outra ilha dos Bem-aventurados chamada Leuce, no mar Negro, diante da foz do Danúbio, cheia de bosques e de animais selvagens e domésticos, onde as almas de Helena e de Aquiles realizam festins e recitam versos de Homero aos heróis que participaram dos famosos acontecimentos por ele relatados.
Hades, feroz e cioso de seus direitos, jamais visita a atmosfera superior, exceto em caso de negócios ou quando é tomado por um arrebatamento súbito de luxúria. Certa vez ele fascinou a ninfa Menthe com o esplendor de sua carruagem de ouro com quatro cavalos negros, e a teria seduzido sem nenhuma dificuldade se a rainha Perséfone não tivesse aparecido bem na hora e transformado Menthe em uma perfumada planta de menta. Noutra ocasião, Hades tentou violar uma ninfa que foi igualmente metamorfoseada e é o álamo-branco que se ergue junto ao remanso da Memória. De bom grado ele jamais permitiria que nenhum de seus súditos escapasse, e são poucos os que visitam o Tártaro e conseguem voltar para descrevê-lo, o que o faz ser o mais odiado de todos os deuses. Hades nunca sabe o que ocorre no mundo superior, ou no Olimpo, salvo algumas informações fragmentadas que lhe chegam quando os mortais golpeam a terra com as mãos e o invocam com juras e maldições. [145] Sua mais preciosa possessão é o elmo que o torna invisível, presenteado como símbolo de gratidão pelos ciclopes, quando ele aceitou libertá-los por ordem de Zeus. Todas as riquezas relativas a gemas e metais preciosos escondidos no subsolo lhe pertencem, mas ele não possui propriedades no mundo superior, a não ser alguns templos tétricos na Grécia e possivelmente um rebanho de gado bovino na ilha de Eritéia, que, segundo alguns, pertence na verdade a Hélio.
Entretanto, a rainha Perséfone pode ser benigna e misericordiosa. É fiel a Hades, mas não lhe deu filhos e prefere a companhia de Hécate, deusa das bruxas, à dele. O próprio Zeus tem um respeito tão grande por Hécate que nunca a priva do antigo poder que ela sempre desfrutou: o de conceder ou negar aos mortais qualquer dom que desejem. Ela tem três corpos e três cabeças — de leão, de cachorro e de égua.
Tisífone, Alecto e Megera, as Erínias ou Fúrias, vivem no Erebo e são mais velhas que Zeus ou qualquer outra divindade do Olimpo. Sua tarefa consiste em escutar as queixas dos mortais contra a insolência dos jovens com os anciãos, dos filhos com os pais, dos anfitriões com seus hóspedes e dos amos ou assembléias com os requerentes, e em castigar esses delitos acossando implacavelmente os culpados, sem descanso ou trégua, de cidade em cidade e de país em país. Essas Erínias são velhas, têm serpentes em vez de cabelos, cabeças de cachorro, corpos negros como carvão, asas de morcego e olhos injetados em sangue. Trazem nas mãos açoites arrematados com cravos metálicos, e suas vítimas morrem devido ao tormento. E uma imprudência mencionar o nome delas numa conversa, portanto são geralmente chamadas de Eumênides, que significa “as Amáveis” — do mesmo modo como Hades é chamado de Plutão ou Pluto, “o Rico”.
Os mitógrafos tiveram de fazer um esforço considerável para reconciliar as visões contraditórias do mundo do além sustentadas pelos primitivos habitantes [146] da Grécia. Uma delas era que as almas viviam em suas tumbas, ou em cavernas ou grutas subterrâneas, de onde podiam tomar a forma de serpentes, camundongos ou morcegos, mas nunca reencarnar como seres humanos. Outra visão era que as almas dos reis sagrados podiam ser vistas caminhando sobre as ilhas sepulcrais em que seus corpos haviam sido enterrados. Uma terceira dizia que as unas podiam voltar a se converter em seres humanos, se conseguissem entrar no feijão, nas nozes ou nos peixes e fossem comidas por suas futuras mães. Uma quarta dizia que iam para o extremo norte, onde nunca brilha o sol, e voltavam, se tanto, apenas como ventos fertilizantes. Uma quinta afirmava que o destino das almas era o extremo ocidente, onde o sol se põe no oceano e existe um mundo espiritual muito parecido com o nosso. Na sexta versão consta que as almas recebiam a punição conforme a vida que haviam levado na terra. A isso os órficos finalmente acrescentaram a teoria da metempsicose, ou seja, a transmigração das almas: um processo que poderia ser, até certo ponto, controlado mediante o uso de fórmulas mágicas.
Perséfone e Hécate representavam a esperança pré-helênica de regeneração, ao passo que Hades era o conceito helênico da inevitabilidade da morte. Apesar de seus antecedentes sanguinários, Cronos continuou desfrutando dos prazeres do Elísio, já que esse havia sido sempre o privilégio do rei sagrado. A Menelau (Odisséia IV. 561) prometeu-se a mesma regalia, não por ter sido especiaimente virtuoso ou valente, mas por ter-se casado com Helena, a sacerdotisa da deusa-Lua espartana. O adjetivo homérico asphodelos, aplicado apenas a leimönes (“pradarias”), significa provavelmente “no vale do que não se reduz a cinzas” (de a =não, spodos =cinza, elos =vale) - ou seja, a alma do herói depois de seu corpo ter sido incinerado. Exceto na Arcádia, onde se comiam frutos do carvalho, as raízes e as sementes de asfódelo que se ofereciam a essas amas constituíam a dieta básica grega antes da introdução do cereal. Os asfódenos crescem livremente mesmo em ilhas sem água, e as almas, como os deuses, eram conservadoras no que se refere a dieta. Parece que Elísio significa “terra das macãs” —alisier é uma palavra pré-gálica para “sorva” —, assim como a palavra “Avalon” e a latina “Avernus”, ou “Avolnus”, ambas formadas a partir da raiz indo-européia abol, significam maçã.
Cérbero era o equivalente grego de Anúbis, o filho com cabeça de cão da deus líbia da morte Néftis, encarregado de conduzir as almas ao mundo subterrâneo. No folclore europeu, que tem origem parcialmente líbia, as almas dos malditos eram perseguidas até o Inferno Setentrional por uma matilha de cães estridentes —os sabujos de Annwm, Herne, Artur ou Gabriel —, um mito decifrado da ruidosa migração estival dos gansos selvagens para seus lugares de peregrinação no Círculo Polar Ártico. Cérbero tinha, no início, cinqüenta cabeças, [147] como a matilha espectral que destruiu Actéon, mas depois ficou com três, como sua amante Hécate.
O Estige (“odiado”), um pequeno rio na Arcádia cujas águas supostamente eram venenosas, foi situado no Tártaro somente por mitógrafos posteriores. Aqueronte (“rio de dor”) e Cocito (“lamento”) são nomes imaginativos para descrever as misérias da morte. Aornis (“sem pássaros”) é uma tradução grega equivocada do itálico “Avernus”. Lete significa “esquecimento”, e Érebo, “coberto”. Flegetonte (“ardente”) refere-se ao costume da cremação, mas também, talvez, à teoria de que os pecadores eram queimados em rios de lava. O Tártaro parece ser uma reduplicação da palavra pré-helênica tar, que compõe os nomes de lugares situados a oeste. O sentido de inferno surgiu mais tarde.
Os álamos negros eram consagrados à deusa da morte, e os álamos brancos, ou choupos, a Perséfone, como deusa da regeneração, ou a Hércules, por haver rastelado o inferno. Em sepulturas mesopotâmicas do quarto milênio a.e.c. foram encontrados diademas de ouro em forma de folhas de álamo. As tabuletas órficas não mencionam o nome da árvore que se alçava junto ao remanso da Memória, embora se tratasse provavelmente do álamo-branco em que se transformou Leuce, ou quiçá uma nogueira, símbolo da sabedoria. A madeira do cipreste branco, considerada de grande resistência, era utilizada para fazer arcas domésticas e ataúdes.
Hades tinha um templo aos pés do monte Mente, na Élida, e o fato de ter violado Menthe (“menta”) foi certamente deduzido a partir do emprego da menta nos ritos funerários, junto com o alecrim e o mirto, para eliminar o odor da decomposição. A água de cevada de Deméter, que se tomava em Elêusis, era aromatizada com menta. Embora controlasse o gado solar de Eritéia (“terra vermelha”) porque era ali que o sol morria toda noite, Hades e mais freqüentemente chamado de Cronos ou, neste contexto, de Gerião.
O relato de Hesíodo sobre Hécate demonstra que ela havia sido a deusa tripla original, suprema no céu, na terra e no Tártaro, mas os helenos enfatizaram seus poderes destrutivos em detrimento de sua força criadora, até que finalmente ela passou a ser invocada apenas nos rituais clandestinos de magia negra, especialmente em lugares onde se cruzavam três caminhos. O fato de Zeus não lhe ter negado o antigo dom de outorgar a cada mortal o que desejasse é um tributo às bruxas da Tessália, temidas por todos. Suas cabeças de leão, de cachorro e de cavalo referem-se evidentemente ao antigo ano tripartite, sendo o cachorro a estrela-cão Sírio, bem como às cabeças de Cérbero.
As Erínias, companheiras de Hécate, personificavam os remorsos depois da transgressão de um tabu - primeiro apenas o tabu do insulto, [148] da desobediência ou da violência para com a mãe. Requerentes e hóspedes encontravam-se sob a proteção de Héstia, deusa do lar, e tratá-los mal equivalia a cometer um insulto contra a deusa.
Leuce, a maior ilha do mar Negro, embora muito pequena, é atualmente uma colônia penal romena. [149]

Raramente se conseguia convencer Afrodite a emprestar às outras deusas seu cinto mágico, que fazia com que todos se apaixonassem pela portadora, pois tinha muito ciúmes de sua vantajosa posição. Zeus a havia cedido em matrimônio a Hefesto (Vulcano, entre os romanos), o deus ferreiro coxo, mas o verdadeiro pai de seus três filhos - Fobos, Deimos e Harmonia - era Ares, o impetuoso, ébrio e irascível deus da guerra, de membros fortes e bem formados. Hefesto ignorava a traição, até que, uma noite, os amantes permaneceram tempo demais na cama do palácio de Ares, na Trácia. Quando Hélio se levantou e viu que estavam se divertindo, foi contar tudo a Hefesto.
Hefesto retirou-se furioso para a sua ferraria e, a golpes de martelo, forjou uma rede de caça em bronze, tão fina como uma teia de aranha mas inquebrável, que atou secretamente aos pilares e as laterais de seu leito matrimonial. Quando Afrodite voltou da Trácia, toda sorridente, dizendo que havia resolvido certos assuntos em Corinto, seu marido lhe disse:
- Perdoe-me, querida, farei um breve retiro na ilha de Lemnos, minha favorita.
Afrodite não se ofereceu para acompanha-lo e, quando o perdeu de vista, apressou-se em chamar Ares, que veio imediatamente. Os dois se atiraram alegremente na cama, mas, ao amanhecer, viram-se envoltos na rede, nus e incapazes de escapar. Ao regressar de sua viagem, Hefesto os surpreendeu ali e chamou todos os deuses para testemunhar sua desonra. Anunciou então que não libertaria a esposa enquanto não recebesse de volta os valiosos presentes nupciais que entregara a Zeus, pai adotivo de Afrodite.
Os deuses logo se prontificaram a contemplar o embaraço de Afrodite.
As deusas, por delicadeza, ficaram em casa. Apolo cutucou Hermes:
- Você não se importaria em estar no lugar de Ares, com rede e tudo, não? - Perguntou.
Hermes disse, jurando por sua própria cabeça, que não se importaria em absoluto, mesmo que houvesse três vezes mais redes e que todas as deusas estivessem olhando com desprezo. Diante de tal resposta, ambos explodiram em gargalhadas. Mas Zeus estava tão desgostoso que se negou a devolver os presentes nupciais ou a interferir numa vulgar disputa entre marido e mulher, declarando que Hefesto era um estupido por ter propalado o assunto. Ao ver o corpo desnudo de Afrodite, Posídon apaixonou-se por ela, mas ocultou a inveja que sentia de Ares, fingindo simpatizar com Hefesto:
- Já que Zeus se recusa a ajudar - disse Posídon -, providenciarei para que Ares pague, para ser liberado, o equivalente aos presentes nupciais em questão.
- Assim está muito bem - replicou Hefesto, triste.
- Mas, se Ares não cumprir a obrigação, você terá de substitui-lo embaixo da rede.
- Em companhia de Afrodite? - perguntou Apolo, rindo.
- Não creio que Ares falte com a palavra - disse Posídon, com nobreza - Mas, se o fizer, estou disposto a pagar eu mesmo a divida e a me casar com Afrodite.
Assim, Ares foi colocado em liberdade e voltou para a Trácia, enquanto Afrodite foi para a ilha de Pafos, onde renovou sua virgindade no mar.
Lisonjeada pela sincera confissão de amor de Hermes, Afrodite passou uma noite com ele, e o fruto deste ato foi Hermafrodito, uma criatura com os dois sexos. Igualmente contente com a intervenção de Posídon em sua defesa, ela lhe deu dois filhos, Rodo e Herofilo. É desnecessário dizer que Ares se omitiu, alegando que, se Zeus não se dispôs a pagar, por que ele o faria? No final, ninguém pagou porque Hefesto estava loucamente apaixonado por Afrodite e não tinha intenções reais de se divorciar dela.
Mais tarde, Afrodite entregou-se a Dionísio, dando-lhe Priapo, um menino feio com um falo descomunal (foi Hera quem lhe deu essa aparência obscena a fim de punir Afrodite por sua promiscuidade). Ele era jardineiro e carregava consigo um podao.
Embora Zeus nunca tenha se deitado com sua filha adotiva Afrodite, como afirmam alguns, a magia de seu cinto submeteu-o a constantes tentações, e, finalmente, ele decidiu humilha-la, fazendo-a apaixonar-se perdidamente pelo mortal Anquises, o atraente rei dos dardanos e neto de Ilo. Uma noite, quando dormia em sua cabana de pastor, no monte Ida, em Troia, Afrodite veio visita-lo disfarçada de princesa frigia, envolta numa deslumbrante túnica vermelha, e se entregou a ele num leito de peles de ursos e leões, enquanto as abelhas zumbiam sonolentas ao seu redor. Quando se separaram, ao amanhecer, ela revelou sua identidade e o fez prometer que não contaria a ninguém que ela havia partilhado o leito com ele. Anquises ficou horrorizado ao descobrir que havia violado a nudez de uma deusa e suplicou-lhe que poupasse sua vida. Ela lhe garantiu que não tinha nada a temer e que o filho que teriam haveria de ser famoso. Alguns dias depois, enquanto Anquises bebia com os amigos, um deles lhe perguntou:
- Você não preferiria dormir com a filha de cicrana e beltrano a ter nos braços a própria Afrodite?
- Por certo que não - respondeu ele com imprudência. - Tendo dormido com as duas, considero absurda a pergunta.
Zeus escutou a bazofia e lançou um raio contra Anquises, que teria morrido na hora não houvesse Afrodite usado seu cinto para desviar o corisco na direção da terra onde estavam seus pés. De qualquer modo, o impacto enfraqueceu Anquises de tal maneira que nunca mais ele foi capaz de se manter em pé, e Afrodite, pouco depois de dar a luz seu filho Eneias, perdeu toda a paixão por ele.
Um dia, a mulher do rei Ciniras, do Chipre - também chamado rei Fenix, de Biblos, e rei Teias, da Assíria -, teve a leviandade de alardear que sua filha Esmirna chegava a ser mais bela que Afrodite. A deusa vingou-se desse insulto fazendo Esmirna apaixonar-se pelo pai e esgueirar-se furtivamente para a cama dele numa noite escura, depois de mandar que sua aia o embebedasse a ponto de perder a noção do que fizesse. Mais tarde, Ciniras descobriu que era ao mesmo tempo pai e avô do futuro filho de Esmima e, num ataque de ira, empunhou uma espada e a perseguiu ate expulsa-la do palácio. Alcançou-a no alto de uma colina, mas Afrodite apressou-se em transformá-la em uma árvore de mirra, que a espada cortou pela metade. Dela saiu o menino Adônis. Afrodite, já arrependida da maldade que havia cometido, escondeu o recém-nascido em um cofre e o confiou a Perséfone, Rainha da Morte, pedindo-lhe que o guardasse em um lugar escuro.
Perséfone ficou muito curiosa e abriu o cofre, encontrando Adônis lá dentro. Ele era tão adorável que ela o pegou nos braços e o levou para seu palácio. A noticia chegou a Afrodite, que imediatamente se apresentou no Tártaro para reclamar Adônis. Mas, diante da recusa de Perséfone, que o havia convertido em seu amante, apelou a Zeus. Dando-se conta de que Afrodite também queria deitar-se com Adônis, Zeus negou-se a julgar uma disputa tão vulgar e transferiu assunto para um tribunal menor, presidido pela musa Caliope. Seu veredito foi Perséfone e Afrodite tinham o mesmo direito sobre Adônis: Afrodite por ter dado o seu nascimento e Perséfone por tê-lo resgatado do cofre, mas que a deveriam ser concedidas breves ferias anuais para poder descansar das exigências amorosas dessas duas deusas insaciáveis. Portanto, Caliope dividiu o ano em três partes iguais, uma das quais Adônis dedicaria a Perséfone, outra a Afrodite e a terceira a si mesmo.
Afrodite foi ardilosa: valendo-se de seu cinto mágico, convenceu Adônis a dedicar-lhe o tempo que tinha para si mesmo e a detestar o período dedicado a Perséfone, descumprindo, portanto, a sentença do tribunal.
Perséfone, legitimamente ofendida, foi a Trácia para contar a seu benfeitor Ares que agora Afrodite o estava preterindo por causa de Adônis.
- É um simples mortal - gritou ela -, e, ainda por cima, efeminado!
Enciumado, Ares metamorfoseou-se em javali, correu ao morte Líbano, onde Adônis estava caçando, e o escornou ate a morte diante dos olhos de Afrodite. De seu sangue brotaram anêmonas, e sua alma desceu ao Tártaro. Afrodite foi ter com Zeus e, aos prantos, suplicou-lhe que Adônis não passasse mais do que a metade mais melancólica do ano com Perséfone e que fosse o seu companheiro durante os meses de verão. Zeus aquiesceu magnanimamente. Mas há quem diga que o javali era, na verdade, Apolo, vingando-se de uma ofensa que Afrodite lhe havia feito.
Certa vez, para fazer ciúmes a Adônis, Afrodite passou varias noites em Lilibeu com o argonauta Butes, com quem teve o filho Erice, que se tornou rei da Sicilia. Com Adônis teve Golgos, fundador de Golgi, no Chipre, e uma filha, Beroe, fundadora de Beroea, na Trácia. Há quem diga inclusive que foi Adônis, e não Dionísio, o pai de seu filho Priapo.
As Moiras determinaram para Afrodite um único dever divino: fazer amor. Mas um dia Atena surpreendeu-a trabalhando secretamente em um tear e foi se queixar de que suas próprias prerrogativas estavam sendo infringidas, ameaçando abandoná-las por completo. Afrodite desculpou-se profusamente e desde então jamais voltou a realizar um trabalho manual sequer.
Os helenos posteriores diminuíram a importância da grande deusa do Mediterrâneo - durante muito tempo, deusa suprema de Corinto, Esparta, Tespias e Atenas -, colocando-a debaixo da tutela masculina e considerando suas solenes orgias sexuais como indiscrições adulteras. Homero descreve Afrodite presa por Hefesto em uma rede que originalmente pertencia a ela, como deusa do mar, e que provavelmente era usada por sua sacerdotisa durante o carnaval da primavera. A sacerdotisa nórdica Holle, ou Gode, fazia o mesmo no Dia de Maio.
Príapo teve origem nas rudes imagens fálicas de madeira que presidiam as orgias dionisíacas. Foi considerado filho de Adônis por causa dos "jardins" em miniatura ofertados durante suas festas. A pereira era consagrada a Hera como deusa principal do Peloponeso e, por conseguinte, ela foi chamada de Apia.
Afrodite Urânia ("rainha da montanha'), ou Ericina ("deusa da urze"), era a deusa-ninfa de meados do verão. Ela destruiu o rei sagrado, com quem copulou no cume de uma montanha, da mesma maneira que a abelha-mestra aniquila o zangão: arrancando-lhe os órgãos sexuais. Isso explica as abelhas amantes da urze e a túnica vermelha, elementos presentes em seu romance com Anquises em cima da montanha, bem como o culto de Cibele, a Afrodite frigia do monte Ida como abelha-mestra, e a extática autocastração de seus sacerdotes em memória de seu amante Atis.
Anquises era um dos vários reis sagrados feridos com um raio ritualístico após terem sido consortes da deusa da monte-em-vida. Na versão mais antiga do mito ele era assassinado, mas nas posteriores consegue escapar: para justificar a história de como o bondoso Eneias, que levou o sagrado Paládio a Roma, conseguiu salvar seu pai quando a cidade de Tróia estava em chamas. Seu nome identifica Afrodite com Isis, cujo esposo Osíris foi castrado por Seth disfarçado de javali. De fato, "Anquises" é um sinônimo de Adônis. Um santuário de Anquises em Egesta, perto do monte Erix, levou Virgílio a concluir que ele morreu em Drépano, uma cidade vizinha, e foi enterrado na montanha. Na Trôade e na Arcádia surgiram outros santuários a ele. Um favo de mel de ouro exposto no santuário de Afrodite, no monte Erix, parece ter sido uma oferenda votiva de Dédalo por ocasião de sua fuga para a Sicília.
Como deusa da morte-em-vida, Afrodite recebeu muitos títulos que parecem incompatíveis com sua beleza e complacência. Em Atenas era conhecida como a Maior das Moiras e irmã das Erínias e, em outros lugares, como Melenis "a negra", nome que significaria, segundo uma ingênua explicação de Pausânias, que a maior parte dos atos sexuais ocorre durante a noite. Outros nomes são: Escócia ("a escura'), Andrófonos ("assassina de homens") e, segundo Plutarco, Epitímbria ("das tumbas").
O mito de Ciniras e Esmirna registra evidentemente um período da História em que o rei sagrado, numa sociedade matrilinear, decidiu prolongar seu reinado para além da duração habitual. E o fez casando-se com a jovem sacerdotisa - em teoria, sua filha - que viria a ser rainha no próximo mandato, para impedir que algum principezinho se casasse com ela e pusesse fim a seu reino.
Adonis (do fenício adon, "senhor") é uma versão grega do semideus sírio, Tamus, o espírito da vegetação anual. Na Síria, na Ásia Menor e na Grécia, o ano sagrado da deusa se dividia em três partes, regidas pelo Leão, pela Cabra e pela Serpente. A Cabra, emblema da parte central, pertencia à deusa amor, Afrodite; a Serpente, emblema da ultima parte, à deusa da morte, Perséfone; e o Leão, emblema da primeira parte, era consagrado à deusa do parto, chamada aqui de Esmirna, que não tinha nenhum direito sobre Adônis. Na Grécia esse calendário deu lugar a um ano de duas estações, dividido no estilo oriental pelos equinócios, como em Esparta e em Delfos, ou pelos solstícios, segundo estilo ocidental de Atenas e Tebas. Isso explica as diferenças entre os respectivos veredictos de Zeus e da deusa da montanha Caliope.
Tamus foi morto por um javali, como diversos personagens míticos semelhantes: Osíris, o Zeus cretense, Anceu da Arcádia, Carmanor da Lídia e o herói irlandês Diarmuid. Esse javali parece uma vez ter sido uma porca com presas em forma de meia-lua, ou seja, a própria deusa na figura de Perséfone. Mas, quando se dividiu o ano, a estação luminosa passou a ser regida pelo rei sagrado, e a metade escura, pelo seu sucessor, o rival, que aparecia disfarçado de javali selvagem - como Seth, quando matou Osíris, ou como Finn mac Cool, quando matou Diarmuid. O sangue de Tamus e uma alegoria das anemonas que cobriam de vermelho as encostas do monte Líbano depois das chuvas invernais. Em Biblos celebrava-se, a cada primavera, a Adônia, festa funeral em homenagem a Tamus. O nascimento de Adônis a partir de uma árvore de mirra - um afrodisíaco bem conhecido - demonstra o caráter orgiástico de seus ritos. As gotas de resina que essa árvore espelia são supostamente as lágrimas por ele derramadas. Higino faz de Ciniras o rei da Esfria, talvez porque o culto a Tamus parecesse ter tido ali sua origem.
Hermafrodito, filho de Afrodite, era tão jovem com cabelos longos e seios de mulher. Tal como a androgina, ou mulher barbuda, o hermafrodita tinha, naturalmente, sua extravagante contrapartida física, mas, como conceitos religiosos, ambos surgiram durante a transição do matriarcado para o patriarcado. Hermafrodito e o rei sagrado, representante da Rainha, que porta seios artificiais. Andrógina é a mãe de um clã pré-helênico que conseguiu evitar o patriarcado, e, para manter seus poderes magistrais ou enobrecer os filhos nascidos dela com um pai-escravo, adota uma barba falsa, como era o costume em Argos. As deusas barbudas, como a Afrodite cipriota, e os deuses efeminados, como Dionísio, correspondem a essas etapas sociais de transição.
Harmonia é, a primeira vista, um nome estranho para uma filha nascida de Afrodite e Ares, mas naquela época, assim como agora, o que prevalecia em um Estado que estava em guerra era mais do que simplesmente carinho e harmonia.

O Ares trácio adora a batalha pela batalha, e sua irmã Eris está sempre criando motivos para desencadear uma guerra, seja difundindo rumores ou semeando ciúmes e invejas. Como ela, Ares nunca privilegia uma cidade ou um partido, mas luta de um lado ou de outro, de acordo com sua inclinação, deleitando com a matança de gente e o saque de cidades. Todos os seus colegas imortais o odeiam, desde Zeus e Hera até o mais inferior, exceto Eris, Afrodite - que alimenta uma paixão perversa por ele - e o voraz Hades, que dá boas-vindas aos valentes jovens guerreiros mortos em guerras sangrentas.
Ares nem sempre saiu vencedor. Atena, guerreira muito mais hábil derrotou-o duas vezes em combate. Uma vez, os Aloidas o capturaram e o enceraram em um pote de bronze durante 13 meses, até que, semimorto, ele foi libertado por Hermes. Em outra ocasião, Héracles o fez voltar correndo para o Olimpo apavorado. Desprezava profundamente os litigios, nunca se apresentou diante um tribunal como pleiteador e apenas uma vez como acusado, quando os deuses o responsabilizaram pelo horrível assassinato de Halirrotio, filho de Posídon. Ele se justificou com a alegação de que agira para salvar sua filha Alcipe, da Casa de Cecrope, que ia ser violada pelo tal Halirrotio. Como ninguém havia presenciado o incidente, exceto o próprio Ares e Alcipe, que naturalmente confirmou o testemunho do pai, o tribunal o absolveu. Essa foi a primeira sentença pronunciada em um julgamento por assassinato, e a colina onde os procedimentos ocorreram ficou conhecida como Areópago, nome que ainda conserva.
Os atenienses não eram amantes da guerra, a não ser para defender sua liberdade ou por alguma outra razão igualmente urgente, e desprezavam os trácios por serem bárbaros que haviam feito da guerra um passatempo.
No relato de Pausânias sobre o assassinato, Halirrotio já havia conseguido violar Alcipe. Mas Halirrotio pode ser simplesmente um sinônimo de Posídon - e Alcipe, um sinônimo da deusa com cabeça de égua. De fato, o mito evoca o estupro de Démeter cometido por Posídon e faz referência à conquista de Atenas por sua gente, bem como a humilhação da deusa em suas mãos. Mas ele foi alterado por razões patrióticas e associado a uma lenda de algum velho julgamento por assassinato. Areiopagus significa provavelmente "colina da deusa conciliadora", areia sendo um dos títulos de Atena.

O maior mérito de Hestia (Vesta, entre os romanos) e ter sido a única, entre as divindades olímpicas, que nunca participou de guerras ou disputas. Além disso, assim como Artemis e Atena, ela sempre resistiu ao assedio amoroso de deuses, titãs e outros. Assim, depois do destronamento de Cronos, quando Posídon e Apolo apareceram como pretendentes rivais, ela jurou pela cabeça de Zeus que permaneceria virgem para sempre. Em agradecimento por ela ter servido a Paz no Olimpo, Zeus passou a oferecer-lhe a primeira vitima de todo e qualquer sacrifício publico.
Uma vez, em uma festa observada pelos deuses, Priapo, embriagado, tentou viola-la quando todos, já saciados, tinham adormecido. Mas um asno zurrou alto, despertando Hestia, que, ao ver Priapo prestes a montar em cima dela, deu um grito tão pavoroso que ele saiu correndo, tomado de um cômico terror.
Ela é a deusa do lar, que, em cada casa particular e nas cidades e colônias protege todos os que lhe prestam veneração. Hestia é reverenciada universalmente não só por ser a mais amável, correta e caridosa de todo o Olimpo, mas também por ter inventado a arte de construir casas. Seu fogo é tão sagrado que se, por acidente ou em sinal de luto, a lareira de um determinado lar se esfria, ele se ilumina novamente com a ajuda de uma roda de fogo.
O centro da vida grega - até mesmo em Esparta, onde a família havia se subordinado ao Estado - era a lareira doméstica, considerada também altar de sacrifícios. Hestia, por ser sua deusa, representava a segurança pessoal e a felicidade, bem como o dever sagrado da hospitalidade. As estórias das propostas matrimoniais de Posídon e Apolo foram deduzidas talvez com base no culto conjunto dessas três divindades em Delfos. A tentativa de estupro de Priapo é uma advertência anedótica sobre os maus-tratos sacrílegos aos hospedes do sexo feminino, que se encontram sob a proteção do lar doméstico ou publico. Neste caso, inclusive, o asno, símbolo da luxuria, proclama a loucura criminosa de Priapo.
A arcaica imagem nao-iconica branca da Grande Deusa, utilizada em todo o Mediterrâneo oriental, parece ter representado um monte de brasa que se mantém ardendo sob uma camada de cinzas brancas, tendo sido este o sistema mais agradável e econômico de calefação na Antiguidade, pois não produzia fumaça nem dramas e constituía o centro natural das reuniões familiares ou do clã. Em Delfos, o montículo de carvão foi trasladado para um recipiente de pedra calcária, para ser usado ao ar livre, convertendo-se no Onfalo, ou umbigo, representado com frequência nas pinturas de vasos gregos, que supostamente indicava o centro do mundo. Esse objeto sagrado, que sobreviveu às ruinas do santuário, está inscrito com o nome da Mãe Terra. Com suas 11,5 polegadas de altura e 15,5 de diâmetro [28,57 centímetros de altura por 39,37 centímetros de diâmetro], ele tem o tamanho e a forma de um forno a carvão capaz de esquentar uma sala grande. Na época clássica, a pitonisa dispunha da ajuda de um sacerdote encarregado de induzi-la ao transe, queimando grãos de cevada, cânhamo e louro em uma lâmpada de azeite dentro de um espaço fechado, e de interpretar depois o que ela dizia. Mas é provável que uma vez o cânhamo, o louro e a cevada tenham sido postos sobre as cinzas ardentes do montículo de carvão, que é uma forma mais simples e efetiva de produzir fumos narcóticos. Em santuários cretenses e micênicos foram encontradas numerosas conchas triangulares ou em forma de folha, feitas de pedra ou argila - algumas com sinais de sujeição a altas temperaturas, que aparentemente serviam para proteger o fogo sagrado. O montículo de carvão em brasa era colocado às vezes sobre uma mesa de argila redonda com três pernas, pintada de vermelho, branco e preto, que são as cores Lua. Preservaram-se amostras no Peloponeso, em Creta e em - sobre uma delas, proveniente de uma tumba funerária em Zafer Papoura perto de Knossos, ainda havia carvão.

Zeus, o eterno enamorado, deitou-se com numerosas ninfas descendentes dos titãs e dos deuses e, depois da criação do homem, deitou-se também com mulheres mortais. Nada menos que quatro divindades olímpicas maiores nasceram-lhe ilegítimas. Primeiro, ele gerou Hermes (Mercúrio) com Maia, filha de Atlas, que o pariu numa caverna do monte Cilene, na Arcádia. Depois, gerou Apolo e Artemis (Diana, entre os romanos) com Leto (Latona, entre os romanos), filha dos titãs Ceo e Febe, tendo-a transformado e a si próprio em codornizes, enquanto copulavam. Mas a ciumenta Hera mandou a serpente Piton perseguir Leto mundo afora e decretou que ela não deveria dar a luz em nenhum lugar onde o sol brilhasse. Carregada pelas asas do Vento Sul (Austro), Leto finalmente chegou a Ortigia, perto de Delos, onde pariu Artemis, que, mal acabara de nascer, pôs-se a ajudar a mãe a cruzar o estreito istmo. Uma vez lá, entre uma oliveira e uma tamareira que cresciam no lado norte do monte Cinto, em Delos, Leto pariu Apolo depois de nove dias de trabalho. Delos, até então uma ilha flutuante, tornou-se imóvel, fixada no mar, e, por decreto, ninguém tem agora permissão de nascer ou morrer ali: doentes e mulheres gravidas são transportados em balsas para Ortigia.
A mãe de Dionísio, filho de Zeus, recebe nomes variados: alguns dizem que teria sido Demeter, ou Io; há quem a chame de Dione; outros, de Perséfone, com quem Zeus copulou depois de assumir a forma de uma serpente; há ainda quem diga ter sido Lete.
Mas a historia mais difundida reza que Zeus, disfarçado de mortal, teve um caso de amor secreto com Semele ("lua"), filha do rei Cadmo de Tebas, e que a ciumenta Hera, revestida das feições de Beroe, velha ama de Semele, recomendou a jovem, já grávida de seis meses, que exigisse de seu misterioso amante que ele parasse de engana-la, e lhe revelasse sua verdadeira forma e natureza. Senão, como poderia ela saber se ele não era um monstro? Semele acatou o conselho e, diante da recusa de Zeus a seu apelo, passou a negar-lhe acesso a seu leito. Ele, então, furioso, surgiu na forma de trovão e raio, fulminando-a. Mas Hermes conseguiu salvar o filho que estava no sexto mês de gestação e o costurou dentro da coxa de Zeus, para que ali maturasse por mais três meses. No tempo devido, ele nasceu. Por isso Dionísio é chamado de "nascido duas vezes" ou "a criança da porta dupla".
Os estupros cometidos por Zeus referem-se, aparentemente, às conquistas helênicas dos antigos templos da deusa, como o do monte Cilene, e seus casamentos, a um antigo costume de dar titulo de "Zeus" ao rei sagrado do culto do carvalho. Hermes, seu filho, nascido após Zeus haver estuprado Maia - titulo de uma deusa da Terra representada por uma velha -, originalmente não era um deus, mas a virtude totêmica de um pilar fálico, ou um marco de pedras. Tais pilares constituíam o centro de uma dança orgíaca em honra a deusa.
Um componente na divindade de Apolo parece ter sido um camundongo oracular - Apolo Esminteu ("Camundongo-Apolo") figura entre os seus primeiros títulos - consultado num tempo da Grande Deusa, o que talvez explique por que ele nasceu em um lugar onde o sol jamais brilhou, ou seja, no subterrâneo. Camundongos estariam associados a doenças e cura, por isso os helenos veneravam Apolo como deus da medicina e da profecia. Registros mais tardios relatam que ele nasceu debaixo de uma oliveira e de uma tamareira, na encosta setentrional de uma montanha. Era chamado de irmão gêmeo de Artemis, deusa do parto. Sua mãe Leto - filha dos titãs Febe ("lua') e Ceo ("inteligência') -, conhecida no Egito e na Palestina como Lat, tornou-se deusa da fertilidade da ramareira e da oliveira: dai sua chegada a Grécia com o Vento Sul. Na Itália, ela se tornou Latona ("rainha Lat"). Sua briga com Hera sugere um conflito entre os primeiros imigrantes da Palestina e as primeiras tribos nativas que adoravam uma sutra deusa da Terra. O culto ao camundongo, que ela parece ter trazido consigo, estabeleceu-se com firmeza na Palestina (I Samuel VI. 4 e Isaias LXVI. 17). O fato de Piton perseguir Apolo evoca o uso de cobras, nas casas gregas e romanas, para afastar camundongos. Mas Apolo era também o fantasma do rei sagrado que havia comido a maçã - a palavra Apolo deriva, provavelmente, da raiz abol "maçã", e não de apollunai, "destruir", como geralmente se considera.
O pássaro consagrado a Artemis, originalmente uma deusa orgíaca, era a lasciva codorniz. Bandos de codornizes faziam de Ortígia um lugar de descanso durante sua migração de primavera rumo ao norte. A estoria de que Delos, local de nascimento de Apolo, havia sido até então uma ilha flutuante deve ser uma compreensão errônea de um registro que anunciava o estabelecimento oficial de seu local de nascimento, haja vista que Homero (Ilíada IV 101) o chama de "licigeno", isto é, "nascido em Licia" (o gentílico seria lício), e que os efésios vangloriavam-se do fato de ele ter nascido em Ortigia, perto de Éfeso (Tacito: Anais 111. 61). Tanto os tegirenses beocios quanto os zosteranos áticos reivindicavam-no também como seu filho nativo (Estevão de Bizâncio sub Tegira).
Ao que tudo indica, Dionísio surgiu inicialmente como uma espécie de rei sagrado que, no sétimo mês depois do solstício de inverno, foi fulminado pela deusa e devorado por suas sacerdotisas. Isso explica suas mães Dione, a deusa do carvalho; Io e Demeter, deusas do trigo; e Perséfone, deusa da morte. Plutarco, ao chama-lo de "Dionísio, filho de Lete ("esquecimento"), refere-se ao seu aspecto tardio de deus da vinha.
A estória de Semele, filha de Cadmo, parece registrar a ação sumaria tomada por Hellenese da Beocia, ao terminar a tradição do sacrifício real: o Zeus Olímpico afirma seu poder, põe o rei condenado sob sua proteção e fulmina a deusa com seu próprio raio. Dionísio, assim, torna-se imortal, após renascer de seu pai imortal. Semele foi venerada em Atenas durante a Lenaea, Festim das Mulheres Selvagens, ocasião em que um Touro do Ano, representando Dioníso, era cortado em nove pedaços e sacrificado em sua honra: um pedaço era queimado, enquanto o restante era comido cru pelas adoradoras. Semele é geralmente explicada como uma forma de Selene ("lua'), e nove era o número tradicional das sacerdotisas orgíacas da Lua que participavam de tais festins - nove delas foram retratadas dançando em torno do rei sagrado numa pintura rupestre em Cogul, e outras nove mataram e devoraram o acolito de são Sansão de Dol na Idade Media.

Hera (Juno), filha de Cronos e Reia, nasceu na ilha de Samos ou, segundo outras fontes, em Argos, e foi criada na Arcádia por Temeno, filho de Pelasgo. As Estações eram suas pajens. Após haver banido seu pai Cronos, Zeus, irmão gêmeo de Hera, procurou-a em Knossos, em Creta ou, diz-se, no monte Tornax (chamado agora de montanha do Cuco), na Argólida, onde a cortejou, primeiro sem nenhum sucesso. Somente quando ele se disfarçou de cuco molhado e que Hera teve pena do irmão e o aqueceu carinhosamente no peito. Zeus, então, retomou imediatamente sua forma verdadeira e a violou, forçando-a a casar-se com ele por causa da vergonha.
Todos os deuses trouxeram presentes de casamento. A Mãe Terra, particularmente, deu a Hera uma arvore com maças de ouro, mais tarde guardada pelas Hesperides no pomar de Hera, no monte Atlas. Ela e Zeus passaram sua lua-de-mel, que durou trezentos anos, em Samos. Hera se banha regularmente na fonte de Canato, perto de Argos, renovando, assim, sua virgindade.
Hera e Zeus tiveram como filhos as divindades Ares (Marte), Hefesto (Vulcano) e Hebe (Juventas), embora se diga que Hera teria concebido Ares e sua irmã gêmea Eris (Discórdia) ao tocar uma certa flor, e Hebe, ao tocar uma alface, é que Hefesto seria também seu filho partenogenico - milagre em que ele não acreditava até aprisiona-la em uma cadeira mecânica, cujos braços se dobravam em torno da pessoa sentada, forçando-a a jurar pelo rio Estige que não estava mentindo. Diz-se também que Hefesto era seu filho com Talo, sobrinho de Dedalo.
O nome de Hera, geralmente considerado como uma palavra grega para "senhora", talvez represente uma Herwã ("Protetora') original. Ela é a Grande Deusa pré-helênica. Samos e Argos eram as sedes principais de sua adoração na Grécia, embora os arcades alegassem ter sido os primeiros a cultua-la, já desde os tempos de seu ancestral autóctone Pelasgo ("antigo"). O casamento forcado de Hera com Zeus comemora as conquistas de Creta e da Grécia micênica e a queda da supremacia de Hera em ambos os países. É provável que o disfarce de cuco molhado usado por Zeus para se aproximar de Hera corresponda a chegada de certos fugitivos helenos à Creta; que, uma vez aceitos para trabalhar na guarda real, urdiram uma conspiração palaciana e tomaram o reino. Knossos foi saqueada duas vezes; ao que tudo indica, pelos helenos, em torno de 1700 a.e.c. e de 1400 a.e.c. Micenas foi tomada pelos aqueus um século depois. O deus Indra, no Ramayana, havia cortejado uma ninfa disfarçado de cuco. Agora, era Zeus que tomada emprestado o cetro de Hera, sobrepujando-a com o pássaro. Em Micenas foram encontradas estatuetas folheadas a ouro de uma deusa argiva nua segurando cucos, bem como poleiros de cuco numa maquete de templo folheada a ouro do mesmo lugar. No famoso sarcófago cretense de Hagia Triada, a ave encontra-se empoleirada em um machado duplo.
Hebe, deusa em forma de criança, tornou-se copeira dos deuses no culto olímpico. Por fim casou-se com Héracles, após Ganimedes usurpar o cargo dela. "Hefesto" parece ter sido um titulo do rei sagrado como semideus solar, e "Ares", um título de seu comandante militar, ou tanist, cujo emblema era o javali. Ambos se tornaram nomes divinos quando se estabeleceu o culto olímpico e foram escolhidos para desempenhar os papeis, respectivamente, de deus da guerra e deus ferreiro. A "certa flor" deve ter sido provavelmente a flor do espinheiro-branco: Ovídio faz a deusa Flora - a cujo culto está associada a flor do espinheiro-branco - chamar a atenção de Hera para a flor. O espinheiro-de-maio, ou espinheiro-branco, esta ligado à concepção miraculosa no mito popular europeu: na literatura celta, sua "irmã" é o abrunheiro, símbolo da Disputa - a gêmea de Ares, Eris.
Talo (ou Ácale), o ferreiro, era um herói cretense, filho da irmã de Dedalo, Perdiz, com quem o mitógrafo identifica Hera. Perdizes, consagradas a Grande Deusa, estavam de certo modo presentes nas orgias do equinócio de Primavera no Mediterrâneo oriental, através da apresentação de uma dança claudicante imitando perdigões. As gêmeas, segundo Aristóteles, Plinio e Eliano, eram capazes de conceber apenas ouvindo a voz do macho. Hefesto e Talo parecem ser o mesmo personagem partenogênico: ambos foram subjugados por rivais furiosos originalmente em honra à sua deusa-mãe.
Em Argos, a famosa estátua de Hera estava sentada em um trono de ouro e marfim. A historia de seu aprisionamento em uma cadeira deve ter surgido do hábito grego de acorrentar estatuas divinas a seus tronos a fim de "evitar fugas". Por perder uma estatua antiga de seu deus ou deusa, uma cidade poderia ser privada da proteção divina, e por isso os romanos adotaram um costume educadamente chamado de "atrair" os deuses a Roma - que, na época imperial, tornara-se um deposito de imagens roubadas. "As Estações eram suas pajens" e uma maneira de dizer que Hera era uma deusa do ano calendarico. Dai o cuco da primavera no seu cetro e a romã madura do outono tardio, que ela carregava na mão esquerda para simbolizar a morte do ano.
Um herói, como a palavra indica, era um rei sagrado, oferecido em sacrifício a Hera, cujo corpo estava a salvo debaixo da terra e cuja alma fora desfrutar o paraíso, atrás do Setentrião. Suas maçãs douradas, nos mitos grego e celta, eram passaportes para esse paraíso.
O banho anual com que Hera renovava sua virgindade era também tomado por Afrodite em Pafos. Essa parece ter sido a cerimonia de purificação prescrita para a Sacerdotisa da Lua após o assassinato de seu amante, o rei sagrado. Hera, por ser a deusa do ano vegetativo, da primavera, do verão e do outono (simbolizados também pelas luas nova, cheia e velha), era venerada em Estinfalo como Criança, Noiva e Viúva.
A lua-de-mel em Samos durou trezentos anos: talvez se tratasse do ano sagrado samiano, que, assim como o etrusco, consistia em dez meses de trinta dias cada: janeiro e fevereiro eram omitidos. Cada dia durou um ano. Mas o mitógrafo talvez queira indicar que se passaram trezentos anos até que os helenos impingissem a monogamia ao povo de Hera.
Alguns estudiosos afirmam que Eros, nascido do ovo primordial engendrado pela Noite, foi o primeiro dos deuses, pois sem ele nenhum dos outros poderia ter nascido. Consideram-no contemporâneo da Mãe Terra e de Tártaro e negam que tivesse pai ou mãe, a não ser que tenha sido obra de Ilitia, a deusa do parto. Outros dizem que era filho de Afrodite com Hermes ou com Ares, ou com o próprio pai dela, Zeus, ou filho de Iris com o Vento Oeste (Zefiro). Ele era um garoto travesso que não demonstrava nenhum respeito pela idade ou pela posição social, mas voava por ai com asas douradas, lançando flechas farpadas aleatória ou intencionalmente, incendiando corações com suas tochas formidáveis.
Para Hesíodo, Eros ("paixão sexual") era uma mera abstração. Os gregos primitivos o retratavam como um Ker, ou um "mal" transcendente, como a velhice ou a peste, no sentido de que a paixão sexual fora de controle poderia perturbar a ordem social. Mais tarde, entretanto, os poetas descobriram um prazer perverso em suas artimanhas e, na época de Praxiteles, já o assimilavam como um jovem belo e sensível. Seu templo mais famoso era o de Tespias, onde os beocios o veneravam como um simples pilar fálico - o pastoral Hermes, ou Priapo, com um nome diferente. Os numerosos relatos sobre sua ascendência são auto-explicativos. Hermes era um deus fálico. Ares, como um deus da guerra, incrementava de desejo as mulheres dos guerreiros. O fato de Afrodite ter sido a mãe e Zeus, o pai de Eros é uma indicação de que a paixão sexual não se resumia ao incesto. Seu nascimento a partir do Arco-iris e do Vento Oeste não passa de uma fantasia lírica. llitia, aquela que vem em auxilio as mulheres no leito do parto, era um dos títulos de Artemis, significando que não há amor mais forte do que o amor materno.
Eros nunca foi considerado um deus suficientemente responsável para figurar entre os Doze da família governante do Olimpo.
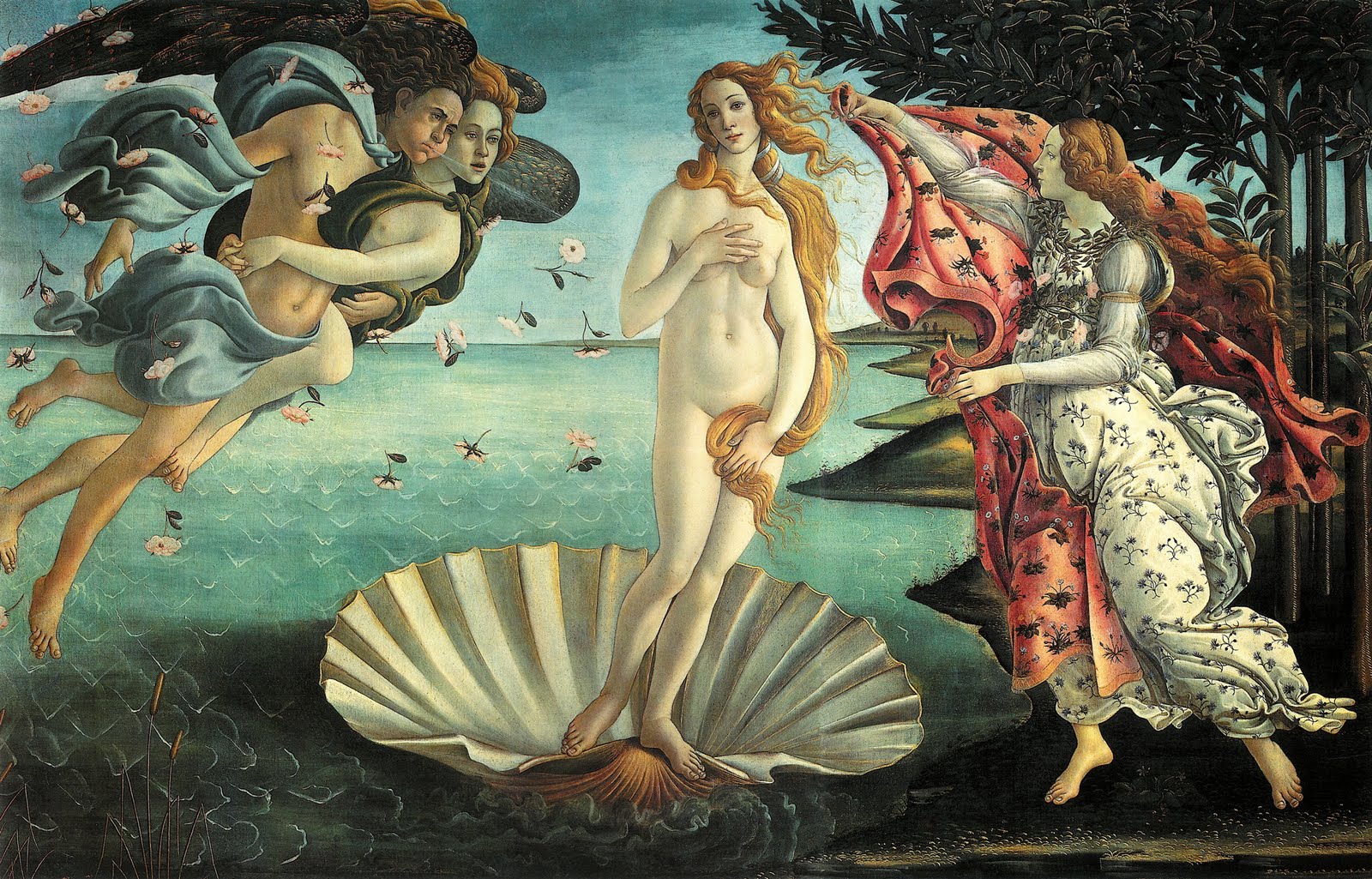
Afrodite (Vênus), deusa do desejo, surgiu nua da espuma do mar e, cavalgando uma concha de vieira, onde primeiro pôs os pés foi na ilha de Citera. Porém, considerado-a apenas uma ilhota, cruzou o Peloponeso e, finalmente, passou a residir em Pafos, no Chipre, ainda hoje a principal sede de seu culto. Plantas e flores cresciam por onde ela pisasse. Em Pafos, as Estações, filhas de Temis, apressaram-se em vesti-la e adorná-la.
Há quem afirme que ela surgiu da espuma formada pelos testículos de Urano, quando Cronos os atirou ao mar. Conta-se também que Zeus a gerara com Dione, filha de Oceano e Tetis, a ninfa do mar, ou do Céu com a Terra. Mas todos concordam que ela sustem o ar, acompanhada por pombas e pardais1.
Afrodite ("nascida da espuma') é a mesma deusa com amplos poderes que surgiu do Caos e dançou sobre o mar, tendo sido venerada na Síria e na Palestina como Ishtar ou Ashtaroth. Seu mais famoso centro de adoração era Pafos, onde a imagem aniconica original da deusa é ainda visível por entre as rumas do grandioso templo romano. La, em toda primavera, suas sacerdotisas banhavam-se no mar e retornavam renovadas.
Ela é chamada de filha de Dione, porque Dione era a deusa do carvalho, onde a pomba apaixonada fazia seu ninho. Zeus alegou ser pai de Afrodite apos apoderar-se do Oraculo de Dione em Dodona, portanto Dione tornou-se sua mãe. "Tetis" e "Thetis" são nomes da deusa como Criadora (formados, assim como "Temis" e "Teseu", de tithenai, "dispor" ou "ordenar") e como deusa do mar, desde o momento em que começou a haver vida no mar2. Pombas e pardais eram famosos pela lascívia. Os frutos do mar ainda são considerados, por todo o Mediterrâneo, afrodisíacos.
Citera foi um importante centro do comércio cretense com o Peloponeso e deve ter sido por ali que a adoração a Afrodite entrou na Grécia. A deusa cretense tinha estreitos laços com o mar. Conchas cobriam o chão de seu palácio-santuário em Knossos. Ela é representada em cima de uma pedra preciosa da caverna Ideana, soprando uma concha de tritão, com uma anêmona-do-mar ao lado de seu altar. O ouriço-do-mar e a siba eram consagrados a ela. Uma concha de tritão foi encontrada em seu antigo santuário de Festo, e muitas outras mais, nas tumbas minoicas tardias, algumas delas sendo replicas de terracota.
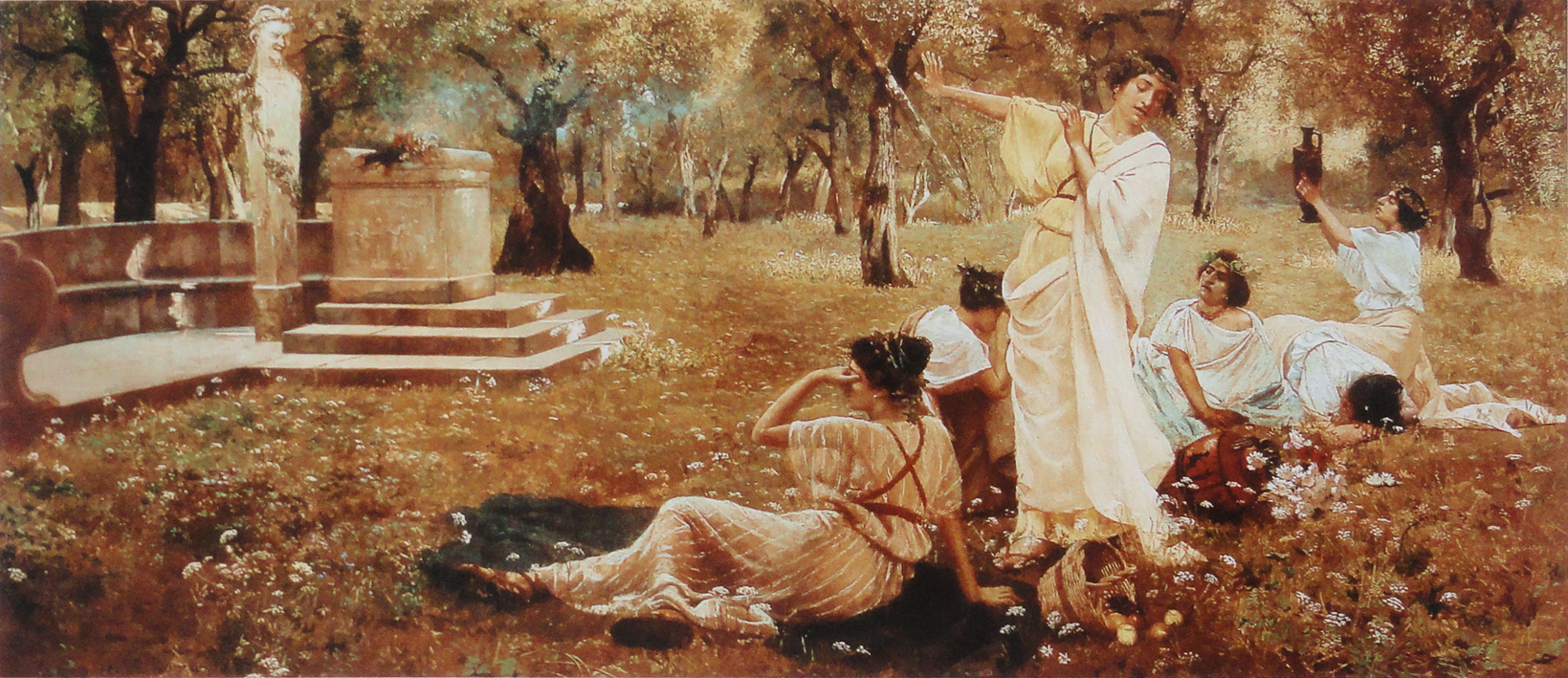
Vários deuses e deusas poderosos da Grécia jamais se incluíram entre os Doze Olímpicos. Pã, por exemplo, um tipo humilde, agora morto, contentou-se em viver sobre a terra na Arcádia rural. Hades, Perséfone e Hécate sabiam que sua presença não era bem-vinda no Olimpo. A Mãe Terra, por sua vez, era demasiado velha e apegada a seus hábitos para se adaptar à vida familiar de seus netos e bisnetos. Contam que Hermes concebeu Pã com Driopéia, filha de Dríope; ou com a ninfa Eneis; ou com Penélope, mulher de Odisseu, que ele visitou sob a forma de um carneiro; ou com a cabra Amaltéia. Diz-se que ele era tão feio quando nasceu, com chifres, barba, rabo e pés de bode, que sua mãe fugiu assustada e Hermes o levou ao Olimpo para divertir os deuses. Mas Pã era irmão adotivo de Zeus e, portanto, muito mais velho que Hermes ou Penélope, a qual, segundo outra versão, o teria concebido com todos os pretendentes que a cortejaram durante a ausência de Odisseu. Há também quem o considere filho de Cronos e Réia: ou de Zeus e Híbris, que é a explicação mais plausível.
Ele vivia na Arcádia, onde cuidava de seus rebanhos, manadas e colméias, participava das folias das ninfas montanhesas e ajudava os caçadores a encontrar sua presa. Em geral, era tranqüilo e preguiçoso. Nada lhe apetecia mais do que uma sesta vespertina, e vingava-se daqueles que vinham perturbar o seu sono lançando-lhes, de dentro de uma cova ou caverna, um grito repentino, de arrepiar os cabelos. Apesar disso, os árcades tinham tão pouco respeito por ele que quando voltavam de mãos vazias depois de um longo dia de caça, ousavam ataca-lo com cebolas.
Pã seduziu diversas ninfas, entre elas Eco, que lhe deu Iinx e teve um fim desgraçado por amar Narciso; e Eufeme, a nutriz das musas, que lhe deu Croto, o Arqueiro do Zodíaco. Ele também se gabava de ter copulado com todas as mênades bêbedas de Dionísio.
Uma vez tentou violar a casta Pítis, que escapou dele facilmente, metamorfoseando-se num abeto, cujo ramo passou a ser usado desde então por Pã como grinalda. Em outra ocasião, perseguiu a casta Siringe do monte Liceu até o rio Ládon, onde ela se transformou em junco. Não conseguindo distingui-la do resto, ele cortou vários juncos ao acaso e os transformou numa flauta de Pã. Seu maior êxito amoroso foi Selene, a quem seduziu cobrindo seus pelos pretos de pele de cabra com tosões brancos bem lavados. Sem dar-se conta de quem era ele de fato, Selene aceitou montar no seu lombo, permitindo-lhe desfrutar dela como bem entendesse.
Os deuses olímpicos utilizavam para seu próprio proveito os poderes de Pã, apesar de desprezarem sua simplicidade e seu gosto por escândalos. Apolo obteve dele a arte da profecia, e Hermes copiou uma flauta que Pã deixara cair, dizendo-se seu inventor e vendendo-a a Apolo.
Pã é o único deus que morreu na nossa época. A notícia de sua morte chegou através de Tamo, marinheiro cujo barco ia rumo a Italia, fazendo escala na ilha de Paxi. Uma voz divina gritou do mar:
- Está aí, Tamo? Quando chegar a Palodes, trate de anunciar a morte do grande deus Pã! E assim fez Tamo. A notícia foi recebida desde a costa com gemidos e lamentos.
Pã, cujo nome deriva habitualmente depaein, “pastar”, representa o “demônio”, ou “homem de pé”, do culto árcade da fertilidade, que mantinha grande semelhança com o culto das bruxas do noroeste europeu. Esse homem, vestido com uma pele de cabra, era o amante eleito pelas menades bebedas durante suas orgias nas montanhas altas, privilégio que, mais cedo ou mais tarde, ele acabaria pagando com a própria morte.
Os relatos sobre o nascimento de Pã são muito variados. Levando-se em conta que Hermes era a força residente numa pedra fálica que constituía o centro dessas orgias, os pastores descreviam seu deus Pã como filho de Hermes com um pica-pau, cujas fortes batidas do bico supostamente pressagiavam a bem-vinda chuva estival. O mito de que ele tenha concebido Pã com Eneis é auto-explicativo, ainda que as mênades originais usassem outros estupefacientes além do vinho. O nome de sua famosa mãe Penélope (“a que tem uma rede sobre o rosto”) sugere que as mênades tinham! algum tipo de pintura de guerra para as orgias, recordando as listras da penelope, uma espécie de pato.
Plutarco diz (Sobre as demoras do castigo divino) que as mênades que mataram Orfeu tinham sido tatuadas por seus esposos como castigo.
A visita feita por Hermes a Penélope sob a forma de carneiro — demônio carneiro é tão comum quanto a cabra no culto das bruxas do noroeste - e o fato de ela engravidar com todos os pretendentes, além da jactância de Pã de ter copulado com todas as mênades, aludem ao caráter promíscuo das orgias em homenagem à deusa-abeto Pítis ou Élate. Os montanheses árcades eram os habitantes mais primitivos da Grécia, e seus vizinhos, mais civilizados, manifestavam desprezo por eles.
O filho de Pã, o torcicolo, ou biguatinga, era uma ave migrante de primavera, utilizada para encantamentos eróticos. As cebolas contêm uma substância tóxica irritante — muito efetiva contra camundongos e ritos - e eram usadas como purgante e diurético antes de se tomar parte num ato ritual, motivo pelo qual passaram a simbolizar a eliminação de más influências, e a imagem de Pã era açoitada com essas cebolas quando rareava a caça.
A sedução de Selene deve se referir a uma orgia do Dia de Maio sob a luz do luar, em que a jovem Rainha de Maio montava no lombo do seu homem de pé. antes de celebrar com ele um casamento silvestre. Nessa época, o culto do carneiro havia substituído o da cabra na Arcádia.
Ao que parece, o egípcio Tamo ouviu mal o lamento cerimonial Tbamus Pan-megas Tethnêce (“o todo-poderoso Tamus morreu!”) e entendeu: “Tamo, o grande Pã morreu!”. De qualquer modo, Plutarco, sacerdote de Delfos na segunda metade do século I a.e.c., assim acreditou e publicou, mas, quando Pausânias fez sua viagem pela Grécia, aproximadamente um século depois, encontrou santuários de Pã, altares, cavernas e montanhas sagradas dedicadas a ele, que ainda eram muito freqüentadas.

No Início de todas as coisas, a Mãe Terra (Gaia) emergiu do Caos e pariu seu filho Urano (Céu) enquanto dormia. Fitando-a com carinho a partir das montanhas, ele fez cair uma chuva fértil sobre suas fendas secretas, e ela pariu grama, flores e árvores, com todos os animais e pássaros característicos. Essa mesma chuva fez os rios fluírem, preenchendo os lugares côncavos com água, formando, assim, os lagos e mares.
Seus filhos de forma semi-humana foram os hecatônquiros: Briareu, Giges e Coto. Em seguida surgiram os três violentos ciclopes, ferreiros construtores das muralhas gigantes, primeiro da Trácia, depois de Creta e da Lícia, cujos filhos foram encontrados por Odisseu (Ulisses, entre os romanos) na Sicília. Seus nomes eram Brontes, Estérope e Argés, e seus fantasmas passaram a morar nas cavernas do vulcão Etna desde que Apolo os matou, vingando-se da morte de Asclépio (Esculápio, entre os Romanos).
Os líbios, entretanto, alegam que Garamas nasceu antes dos hecatônquiros e que, ao subir a colina, concedeu á Mãe Terra uma oferenda de bolota doce.
Esse mito patriarcal de Urano obteve aceitação oficial durante o sistema religioso olímpico. Urano, cujo nome veio a significar "o céu", parece ter ganhado a posição de Primeiro Pai ao ser associado ao deus pastoral Varuna, um dos componentes da trindade ariana masculina, mas seu nome grego é uma forma masculina de Ur-ana ("rainha das montanhas", "ranha do verão", "rainha dos ventos" ou "rainha dos bois selvagens") - a deusa em seu aspecto orgíaco típico do solstício de verão. O casamento de Urano com a Mãe Terra registra uma antiga invasão helênica ao norte da Grécia, que permitiu ao povo de Varuna alegar que Urano havia gerado as tribos nativas lá encontradas, mesmo sendo reconhecidamente filho da Mãe Terra. Uma retificação do mito, registrada por Apolodoro, reza que a Terra e o Céu se separaram numa briga mortal e depois se reconciliaram, apaixonados: isso e mencionado por Euripides (Melanipa, a Sábia, fragmento 484, ed. Nauck) e por Apolonio de Rodes (Argonáutica 1. 494). A briga mortal deve se referir ao choque entre os princípios patriarcal e matriarcal que as invasões helênicas causaram. Giges ("nascido da terra') tem uma outra forma, gigas ("gigante"), e os gigantes estão associados miticamente às montanhas da Grécia setentrional. Briareu ("forte") também era chamado de Egeon (Iliada 1. 403), portanto seu povo talvez sejam os libio-tracios, cuja deusa-cabra Egis deu nome ao mar Egeu. Coto foi o ancestral eponimo (que da nome) dos cotianos, veneradores da orgástica Cotito que propagaram seu culto desde a Trácia ate o noroeste da Europa. Essas tribos são descritas como sendo "de cem mãos", talvez porque suas sacerdotisas fossem organizadas em grupos de cinquenta, como as danaides e as nereidas, ou porque os homens fossem organizados em bandos militares de cem, como os primeiros romanos.
Os ciclopes parecem ter sido uma corporação dos primeiros artífices helênicos que trabalhavam o bronze. Ciclope significa "com olho de anel", e eles eram provavelmente tatuados com anéis concêntricos na testa, em homenagem ao Sol, fonte de seu fogo de fornalha. Os trácios continuaram se tatuando ate a época clássica. Círculos concêntricos fazem parte do mistério do ofício de ferreiro: a fim de fabricar tigelas, elmos ou mascaras rituais, o ferreiro costumava guiar-se por esses círculos, marcados pelo compasso ao redor do centro do disco chato sobre o qual trabalhava. Os ciclopes tinham um só olho também no sentido de que os ferreiros geralmente cobrem um olho com uma venda para resguardá-lo das faíscas. Mais tarde, a identidade deles foi esquecida e a imaginação dos mitógrafos colocou seus fantasmas nas cavernas do Etna, a fim de explicar o fogo e a fumaça provenientes de sua cratera. Existiu uma conexão cultural estreita entre Trácia, Creta e Lícia; os ciclopes eram muito familiares em todos esses países. A cultura heládica primitiva propagou-se também pela Sicília, mar e bem possível (Samuel Butler foi o primeiro a sugerir) que a composição siciliana da Odisseia explique a presença dos ciclopes lá. Os nomes Brontes, Esterope e Arges ("trovão", "raio" e "relâmpago") são invenções tardias.
Garamas é o ancestral pepônio dos garamantes líbios, que ocuparam o Oasis de Djado, ao sul de Fezzan, tendo sido conquistador pelo general romano Balbo em 19 a.e.c. Diz-se que são de linhagem camito-berbere e que, no segundo século da era cristã, foram subjugados pelos berberes matrilineares lemta. Mais tarde, misturaram-se aos aborigines negros da margem meridional do Alto Niger, adotando sua Iinguagem. Sobrevivem ainda hoje em um único vilarejo chamado Koromantse. Garamante deriva das palavras gara, man e te, significando "povo do Estado de Gara. Gara parece ser a deusa Ker, Qre ou Car, que deu seu nome aos cariates, entre outros, e ficou associada a apicultura. Bolotas comestíveis, principal alimento do mundo antigo antes da introdução do trigo, cresciam na Líbia. O assentamento garamante de Ammon uniu-se ao assentamento grego setentrional de Dodona em uma liga religiosa que, de acordo com Sir Flinders Petrie, pode ter surgido já no terceiro milênio a.e.c. Ambos os lugares detinham um antigo oráculo de carvalho. Heródoto descreve os garamantes como um povo pacifico, mas muito poderoso, que se dedica ao cultivo de tamareira e trigo e ao pastoreio de gado.

Conta-se que todos os deuses e todas as criaturas vivas originaram-se da torrente com que o Oceano cerca o mundo, e que Tétis foi a mãe de todos os filhos dele. Mas os órficos dizem que a Noite, deusa de asas negras que até mesmo Zeus reverencia, foi cortejada pelo Vento e pôs um ovo prateado no ventre da escuridão; e que Eros, também chamado Fanes, foi chocado nesse ovo e colocou o Universo em movimento. Eros tinha dois sexos e asas douradas e, por ter quatro cabeças ora rugia como um touro ou um leão, ora silvava como uma serpente ou balia como um carneiro. A Noite, que o chamava de Ericepaius e Faetonte Protogênico, vivia com ele numa caverna, exibindo-se numa tríade: Noite, Ordem e Justiça. Diante dessa caverna ficava a inescapável mãe Réia (Cibele, entre os romanos), tocando um tambor de latão para chamar a atenção do homem aos oráculos da deusa. Fanes criou a terra, o céu, o sol e a Lua, mas a deusa tripla governou o universo até seu cetro ser transferido para Urano.
O mito de Homero é uma versão da história da criação pelasga, pois Tétis governou o mar como Eurínome, e Oceano cercou o Universo como Ofíon.
O mito órfico constitui outra versão, influenciada, porém, por uma doutrina mística tardia do amor (Eros) e por teorias sobre relações adequadas dos sexos. O ovo prateado da Noite significa a Lua, a prata sendo o metal lunar. Assim como Ericepaius "comedor de urze", o deus do amor Fanes "revelador" é uma abelha celestial com um forte zunido, filho da Grande Deusa.
A coméia foi estudada como uma república ideal e confirmou o mito da Era de Ouro, quando o mel pingava das árvores. O tambor de latão de Réia era tocado para evitar que as abelhas se enxameassem no lugar errado e para repelir influências malignas, como os rugidos de touros usados durante os Mistérios. Assim como Faetonte Protogênico "primogênito brilhante", Fanes é o Sol que os órficos transformaram em símbolo de iluminação, e suas quatro cabeças correspondem aos animais simbólicos das quatro estações. Conforme Macrobius, o oráculo de Cólofon identificou esse Fanes com o deus transcendente Iao: Zeus (carneiro), Primavera; Hélio (leão); Hades (cobra), Inverno; Dioníso (touro), Ano-Novo.
O cetro da Noite passou para Urano por ocasião do advento do patriarcado.

Reza a lenda que primeiro foi a Escuridão, e da Escuridão surgiu o Caos. Da união entre a Escuridão e o Caos surgiram a Noite, o Dia, Erebo e o Ar. Da união entre a Noite e Erebo surgiram o Destino, a Velhice, a Morte, o Assassinato, a Moderação, o Sono, os Sonhos, a Discórdia, a Miséria, a Aflição, Nemesis, a Alegria, a Amizade, a Misericórdia, as três Parcas e as três Hesperides. Da união entre o Ar e o Dia surgiram a Mãe Terra, o Céu e o Mar.
Da união entre o Ar e a Mãe Terra surgiram o Terror, o Ofício, a Raiva, a Luta, as Mentiras, os Juramentos, a Vingança, a lntemperança, a Altercação, o Pacto, o Esquecimento, o Medo, o Orgulho, a Batalha e também Oceano, Metis e outros titãs, o Tártaro e as três Erínias, ou Fúrias.
Da união entre a Terra e o Tártaro surgiram os gigantes.
Da união entre o Mar e seus Rios surgiram as nereidas. Mas, ate então, não havia mortais, de maneira que, com o consentimento da deusa Atena, Prometeu, filho de Japeto, formou-os à semelhança dos deuses. Utilizou-se de barro e agua de Panopeus na Fócida, e Atena insuflou vida neles.
Contam ainda que o Deus de Todas as Coisas - não importa quem tenha sido, alguns o chamam de Natureza - surgiu subitamente no meio do Caos e separou a terra dos céus, a agua da terra e o ar de cima do ar de baixo. Apos desenredar os elementos, colocou-os na devida ordem, assim como podem ser encontrados agora. Ele dividiu a terra em zonas, algumas muito quentes, outras muito frias, outras temperadas, modelou-a em planícies e montanhas e a revestiu de plantas rasteiras e arvores. Acima dela, fixou o firmamento giratório enfeitado de estrelas e estabeleceu estações para os quatro ventos. Povoou as aguas com peixes, a terra com animais e o céu com o Sol, a Lua e os cinco planetas. Finalmente, fez o homem - união entre os animais que ergue o rosto para o céu e observa o Sol, a Lua e as estrelas -, a não ser que seja de fato verdade que Prometeu, filho de Japeto, tenha feito o corpo do homem com base em agua e barro, e que sua alma tenha sido fornecida por certos elementos divinos errantes, sobreviventes da Primeira Criação.
---------------
Na Teogonia de Hesíodo - em que se baseia o primeiro destes mitos filosóficos -, a lista de abstrações é confundida pelas nereidas, pelos titãs e pelos gigantes, os quais ele se sente na obrigação de incluir. Tanto as três Parcas quanto as três Hesperides constituem a deusa-Lua tripla em seu aspecto de morte.
Quanto ao segundo mito, encontrado apenas em Ovídio, os gregos tardios tomaram-no emprestado da epopeia babilônica de Gilgamesh, cuja introdução registra a criação particular da deusa Aruru do primeiro homem, Eabini, a partir de um pedaço de argila. Mas, embora Zeus houvesse sido o Senhor Universal por vários séculos, os mitógrafos viram-se forçados a admitir que o Criador de todas as coisas pode bem ter sido uma Criadora. Os judeus, como herdeiros do mito "pelasgo" ou cananeu, sentiram o mesmo embaraço. No relato do Genesis, um "Espirito do Senhor" fêmeo move-se por cima das águas, embora não ponha o ovo do mundo; e Eva, "a Mãe de Todos os Viventes", recebe a ordem de esmagar a cabeça da Serpente, embora esta não se veja obrigada a descer até às Profundezas do fim do mundo.
De maneira semelhante, na versão talmúdica da Criação, o arcanjo Miguel - a contraparte de Prometeu - forma Adão a partir do pó atendendo as ordens não da Mãe de Todos os Viventes, mas de Jeová. Jeová então insufla vida nele e o da a Eva, que, como Pandora, traz prejuízos à humanidade. Os filósofos gregos diferenciaram o homem prometeico da imperfeita criação nascida da terra, parcialmente destruída por Zeus e cujo resto foi levado pela agua durante o dilúvio de Deucalião. Uma diferenciação muito semelhante pode ser encontrada no Genesis VI. 2-4 entre os "filhos de Deus" e as "filhas dos homens" com quem eles se casavam.
As tábuas de Gilgamesh são tardias e equivocas. La acredita-se que a "Brilhante Mãe do Vazio" tenha formado tudo - "Aruru" é apenas um dos numerosos títulos dessa deusa -, e o tema principal é a revolta contra a ordem matriarcal, descrita como uma confusão absoluta provocada pelos deuses da nova ordem patriarcal. Marduk, o deus-cidade babilônico, finalmente derrota a deusa na pessoa de Tiamat, a Serpente do Mar. E, então, anuncia-se descaradamente que ele, e ninguém mais, criara as plantas, as terras, os rios, os animais, os pássaros e a humanidade. Esse Marduk foi uma divindade menor que subitamente ascendeu, cuja alegação de ter derrotado Tiamat e criado o mundo havia sido feita antes pelo deus Bel - uma forma masculina de Belili, a deusa-mae suméria. A transição do matriarcado para o patriarcado parece ter ocorrido na Mesopotâmia, assim como em outros lugares, devido à revolta do consorte da Rainha, a quem ela havia outorgado o poder executivo, permitindo-lhe usar seu nome, suas vestes e seus instrumentos sagrados.

As amazonas pertencem ao domínio da transgressão. Essas guerreiras mitológicas simplesmente desprezavam os valores femininos vigentes na Antiguidade. Por isso, os gregos as viam como um desafio a qualquer "lei natural" ou social. Mais ainda, como um mal encarnado e ambíguo, que causava repulsa e, ao mesmo tempo, seduzia os homens. De fato, elas tinham em si uma centelha revolucionária, capaz de virar pelo avesso todas as certezas da sociedade grega. No mundo real, a mulher era sempre um ser menor, e sua função essencial era parir os futuros cidadãos da Grécia. O homem e a mulher eram complementares, mas sua natureza, de acordo com a vontade dos deuses, era essencialmente diferente, daí serem considerados unicamente viris o trabalho no campo, a caça, o treino desportivo e a guerra. Por extensão, as gregas também eram alijadas do poder político.
As virtudes femininas eram a obediência e o pudor. Um texto de Aristóteles evoca bem o modo como os gregos justificavam pela ordem natural as relações entre sexos e define por antítese o que seria impossível para a mulher:
"A natureza criou um sexo forte e um sexo frágil. O primeiro, em razão da sua virilidade, está mais apto a afastar os adversários, o segundo está mais apto a realizar-se sob a guarda masculina, devido a uma tendência natural para o medo. O primeiro traz para o domicílio os bens do exterior, o segundo vela sobre o que está em casa".
O texto prossegue da seguinte forma:
"Na divisão do trabalho, o primeiro, menos afeito ao descanso, encontra prazer no movimento. O segundo está mais apto a levar uma vida sedentária e não tem forças suficientes para a vida ao ar livre. Enfim, se os dois sexos participam na geração das crianças, o bem destas últimas irá exigir de cada um dos pais um papel particular: a mulher terá a função de alimentá-las, o homem, a de educá-las".
A amazona é aquela que recusa essa distribuição de competências, pois pura e simplesmente eliminou os homens de sua estrutura política e social. Na Ilíada, essas guerreiras são chamadas por Homero de antianeira (anti-homem). O prefixo grego anti, nesse caso, pode ter o sentido de "contra" o homem, mas também de "igual" a ele.
Representadas sempre como guerreiras e caçadoras, desde pequenas montavam cavalos (com as pernas abertas) e aprendiam a manejar o arco, o dardo, a espada e o machado de combate. Para atirar melhor, elas cauterizavam (ou cortavam) o seio direito, o que, para Hipócrates, "desloca toda a força e desenvolvimento para o ombro e braço".
O nome das fabulosas criaturas vem dessa prática: a-mazos significa "sem seio". Por alguma razão, porém, a iconografia disponível costuma mostrá-las com os dois seios intactos. Além do significado prático, a mutilação do seio tem um aspecto simbólico: elas permaneciam mulheres pelo lado esquerdo e tornavam-se homens pelo direito.
As guerreiras veneravam Ártemis, que, como elas, habitava os espaços selvagens, recusava a sociedade dos homens e dedicava seus dias à caça. Os relatos antigos sobre esses lendários seres informam que sua sociedade era dividida geralmente em duas tribos, cada qual com sua rainha. Enquanto uma estava ocupada com a guerra, a outra permanecia sedentária, para proteger seu povo. Sua hipotética "cidade" chamava-se Themiscrya, situada além do mar Negro, às margens do rio Termodonte.
As amazonas podiam fazer longínquas incursões. São atribuídas a elas invasões na Ásia Menor e na Grécia. Em uma delas, Myrina, à frente de 20 mil guerreiras a cavalo e 3 mil a pé, declarou guerra aos habitantes de Atlântida, tomou conta da cidade, massacrou os homens prendeu mulheres e crianças. Elas eram temidas por andarem armadas e em bandos, mas também porque, não aceitando a presença de homens em seu meio, acasalavam como os animais, desprezando as regras do casamento entre humanos. Uma vez por ano, se entregavam aos povos vizinhos e obrigavam os homens a ter relações com elas. Tudo acontecia aleatoriamente, na escuridão, de modo que não pudessem reconhecer seus parceiros. Eram elas que violentavam e "usavam" os homens.
Quando nasciam as crianças, conservavam as meninas e matavam os meninos. Recusavam-se a amamentar as filhas, com medo de deformar os seios, e criavam-nas com leite de égua.
Não conheciam a navegação nem a cultura dos cereais - daí vem a outra etimologia proposta para seu nome, a-maza também quer dizer "sem cevada". Alimentavam-se de carne crua.
Para os gregos, as amazonas não pertenciam apenas ao domínio da lenda. Muitos escritores procuraram emprestar fundamentos históricos às aventuras das guerreiras anti-homens.
Heródoto consagrou-lhes inúmeros capítulos da obra Investigações. Segundo ele, quando os gregos conduzidos por Hércules voltaram para tomar o cinturão de Hipólita, trouxeram amazonas como prisioneiras. Elas reagiram em dado momento, mataram-nos e jogaram os corpos no mar.
Ignorando tudo o que dizia respeito a navios e navegação, as mulheres deixaram então que a embarcação seguisse à deriva até encalhar no território dos citas, que viram no episódio uma ameaça de invasão. Partiram para o ataque, até perceber que os "inimigos" eram mulheres. Decidiram, então, "domesticá-las", para gerar filhos corajosos. As amazonas aceitaram se unir aos jovens citas, mas logo tomaram as rédeas da coabitação: eles foram obrigados a deixar seu país e suas famílias para acompanhá-las até suas terras.
As amazonas foram reencontradas em textos históricos posteriores. Por três vezes, entre 331 e 324 a.e.c., os exércitos de Alexandre, o Grande, encontraram as guerreiras. Sua rainha, Talestris, foi ao encontro do rei macedônio e passou 13 noites com ele.
Em 63 a.e.c., o general romano Pompeu, perseguindo o rei Mitridates, chegou ao pé das montanhas do Cáucaso, onde enfrentou os albaneses. Após o combate, encontrou sobre o campo de batalha escudos leves e sandálias femininas. De acordo com algumas fontes, entre os prisioneiros de guerra encontravam-se inúmeras mulheres que, por falta de termo melhor, os romanos chamaram de amazonas.
Nestes dois últimos exemplos, há uma grande distância entre as mulheres-soldados e as lendárias amazonas. Mas, penetrando em terras distantes, onde mal conheciam os povos e costumes, os ocidentais enfrentaram exércitos locais em que as mulheres combatiam como os homens - por falta de outra referência, gregos e romanos viram nelas a encarnação das guerreiras mitológicas.
Na literatura, as amazonas foram protagonistas de algumas histórias imortais. Em uma delas, Teseu, tendo acompanhado Héracles (ou Hércules) em sua expedição até o reino das guerreiras, foi seduzido pela beleza de uma delas, Antíope. Sob o pretexto de lhe mostrar seu navio, ele a levou a bordo e zarpou imediatamente rumo a Atenas.
Furiosas com o rapto, as amazonas atacaram a cidade tempos depois. Teseu conseguiu convencer seus compatriotas a enfrentar o temível exército feminino, e começou uma batalha aos pés da colina de Pnyx. No começo, elas levaram vantagem e perseguiram os adversários fora dos muros de Atenas. Depois os homens adquiriram vantagem e venceram a guerra. Antíope morreu atravessada por um dardo durante o conflito. Ela tivera tempo de dar a Teseu um filho, Hipólito, que herdou da mãe o gosto pela caça e era muito casto. - C. S.

Conforme os pelasgos, a deusa Atena nasceu às margens do lago Tritônis, na Líbia, onde foi encontrada e criada pelas três ninfas da Líbia, que se vestem com pele de cabra. Em sua infância, ela matou acidentalmente sua amiguinha Palas, enquanto brincavam de lutar com lança e escudo, e, como sinal de sua tristeza, colocou o nome de Palas antes do seu. Chegando à Grécia após passar por Creta, ela viveu primeiramente na cidade de Atenas, às margens do rio Tritão, na Beócia.
Platão identificou Atena, padroeira de Atenas, com a deusa líbia Neith, que pertencia a uma época em que a paternidade não era reconhecida. Neith tinha um templo em Saïs, onde Sólon foi bem tratado só porque era ateniense. As sacerdotisas-virgens de Neith entregavam-se a cada ano a um combate armado, que valia, ao que tudo indica, a posição de sacerdotisa-superior. O relato de Apolodoro sobre a luta entre Atena e Palas é uma versão patriarcal tardia: ele diz que Atena, nascida de Zeus e criada pelo deus fluvial Tritão, matou acidentalmente sua irmã de criação Palas, filha do rio Tritão, porque Zeus interveio com sua égide no momento em que Palas estava prestes a ferir Atena, distraindo, então, sua atenção. Porém, a égide - uma bolsa mágica de pele de cabra contendo uma serpente e protegida por uma máscara gorgônea - pertencia a Atena muito antes de Zeus ter alegado ser seu pai. Aventais de pele de cabra eram a roupa habitual das meninas líbias, e Pallas significa somente "virgem" ou "jovem". Heródoto escreve:
"Os gregos tomaram emprestadas as roupas e a égide de Atena das mulheres líbias, que se vestiam exatamente da mesma maneira, exceto pelo fato de suas roupas de couro eram guarnecidas com tiras, e não com serpentes."(Heródoto IV 189)
As meninas etíopes ainda envergavam essa roupa, que é por vezes ornamentada com búzios, um símbolo jônico. Heródoto acrescenta, nessa passagem, que os gritos estridentes de triunfo olulu ololu, proferidos em homenagem a Atena (Ilíada VI. 297-301), eram de origem líbia. Tritone significa "a terceira rainha": ou seja, o membro mais velho da tríade - mãe da virgem que combateu Palas e da ninfa em que ela se transformou -, assim como Core/Perséfone, era filha de Demeter.
Cerâmicas descobertas sugerem uma imigração líbia para Creta em 4000 a.e.c. Um grande número de líbios, adoradores da deusa, refugiados do delta ocidental, parece ter chegado lá quando o Alto e Baixo Egito encontravam-se compulsoriamente unidos sob a Primeira Dinastia, em torno do ano 3000 a.e.c. A primeira Era Minóia começou logo depois, e a cultura cretense difundiu-se pela Trácia e pela Grécia Heládica primitiva.
Entre outros personagens mitológicos chamados Palas, havia o titã que se casou com as águas do rio Estige, gerando, assim, Zelo "o ardor", Crato "o Poder", Bia "a Violência" e Nike a "Vitória". Ele era talvez uma alegoria do golfinho pelópida, consagrado à deusa-Lua. Homero chama um outro Palas de "pai da Lua". Um terceiro deu origem aos cinquenta palântidas, inimigos de Teseu, que parecem ter originalmente lutado contra sacerdotisas a serviço de Atena. Um quarto Palas foi descrito como sendo o pai de Atena.

Titanomaquia: A Guerra dos Titãs - Não há crônica, antiga ou moderna, que refira de maneira exata todos os feitos e lances heróicos desta que foi a verdadeira primeira guerra mundial. Ela é demasiado antiga e perde-se na noite dos tempos. Só podemos nos basear no que dela referiram alguns comentadores tardios, como Hesíodo. Ainda sim ela houve: os sinais, por tudo, são demais evidentes. A própria geologia comprova que as extintas divindades de outrora - personificações, talvez, dos elementos em estado caótico - se engalfinharam um dia numa luta impiedosa, revolvendo no embate o Céu, a Terra e os mares.
Esta gigantesca querela teve início com a pretensão de um filho rebelde, chamado Zeus, sobre o poder supremo que estava em mãos de uma divindade cruel e despótica, chamada Crono. Mas quem foram as partes deste espantoso embate? De um lado, liderados por Crono, estavam ele e seus irmãos, os poderosos Titãs "filhos da Terra". Do outro, Zeus, o filho insubmisso, e seus irmãos, além de algumas defecções titânicas que se alistaram à causa rebelde, tais como o Oceano e o filho de Japeto, Prometeu.
Os Deuses da segunda geração, liderados por Zeus, foram organizar seu ataque no monte Olimpo (daí serem chamados de "deuses olímpicos"), enquanto os Titãs, abrigados no monte Ótris, tramavam a sua defesa. Numa dia incerto, que nenhum calculo humano pode aproximar, deu-se o primeiro lance desta refrega colossal, que os anais bélicos da humanidade batizaram de Titanomaquia ou "Guerra dos Titãs". Uma imensa massa negra de nuvens destacou-se dos limites extremos do Olimpo e começou a marchar, num estrondo feroz de carros de guerra que rondam pelos céus. O empíreo escureceu de tal forma que o Caos parecia haver gerado de seu ventre uma segunda noite, ainda mais negra e tétrica do que a primeira.
De dentro desta montanha alada, da cor do ferro, partiam raios tão ofuscantes (novidade horripilante inventada pelos Ciclopes, aliados de Zeus, que este libertara do Tártaro), que por alguns instantes brevíssimos não havia em todo o Universo a menor parcela de escuridão. Mas logo o negror da noite tombava outra vez sobre a Terra, e a alma de tudo quanto vivia agachava-se, oprimida por indizível pavor.
Ocultos acima dessa nuvem prodigiosa, Zeus, e seus aliados caíram finalmente sobre seus inimigos. Os Titãs, contudo, bem protegidos em suas trincheiras, começaram a enterrar suas unhas duras e compridas como gigantescas pás de bronze até as profundezas do solo, para dali arrancarem pela raiz, com pavoroso estrondo, montanhas inteiras, que arremessavam em seguida contra os deuses olímpicos.
Uma voz espantosa ecoou, vinda do alto, sobrepondo-se à massa inteira de ruídos:
- Irmãos da nobre causa, desçamos até onde rastejam estes vermes! - Disse Zeus e, junto com seus aliados, saltou das nuvens com as vestes guerreiras, dando grandes brados de fúria. Seus escudos refulgiam na queda como tremendos sóis prateados, enquanto suas lanças, brandidas com fúria, pareciam a raios retilíneos que cada qual portasse com destemor infinito.
- Amantes da nobre verdade, recebamos estas aves de rapina que descem dos céus, tal como elas merecem! - bradou outra voz, desta vez de Crono, encorajando os seus Titãs.
Quando os depois exércitos se misturaram, um ruído mais feroz do que qualquer outro jamais escutado fez-se ouvir, então, por todo Universo. A terra inteira sacudia-se em tremores, levantando-se de dentro dela imensas labaredas de fogo e de pez. Posídon, com seu tridente aceso, fazia ferver os mares, e por toda parte não havia um único bosque que não tivesse sido varrido pelo assobio endemoniado de uma tórrida ventania.
Os combatentes, misturados num pavoroso atraque corporal - atirando às cegas, uns contra os outros, cutiladas, raios, rochas imensas, vapores sufocantes e dentadas -, assim estiveram por uma eternidade, até que Zeus, temendo que a vitória estivesse pendendo para o inimigo, anunciou um novo propósito:
- Companheiros, libertemos do Tártaro profundo os poderosos Hecatônquiros! - Hecatônquiros. Esses Terríveis seres haviam sido aprisionados por Crono nas profundezas da terra e, uma vez libertos, espalhariam o terror entre as hostes inimigas.
Zeus, auxiliado pelos seus, desceu até as tênebras profundas e, após romper com os grilhões que mantinham estas colossais criaturas presas ao abismo, subiu com elas à superfície. Uma fenda enorme rasgou-se sob o chão; imediatamente um vapor negro subiu da cratera num jato hediondo, até envolver o próprio sol. tudo estava envolto numa treva sufocante, quando todos sentiram um baque formidável sacudir o solo. Um tufão poderoso surgiu em seguida, varrendo fora a fuligem espessa e deixando à mostra, sobre a superfície, os três Hecatônquiros, postados lado a lado. A arte dos antigos não nos deixou nenhuma imagem do que seriam tais divindades, porém as descrições nos afirmam que se tratavam de seres "enormes como a mais alta das montanhas" e que possuíam "cem olhos e cinqüenta cabeças".
Um urro colossal, partido das cento e cinqüenta bocas, atroou todo o Universo. As criaturas, empunhando rochedos imensos, lançaram sobre os apavorados Titãs trezentas montanhas, sepultando-os vivos sob os escombros. Em seguida os Ciclopes os acorrentaram com suas pesadas correntes, encerrando-os para sempre nas profundezas do Tártaro, de onde jamais tornariam a sair, vigiados pelos invencíveis Hecatônquiros.
Esta, em resumo, foi a primeira batalha que o Universo conheceu, e da qual saiu vitorioso Zeus, o novo soberano do Universo, para reinar como pai dos deuses sobre todos os homens e as demais divindades.
Terminada a refrega, os três grandes deuses receberam por sorteio seus respectivos domínios: Zeus obteve o Céu; Posídon,o mar; Hades Plutão, o mundo subterrâneo ou Hades, ficando, porém, Zeus com a supremacia do Universo.
Gigantomaquia: A Guerra dos Gigantes - Geia, ficou profundamente irritada contra os Olímpicos por lhe terem lançado os filhos, os Titãs, no Tártaro, e excitou contra os vencedores os terríveis Gigantes, nascidos do sangue de Urano caído na terra ao ser castrado por Crono.
Os Gigantes foram gerados por Geia para vingar os Titãs, que Zeus havia lançado no Tártaro. Eram seres imensos, prodigiosamente fortes, de espessa cabeleira e barba hirsuta, o corpo horrendo, cujas pernas tinham a forma de serpente. Tão logo nasceram, começaram a jogar para o céu árvores inflamadas e rochedos imensos. Os deuses prepararam-se para o combate. A princípio lutavam somente Zeus e Palas Atena, armados com a égide, o raio e a lança. Já que os Gigantes só podiam ser mortos por um deus com o auxílio de um mortal, Héracles passou a tomar parte no combate. Apareceu também Dionísio, armado com um tirso e tochas, e secundado pelos Sátiros. Aos poucos o mito se enriqueceu e surgiram outros deuses que vieram em socorro de Zeus.
Os mitógrafos destacam nessa luta treze Gigantes, embora seu número tenha sido muito maior. Alcione foi morto por Héracles, auxiliado por Atena, que aconselhou o herói arrastá-lo para longe de Palene, sua cidade natal, porque, cada vez que o Gigante caía recobrava as forças, por tocar a terra, de onde havia saído.
Porfírio atacou a Héracles e Hera, mas Zeus inspirou-lhe um desejo ardente por esta e enquanto o monstro tentava arrancar-lhe as vestes, Zeus o fulminou com um raio e Héracles acabou com ele a flechadas. Efialtes foi morto por uma flecha de Apolo no olho esquerdo e por uma outra de Héracles no direito. Êurito foi eliminado por Dionísio, com um golpe de tirso; Hécate acabou com Clício a golpes de tocha; Mimas foi liquidado por Hefesto, com ferro em brasa. Encélado fugiu, mas Atena jogou em cima dele a ilha de Sicília; a mesma Atena escorchou a Palas e se serviu da pele do mesmo, como uma couraça, até o fim da luta. Polibotes foi perseguido por Posídon através das ondas do mar até a ilha de Cós. O deus, enfurecido quebrou um pedaço da ilha de Nisiro e lançou-o sobre o Gigante, esmagando-o. Hermes usando o capacete de Hades, que o tornava invisível, matou Hipólito, enquanto Artemis liquidava Grátion. As Moiras mataram Ágrio e Toas. Zeus, com seus raios, fulminou os restantes e Héracles acabou de liquidá-los a flechadas.
A Gigantomaquia quer dizer, a luta dos Gigantes, foi travada na Trácia, segundo uns, segundo outros na Arcádia, às margens do rio Alfeu.
Seres ctônios, os Gigantes simbolizam o predomínio das forças nascidas da Terra, por seu gigantismo material e indigência espiritual. Imagem da Hýbris, do descomedimento, em proveito dos instintos físicos e brutais, renovam a luta dos Titãs. Não podiam ser vencidos, como se viu, a não ser pela conjugação de forças de um deus e de um mortal. O próprio Zeus necessita de Héracles, ainda não imortalizado, para liquidar Porfírio; Efialtes foi morto por Apolo e Héracles. Todos os Olímpicos, adversários dos Titãs, Atena, Hera, Dionisio, Posídon... deixam sempre ao mortal a tarefa de acabar com o monstro. A idéia parece clara: na luta contra a "bestialidade terrestre", Deus tem necessidade do homem tanto quanto esse precisa de Deus. A evolução da vida para uma espiritualização crescente e progressiva é o verdadeiro combate dos gigantes. Esta evidência implica, todavia, num esforço do alto, para triunfar das tendências involutivas e regressivas ao heroísmo humano. O Gigante representa tudo quanto o homem terá que vencer para liberar e fazer desabrochar sua personalidade.
Tifão, a última prova de Zeus - Geia, num esforço derradeiro, uniu-se a Tártaro, e gerou o mais horrendo e terrível dos monstros, Tifão ou Tifeu.
Tifão era um meio-termo entre um ser humano e uma fera terrível e medonha. Em altura e força excedia a todos os outros filhos e descendentes de Geia. Era mais alto que as montanhas e sua cabeça tocava as estrelas. Quando abria os braços, uma das mãos tocava o Oriente e a outra o Ocidente e em lugar de dedos possuía cem cabeças de dragões. Hesíodo ainda é mais preciso:
De suas espáduas emergiam cem cabeças de serpentes, de um pavoroso dragão, dardejando línguas enegrecidas; de seus olhos, sob as sobrancelhas, se desprendiam clarões de fogo...
Da cintura para baixo tinha o corpo cemadado de víboras. Era alado e seus olhos lançavam línguas de fogo. Quando os deuses viram tão horrenda criatura encaminhar-se para o Olimpo, fugiram espavoridos para o Egito, escondendo-se no deserto, tendo cada um tomado uma forma animal: Apolo metamorfoseou-se em milhafre; Hera, em um boi. Zeus e sua filha Atena foram os únicos a resistir ao monstro. O vencedor de Crono lançou contra Tifão um raio, o perseguiu e feriu com uma foice de sílex. O gigantesco filho de Geia e Tártaro fugiu para o monte Cásico, nos confins do Egito com a Arábia Petréia, onde se travou um combate corpo a corpo. Facilmente Tifão desarmou Zeus e com a foice cortou-lhe os tendões dos braços e dos pés e, colocando-o inerme e indefeso sobre os ombros, levou-o para a Cilícia e o aprisionou na gruta Corícia. Escondeu os tendões do deus numa pele de urso e os pôs sob a guarda do dragão-fêmea Delfine. Mas o deus Pã, com seus gritos que causavam pânico, e Hermes, com sua astúcia costumeira, assustaram Delfine e apossaram-se dos tendões do pai dos deuses e dos homens. Este recuperou, de imediato, suas forças, e, escalando o Céu num carro tirado por cavalos alados, recomeçou a luta, lançando contra o inimigo uma chuva de raios. O gigante refugiou-se no monte Nisa, onde as Moiras lhe ofereceram "frutos efêmeros", prometendo-lhe que aqueles lhe fariam recuperar as forças: na realidade, elas o estavam condenando a uma morte próxima.
Tifão atingiu o monte Hêmon, na Trácia, e agarrando montanhas, lançava-as contra o deus. Este, interpondo-lhes seus raios, as atirava contra o adversário, ferindo-o profundamente. As torrentes de sangue que corriam do corpo de Tifão deram nome ao monte Hêmon, uma vez que, em grego, sangue se diz (haima). O filho de Geia fugiu para a Sicília, mas Zeus o esmagou, arremessando sobre ele o monte Etna, que até hoje vomita suas chamas, traindo lá embaixo a presença do monstro: essas chamas provêm dos raios com que o novo soberano do Olimpo o abateu.

Existem muitos mitos gregos sobre a origem de várias árvores, flores e outras plantas. A maior parte deles envolve metamorfoses de seres humanos que passam a ter uma forma vegetal; ocasionalmente, uma ninfa, como Dafne, também é transformada numa planta. Estas metamorfoses são irreversíveis. É muito raro na mitologia grega a transformação numa planta funcionar como uma recompensa, como acontece na estória de Báucis e Filémon. É muito mais freqüente a criação de uma nova planta ser ocasião para uma celebração amarga e doce. Na mitologia grega, nem mesmo os deuses conseguem repor a vida de um mortal quando a perde, mas, por vezes, como última escolha, homenageiam para sempre os amigos e os amantes queridos na forma de alguma nova planta.
Por vezes, a transformação de pessoas em plantas ocorre como uma punição, até mesmo um castigo auto-imposto, como no caso de Narciso, em que o insensato ser humano desperdiçou a sua preciosa vida, que não lhe podia ser dada novamente. A flor narciso, que nasce de novo todos os anos, troça da sua leviandade, ao mesmo tempo que homenageia a sua beleza.
Eco e Narciso
Narciso era filho da náiade Liríope e de um deus rio, Cefiso, o deus do mesmo rio em que Deucalião e Pirra se purificaram antes de se tornarem pais de uma nova raça humana, após o dilúvio. Aquando do nascimento de Narciso, o adivinho Tirésias profetizou que ele viveria por muito tempo, desde que nunca se visse a si mesmo.
Ninguém sabia o que esta profecia significava, mas tornou-se claro demasiado tarde, quando ele estava entre a adolescência e a idade adulta.
Narciso era o mais belo dos jovens pelo que despertava muitos desejos sexuais, ao que ele não ligava qualquer importância. Mantinha-se afastado, preferindo caçar animais selvagens do que desfrutar da companhia dos humanos ou das ninfas. Um dia, a ninfa Eco encontrou-o e apaixonou-se por ele de imediato e profundamente. Ela era uma ninfa e tinha sido amaldiçoada com o costume de não dizer nada de novo e apenas repetir a última parte do que outra pessoa dissesse ao seu ouvido. Esta maldição tinha-lhe sido lançada por Hera (Juno), rainha dos deuses, porque a tagarela Eco a tinha distraído demasiadas vezes, impedindo-a de se aperceber do indomável marido a divertir-se com outras ninfas. «Podes continuar uma tagarela», disse Hera, «mas nada do que disseres será da tua autoria.»
Eco esforçou-se por dizer a Narciso o quanto o amava, mas tinha de ficar em silêncio até ecoar o que alguém dissesse e esperando que essa pessoa desse voz ao desejo dela. Narciso ouviu um sussurro entre as árvores e perguntou: «Está alguém nos arbustos?»
Eco respondeu:
«Nos arbustos.»
E Narciso exigiu:
«Sai e deixa-me ver-te!»
E ela respondeu: «Deixa-me ver-te!»
A seguir ela saiu detrás dos arbustos e avançou para ele abraçando-o.
Por momentos, Narciso ficou demasiado surpreendido e não fez nada, mas, logo a seguir, empurrou-a dizendo:
«Tira as tuas mãos de cima de mim! Metes-me nojo! Nunca mais ouses tocar-me assim!»
E tudo o que a pobre Eco conseguiu dizer foi: «Tocar-me assim!»
Eco definhou por amor a Narciso. Deixou de comer, afastou-se das outras ninfas e, finalmente, o seu corpo desapareceu. Tudo o que restou dela foi a voz, que continua a repetir a última coisa que alguém diz. Narciso não se abalou nada com o desgosto de Eco, nem com o de centenas de outras cujo amor rejeitou. Um dia, alguém que suspirava por Narciso apanhou uma fúria e pediu aos deuses que o enfadado rapaz se apaixonasse por quem o tratasse tão mal como ele tratava as outras.
Houve um dia em que ele foi caçar, como de costume, e começou a sentir sede, pois a tarde estava quente. Encontrou uma lagoa, ajoelhou-se para beber mas viu a sua imagem nas águas paradas e ficou de imediato apaixonado. Tentou convencer-se de que a imagem que vira na lagoa era a de outra pessoa, alguém que para troçar dele imitava os seus movimentos. Narciso estendeu uma mão para tocar o amado rapaz que estava na água, e o rapaz estendeu a mão em resposta, mas em vez de dedos quentes, o que ele sentiu foi apenas a água. Tentou beijar o seu amado, mas por mais que mergulhasse o rosto na água, aos seus lábios só chegava água. Narciso deixou de comer, deixou de dormir e não podia afastar-se da lagoa. Ele sabia que estava apaixonado pelo seu próprio reflexo, mas o seu coração ignorava tudo o que ele lhe dizia. Ele desejou separar-se dele próprio, para poder amar-se a si mesmo como desejava tão ardentemente. Narciso começou a definhar como tinha acontecido a Eco, até estar prestes a morrer.
Então Eco voltou à lagoa, para ouvir o seu amado Narciso pela última vez. «Sou tão infeliz», gemeu ele, e Eco respondeu: «Sou tão infeliz.»
Narciso lamentou-se: «O meu amor é fútil.»
E Eco retorquiu: «O meu amor é fútil.» Ele já não tinha forças para falar e não tardou a morrer.
As ninfas choravam sobre aquele corpo desperdiçado e preparavam-no para os ritos fúnebres, mas quando terminaram, o corpo tinha desaparecido. Tinha-se transformado numa flor branca e amarela, com pétalas em forma de trompeta, que floresce no início da primavera. Foi assim que nasceu o primeiro Narciso.
Apolo e Jacinto
Os homens e mulheres mortais que os deuses desejaram, normalmente morreram jovens, algumas vezes por terem rejeitado as investidas dos deuses e outras vezes porque algum outro deus ciumento decidiu puni-los. Jacinto morreu porque dois deuses se apaixonaram por ele ao mesmo tempo.
Ele era filho do rei Amiclas e da rainha Diomede e tornou-se famoso em toda a Lacônia pela sua beleza. Apolo apaixonou-se por ele e o mesmo aconteceu com Zéfiro, o rei do vento de oeste. Num dia quente de verão, Jacinto e Apolo estavam a jogar à malha, quando Zéfiro se meteu no jogo. Soprou tão violentamente a malha que Apolo tinha lançado, que esta foi bater com toda a força na cabeça de Jacinto tendo-lhe provocado a morte imediata. Apolo chorou sobre o corpo do belo rapaz, e transformou o sangue dele que caiu no solo numa flor, o jacinto. Nas suas pétalas podem ver-se as letras «AI», que também em grego são um lamento. Quando Jacinto morreu, o deus não pôde trazê-lo de volta à vida como ser humano, mas a planta jacinto morre em cada verão quente, como se fosse morta pelo Sol, e renasce na primavera do ano seguinte.
Apolo e Clítia
Afrodite (Vênus) decidiu que Apolo andava a imiscuir-se demais nos assuntos dela. Tinha sido ele que tinha contado ao marido Hefesto (Vulcano) do amor dela por Ares (Marte) e, como punição, ela pediu ao filho Eros (Cupido) para atirar uma flecha de amor sobre o deus Sol. Após ser atingido pela seta de Eros, Apolo apaixonou-se de imediato por Leucótoe, princesa da Pérsia e disfarçou-se da mãe dela. Ordenou então aos servos que saíssem do quarto e revelou-se a Leucótoe como um deus. Que mais podia ela fazer para além de se submeter e chorar?
A irmã de Leucótoe, Clítia, desejava Apolo também apaixonadamente, mas o deus Sol só se interessava pela sua amada Leucótoe. Naquela noite, quando ela se convenceu de que Apolo não queria saber dela, Clítia correu para junto do pai, o rei Oceano, e dominada pelos ciúmes contou-lhe que a irmã tinha um amante secreto. O rei sentenciou que Leucótoe fosse queimada viva imediatamente sob um monte de areia. Na manhã seguinte, Apolo olhou lá de cima do seu carro e viu o que tinha acontecido. Espalhou a areia, mas era tarde demais. Leucótoe estava esmagada e morta. A única coisa que o deus pôde fazer foi transformar o seu corpo sem vida numa nova planta, o incenso, cuja seiva aromática era queimada nos templos de Apolo.
Clítia sonhava que Apolo se pudesse apaixonar por ela agora que a irmã rival estava morta, mas ele odiava-a pelo que tinha feito. Clitia não podia comer nem beber, nem dormir e a única coisa que podia fazer era chorar toda a noite e ficar sentada ao Sol durante todo o dia, virando a cabeça para ver Apolo no seu carro. Após nove dias, as pernas transformaram-se em raízes e o fino corpo metamorfoseou-se num caule alto e fino, enquanto a cabeça se tornou numa flor dourada. Tinha-se tornado no primeiro girassol, uma planta cujas flores seguem os passos do Sol.
Báucis e Filémon
Freqüentemente, os deuses gostavam de se disfarçar de seres humanos, para investigar crimes, dar conselhos aos heróis e testar a devoção do povo. Um dia, Zeus (Júpiter) e o filho Hermes (Mercúrio) desceram à Terra, em Frígia, disfarçados de pessoas comuns e começaram a procurar um lugar para passarem a noite. Era dever de todos os Gregos serem hospitaleiros para os estranhos, mas os dois deuses tiveram de tentar muitas casas antes de encontrarem uma que os deixasse entrar. Era a mais pobre de todas, feita de lama, colmo e canas, e estava prestes a desmoronar-se no lamaceiro em que se erguia. Um casal idoso abriu imediatamente a porta da casa convidando os deuses a entrarem, enquanto pediam desculpa pela pobreza em que viviam. A mulher idosa, Báucis, pegou num bocado de presunto que há muito se encontrava pendurado no teto e cortou uma boa dose para fazer um guisado. O marido, Filémon, foi buscar todas as achas que tinha para fazer uma fogueira, depois foi à horta e apanhou os legumes e a fruta que encontrou, para os juntar ao guisado. Em seguida o casal deu água aos deuses para se lavarem e puseram as roupas de festa já muito remendadas no único colchão que tinham, esperando que os hóspedes inesperados se sentissem bem-vindos.
A mesa oscilava por todo o lado, o colchão estava gasto e as roupas de festa eram usadas, mas Báucis limpara a mesa com hortelã e colocara sobre ela toda a comida que tinha em casa: ovos, fruta, queijo, legumes frescos e depois o guisado de presunto e vegetais. Serviu vinho e água, e quando todos tinham comido, ofereceu aos hóspedes frutos secos e bagas, tâmaras e maçãs, e mel acabado de tirar da colmeia. Ela receava que, no fim da refeição, os convidados ainda tivessem fome e sede, mas não havia mais nada em casa que pudesse oferecer. Então ela reparou que o jarro do vinho continuava cheio, embora Filémon tivesse enchido as taças dos convidados várias vezes. Ela e o marido ajoelharam-se lado a lado, orando para que os visitantes divinos tivessem aceite a humilde refeição.
Filémon teve de repente uma idéia. Podia matar o ganso que guardava a cabana e que os avisava da chegada de visitantes com o seu grasnar incessante, e cozinhá-lo em honra destes convidados extraordinários. Filémon saiu para ir apanhar o ganso, mas a sua avançada idade tornava-o lento e o ganso correu rapidamente para dentro da casa e refugiou-se no regaço do grande Zeus. «Não mates o teu guarda fiel», disse o deus, «e não fiquem aqui mais tempo. Tencionamos vingar-nos de toda essa gente que nos virou as costas e violou assim a lei da hospitalidade a estranhos, mas vocês merecem viver. Subam a montanha connosco e não olhem para trás até chegarem ao cimo.» Báucis e Filémon levaram muito tempo a subir a montanha, e quando finalmente chegaram ao cimo olharam para trás e viram que todos os campos estavam inundados e apenas a casa deles continuava de pé, mas tinha deixado de ser uma cabana.
Em vez de lama e colmo, era agora um templo em mármore com um telhado de ouro. Zeus ofereceu a Báucis e Filémon tudo o que quisessem. «Deixem que vos sirvamos», responderam eles, «como sacerdote e sacerdotisa do vosso templo.
E depois, quando for altura de morrermos, fazei com que morramos no mesmo instante, para que nenhum de nós sofra a perda do outro.» Zeus teve muito gosto em satisfazer ambos os desejos.
Durante anos depois do ocorrido, o velho casal continuava a viver como sacerdote e sacerdotisa de Zeus, até que um dia pararam em frente do templo de mármore e constataram que não podiam continuar a andar.
As quatro pernas de ambos transformaram-se em raízes que se prenderam com firmeza ao solo e os corpos começaram a ganhar folhas. Zeus tinha satisfeito o desejo especial de ambos viverem a vida humana juntos e continuaram a viver como árvores entrelaçadas em frente do templo.

Só Zeus, o pai do Céu, podia controlar o raio. Era com a ameaça do seu lampejo fatal que controlava sua família briguenta e rebelde do monte Olimpo. Ele também ordenava os corpos celestes, compunha leis, fazia cumprir juramentos e pronunciava oráculos. Quando sua mãe Reia, prevendo os problemas que sua lascívia viria a causar, proibiu-o de se casar, ele, furioso, ameaçou viola-la. Apesar de ela imediatamente ter-se transformado em uma serpente apavorante, Zeus não se deixou intimidar, transformando-se, por sua vez, em uma serpente macho que, enrolando-se nela num no indissolúvel, cumpriu a ameaça. Foi então que começou sua longa serie de aventuras amorosas. Ele gerou as Estações e as três Moiras com Têmis; as Cárites (Graças, entre os romanos) com Eurínome; as três musas com Mnemosine, com quem partilhou o leito por nove noites; e também, diz-se, Perséfone (Proserpina, entre os romanos), a rainha do mundo subterrâneo, com a qual seu irmão Hades casou-se à força, na presença da ninfa Estige. Portanto, não lhe faltava poder acima ou abaixo da Terra, e sua mulher, Hera, estava em pé de igualdade com ele apenas num ponto: ela podia conceder o dom da profecia a qualquer homem ou animal que desejasse.
Zeus e Hera brigavam constantemente. Irritada com suas infidelidades, ela o humilhava frequentemente com suas maquinações. Embora acostumado a revelar-lhe seus segredos e, por vezes, aceitar seus conselhos, Zeus jamais confiou totalmente na esposa. Hera sabia que, caso uma ofensa ultrapassasse um certo limite, ele poderia açoita-la, ou mesmo arremessar-lhe um raio. Ela se limitava, portanto, a intrigas inescrupulosas, como, no caso do nascimento de Hercules (Héracles), e, as vezes, tomava emprestada a cinta de Afrodite, a fim de excitar a paixão do marido e, assim, aplacar sua fúria. Ele agora alegava ser o filho primogênito de Cronos.
Em um determinado momento, o orgulho e a petulância de Zeus se tornaram tão intoleráveis que Hera, Posídon, Apolo e todos os outros deuses, à exceção de Hestia, cercaram-no rapidamente enquanto dormia em seu feito e o amarraram em correias de couro cru com uma centena de nós, que o impediam de se mover. Zeus os ameaçou com morte instantânea, mas, como eles haviam colocado o raio fora de seu alcance, insultaram-no com escárnio. Enquanto celebravam a vitória e discutiam ciosamente sobre quem seria o sucessor, Tétis, a Nereida, prevendo uma guerra civil no Olimpo, apressou-se em buscar o hecatônquiro Briareu, que prontamente desfez os nós, utilizando suas cem mãos ao mesmo tempo, e libertou seu amo. Por ter sido Hera quem liderara a conspiração, Zeus a pendurou no céu com um bracelete dourado em cada pulso e uma bigorna amarrada a cada tornozelo. As outras divindades ficaram profundamente contrariadas, mas não ousaram tentar resgatá-la, apesar de seus comoventes clamores. Finalmente, Zeus comprometeu-se a libertá-la mediante o juramento de que nunca mais se rebelariam contra ele. E foi o que, com relutância, cada uma das partes fez. Zeus puniu Posídon e Apolo, mandando-os como escravos ao rei Laomedonte, para trabalhar na construção da cidade de Troia, mas perdoou os outros, por considerar que eles tinham agido sob coação.
As relações maritais entre Zeus e Hera refletem as da era dórica bárbara, em que as mulheres eram privadas de todo seu poder mágico, exceto a profecia, além de serem vistas como propriedade dos homens. Na ocasião em que o poder de Zeus foi salvo graças a ajuda de Tétis e Briareu, depois da conspiração dos outros deuses contra ele, é possível que príncipes vassalos do Alto Rei helênico tenham feito uma revolução palaciana, através da qual quase conseguiram destroná-lo. A ajuda deve ter vindo de uma companhia de tropas domesticas leais neo-helênicas, recrutadas na Macedônia, lar de Briareu, e de um destacamento de magnésios, o povo de Tétis. Nesse caso, a conspiração deve ter sido instigada pela suma sacerdotisa de Hera, que o Alto Rei, logo depois, humilhou, conforme a descrição do mito.
O fato de Zeus haver violado a deusa da Terra Réia significa que os helenos, adoradores de Zeus, passaram a controlar as cerimonias agrícolas e funerárias. O fato de ela ter proibido Zeus de se casar significa que, ate então, a monogamia era desconhecida, pois as mulheres tinham quantos amantes quisessem.
Sua paternidade sobre as Estações e sobre Têmis significa que os helenos assumiram também o controle do calendário: Têmis ("ordem") era a Grande Deusa que determinara o ano de 13 meses, dividido pelos solstícios de verão e de inverno em duas estações. Em Atenas, essas estações foram personificadas por Talo (ou Acale) e Carpo (originalmente "Carfo"), significando respectivamente "broto" e "murcho", cujo templo incluía um altar ao Dionísio Fálico. Eles aparecem em uma pedra entalhada em Hattusha, ou Pteria, onde constituem aspectos gêmeos da deusa-leão Hepta, nascida das asas de uma águia-sol bicéfala.
Carite ("graça") tinha sido a deusa em seu aspecto irresistível, na ocasião em que a suma sacerdotisa escolhia o rei sagrado como seu amante. Homero menciona duas Carites - Pasiteia e Cale, que parecem ser a separação forçada de três palavras: Pasi thea cale, "a deusa que é bela para todos os homens". As duas Carites, Auxo ("aumento") e Hegemone ("mestria'), que os atenienses honravam, correspondiam as duas Estações. Mais tarde, as Carites passaram a ser veneradas como uma tríade, a fim de se equipararem as três Moiras - a deusa tripla em sua mais irredutível forma. O fato de serem filhas de Zeus com Eurinome, a Criadora, significa que o senhor helênico tinha o poder de dispor de todos as jovens núbeis.
As musas ("deusas da montanha'), originalmente uma tríade, são a deusa tripla em sua forma orgíaca. A alegação de que Zeus era o pai delas é tardia. Hesíodo as chama de filhas da Mãe Terra e do Ar.

Por muitos anos, May se preocupou com os efeitos poderosos dos mitos sobre os indivíduos e as culturas - uma preocupação que culminou em seu livro A procura do mito (1991). May defendia que as pessoas da civilização ocidental têm uma necessidade urgente de mitos. Não tendo mitos em que acreditar, elas se voltaram para cultos religiosos, para adição a drogas e para a cultura popular, em um esforço em vão para encontrar significado em suas vidas. Os mitos não são falsidades; ao contrário, eles são sistemas de crenças conscientes e inconscientes que fornecem explicações para problemas pessoais e sociais. May (1991) comparou os mitos aos pilares de uma casa - não visíveis de fora, mas mantêm a casa íntegra e a tornam habitável.
Desde o início dos tempos e em diferentes civilizações, as pessoas encontraram significado em suas vidas por meio de mitos que compartilham com os outros em sua cultura. Mitos são as histórias que unificam uma sociedade; “eles são essenciais para o processo de manter nossas almas vivas e nos trazem um novo significado em um mundo difícil e frequentemente sem sentido” (May, 1991, p. 20).
May acreditava que as pessoas se comunicam entre si em dois níveis. O primeiro é a linguagem racional; e, nesse nível, a verdade precede as pessoas que estão se comunicando. O segundo é por meio dos mitos; e, nesse nível a experiência humana total é mais importante do que a precisão empírica da comunicação. As pessoas usam mitos e símbolos para transcender a situação concreta imediata, para expandir a autoconsciênda e para procurar identidade.
Para May (1990a, 1991), a história de Édipo é um mito poderoso em nossa cultura, porque ele contém elementos de crises existenciais comuns a todos. Tais crises incluem (1) nascimento, (2) separação ou exílio dos pais e de casa, [224] (3) união sexual com um dos pais e hostilidade em relação ao outro, (4) asserção da independência e busca pela identidade e (5) morte. O mito de Édipo tem significado para as pessoas porque ele trata de cada uma dessas cinco crises. Como Édipo, as pessoas são afastadas da mãe e do pai e impulsionadas pela necessidade de autoconhecimento. A luta pela identidade, no entanto, não é fácil e pode até mesmo resultar em tragédia, como aconteceu com Édipo quando ele insistiu em conhecer a verdade sobre suas origens. Depois de saber que havia matado seu pai e casado com sua mãe, Édipo arrancou os próprios olhos, privando-se da capacidade de ver, ou seja, de ter consciência.
Porém, a narração de Édipo não termina com a negação da consciência. Nesse ponto na trilogia de Sófocles, Édipo é mais uma vez exilado, uma experiência que May viu como simbólica do próprio isolamento e ostracismo das pessoas. Quando velho, Édipo é visto contemplando seu trágico sofrimento e aceitando a responsabilidade por matar seu pai e casar com sua mãe. Suas meditações durante a velhice lhe trazem paz, compreensão e capacidade de aceitar a morte com honra. Os temas centrais da vida de Édipo - nascimento, exílio e separação, identidade, incesto e parricídio, repressão da culpa e, finalmente, meditação consciente e morte - tocam a todos e fazem desse mito uma força de cura poderosa na vida das pessoas.
O conceito de May sobre mitos é comparável à ideia de Carl Jung de um inconsciente coletivo, em que os mitos são padrões arquetfpicos na experiência humana; eles são caminhos para imagens universais que vão além da experiência individual. E, como os arquétipos, os mitos podem contribuir para o crescimento psicológico se as pessoas os adotarem e permitirem que eles revelem uma nova realidade.
Tragicamente, muitas pessoas negam seus mitos universais e, assim, arriscam a alienação, a apatia e o vazio - os ingredientes principais da psicopatologia. [225]

Por ordem de Hera, os titãs capturaram Dionísio, filho recém-nascido de Zeus, uma criança dotada de chifres, coroada com serpentes, e, apesar de suas transformações, eles o reduziram a pedaços, os quais ferveram numa caldeira enquanto uma romã brotava do solo onde havia caído seu sangue. Mas, resgatado e reconstituído por sua avó Réia, ele retornou à vida. Perséfone, a quem Zeus encarregara de tomar conta dele, levou-o ao rei Atamante de Orcômeno e convenceu sua mulher, Ino, a criá-lo no gineceu, disfarçado de menina. Mas era impossível enganar Hera, que lançou sobre o casal real a maldição da loucura, motivo pelo qual Atamante matou seu filho Learco ao confundi-lo com um cervo.
Em seguida, por ordem de Zeus, Hermes transformou temporariamente Dionísio num cabrito, ou carneiro, e o deu de presente às ninfas Mácris, Nisa, Érato, Brômia e Baca, do monte heliconiano Nisa. Elas cuidaram dele numa cova, mimaram-no e alimentaram-no com mel, razão pela qual Zeus colocou suas imagens entre as estrelas com o nome de Híades. Foi no monte Nisa que Dionísio inventou o vinho, motivo maior de sua celebrização.
Quando cresceu e atingiu a idade adulta, Hera reconheceu Dionísio como filho de Zeus, apesar da efeminação à qual a educação que recebera o havia reduzido, e o enlouqueceu. Ele saiu vagando pelo mundo afora, acompanhado por seu tutor Sileno e um exército selvagem de sátiros e mênades (bacantes), armados de bastões enfeitados com hera e pâmpanos, com uma pinha na ponta, chamados thyrsus, além de espadas, serpentes e aerófonos“ amedrontadores. Foi para o Egito de navio, levando consigo a vinha, e, em Faros, o rei Proteu o acolheu com grande hospitalidade. Entre os líbios do delta do Nilo, do outro lado de Faros, havia certas rainhas amazonas que Dionísio convidou a marchar com ele contra os titãs, para devolver ao rei Ámon o reino do qual havia sido expulso. A derrota que Dionísio infligiu aos titãs restaurando o rei Ámon foi o primeiro de seus vários êxitos militares.
Ele então se dirigiu para o Oriente, rumo à índia. Ao chegar às margens do Eufrates, enfrentou a oposição do rei de Damasco, e esfolou-o vivo, mas construiu uma ponte de hera e vinho sobre o rio. Depois disso, um tigre enviado por seu pai Zeus ajudou-o a cruzar o rio Tigre. Mesmo enfrentando muita oposição durante o caminho, ele chegou à índia e conquistou todo o país, onde ensinou a arte da vinicultura, estabeleceu leis e fundou grandes cidades.
Ao retornar, confrontou-se com as amazonas e perseguiu uma de suas hordas até Éfeso. Algumas se refugiaram no templo de Ártemis, onde ainda vivem descendentes seus. Outras fugiram para Samos, e Dionísio as perseguiu com marcos, matando tantas que o campo de batalha recebeu o nome de Pan-haema.
Nas redondezas de Floeum morreram alguns dos elefantes que ele havia trazido Da índia, e seus ossos ainda podem ser vistos ali.
Em seguida, Dionísio voltou à Europa passando pela Frigia, onde sua avó Reia o purificou dos vários assassinatos que havia cometido durante sua loucura e o iniciou nos Mistérios. Depois ele invadiu a Trácia, porém mal havia desembarcado sua gente na foz do rio Estrimão quando Licurgo, rei dos édones, apresentou-lhe uma feroz resistência, armado com uma aguilhada, capturando todo o seu exército exceto o próprio Dionísio, que mergulhou no mar em busca de refugio na cova deTétis. Réia, ofendida com tal derrota, ajudou os prisioneiros a escapar e enlouqueceu Licurgo, fazendo com que ele golpeasse mortalmente seu próprio filho Drias com um machado, na ilusão de estar cortando uma vinha, e, antes de recuperar os sentidos, começasse a “podar” o nariz, as orelhas, os dedos das mãos e dos pés do cadáver. Todos os campos da Trácia ficaram estéreis por causa de seu crime hediondo. Quando, ao voltar do mar, Dionísio decretou que o flagelo perduraria até que alguém matasse Licurgo, os édones conduziram-no ao monte Pangeo, onde cavalos selvagens dilaceraram-lhe o corpo Dionísio não encontrou, desde então, nenhuma resistência na Trácia e se dirigiu a sua amada Beócia, onde visitou Tebas e convidou as mulheres a participarem de suas orgias no monte Citéron. Penteu, rei de Tebas, que não gostava do aspecto devasso de Dionísio, decidiu aprisioná-lo com todas as mênades, mas acabou enlouquecendo e, em vez de agrilhoar Dionísio, agrilhoou um touro.
As mênades escaparam de novo e saíram correndo enfurecidas para o alto das montanhas, onde despedaçaram algumas vitelas. Penteu tentou detê-las, mas, excitadas pelo vinho e pelo êxtase religioso, elas lhe arrancaram os membros um a um. Sua mãe, Agave, não só liderou o tumulto, como foi ela quem arrancou a cabeça do filho.
Em Orcômeno, as três filhas de Mínias, chamadas Alcítoe, Leucipe e Arsipe (ou Aristipe ou Arsínoe), recusaram-se a participar das orgias apesar de terem sido convidadas pessoalmente por Dionísio, que surgiu sob a forma de
uma moça. Ele, então, sucessivamente, se transformou num leão, num touro e numa pantera, enlouquecendo-as. Leucipe ofereceu seu próprio filho Hípaso em sacrifício - ele fora escolhido num sorteio - , e as três irmãs, após haverem-no despedaçado e devorado, saíram correndo freneticamente para as montanhas, até que, por fim, Hermes as transformou em pássaros, embora alguns digam que Dionísio as converteu em morcegos. O assassinato de Hípaso se expia anualmente em Orcômeno num festival chamado Agrionia (“incitação à selvageria”),
na qual as mulheres devotas simulam procurar Dionísio e então, deduzindo que ele tenha se ausentado com as musas, sentam-se em círculo e fazem perguntas enigmáticas, até que o sacerdote de Dionísio precipita-se de seu templo levando uma espada e matando o primeiro que lhe aparecer no caminho.
Quando toda a Beócia reconheceu a divindade de Dionísio, ele iniciou uma viagem pelas ilhas do Egeu, semeando a alegria e o terror por onde passava.
Ao chegar a Içaria, descobriu que seu barco não era apropriado para a navegação no mar e alugou outro de certos marinheiros do Tirreno, que diziam dirigir-se a Naxos. Na verdade eram piratas, que, ignorando tratar-se de um deus, dirigiram-se para a Ásia com a intenção de vendê-lo como escravo. Dionísio fez crescer uma vinha que se estendeu desde o tombadilho até o mastro, enquanto a hera se enroscava pelo cordame. Também transformou os remos em serpentes, e ele mesmo se converteu em leão, enchendo a embarcação de feras fantasmas e do som de flautas, de tal forma que os piratas, aterrorizados, atiraram-se ao mar e se tornaram golfinhos.
Foi em Naxos que Dionísio conheceu a encantadora Ariadne, abandonada por Teseu, e não tardou a se casar com ela. Ariadne lhe deu Enopião, Toante, Estáfilo, Latromis, Evantes e Taurópolo. Mais tarde, Dionísio pôs seu diadema nupcial entre as estrelas.
De Naxos foi para Argos e puniu Perseu - que no início opôs-lhe resistência
e matou muitos de seus seguidores — enlouquecendo as mulheres do lugar,
que começaram a devorar vivos os próprios filhos. Perseu admitiu rapidamente seu erro e apaziguou Dionísio erguendo um templo em sua homenagem.
Finalmente, após haver instaurado seu culto em todo o mundo, Dionísio ascendeu ao céu e está sentado agora à direita de Zeus, como uma das doze divindades olímpicas. Em favor dele, a modesta deusa Héstia abriu mão de seu lugar na suprema mesa, satisfeita por ter uma desculpa para escapar das contendas cheias de ciúme no seio de sua família, sabendo que sempre seria bem recebida em qualquer cidade grega que lhe apetecesse visitar. Dionísio desceu depois, através de Lerna, até o Tártaro, onde subornou Perséfone com um mirto para que libertasse sua falecida mãe Sêmele, que subiu com ele até o templo de Ártemis em Trezena. Para evitar que as outras almas ficassem com ciúmes ou se sentissem recusadas, ele trocou o nome dela e apresentou-a aos outros deuses olímpicos como Tione. Zeus pôs um aposento à sua disposição, e Hera, embora furiosa, permazeceu em silêncio, resignada quase pelos mesmos estados de êxtase das orgias da cerveja da Trácía e da Frigia.
O triunfo de Dionísio consistiu no fato de que o vinho acabou substituindo, por toda parte, outros inebriantes. Segundo Ferécides, Nisa significa “árvore”.
Durante algum tempo, ele havia se subordinado à deusa-Lua Sêmele - também chamada Tione ou Cotito - e era a vítima eleita de suas orgias. O fato de ter sido criado como uma menina, assim como Aquiles, evoca o costume cretense de manter os meninos “na escuridão” (scotioi), ou seja, nos aposentos das mulheres, até atingirem a puberdade. Um dos títulos de Dionísio era Dendrites, “jovem-árvore”, e o Festival da Primavera celebrava sua emancipação, quando, repentinamente, as árvores verdejaram e o mundo inteiro se inflamou de desejo. Ele é descrito como um menino cornudo, justamente para não especificar o tipo de cornos, que podiam ser de cabra, cervo, touro ou carneiro, conforme o lugar onde fosse venerado. Quando Apolodoro diz que ele se disfarçou de cabrito para se salvar da ira de Hera - Erifo (“cabrito”) era um de seus títulos (Hesíquio sub Erifo) —, está se referindo ao culto cretense de Dionísio-Zagreu, a cabra montanhesa com cornos enormes. Virgílio (Geórgicas II. 380-384) explica equivocadamente que a cabra era o animal que se sacrificava normalmente para Dionísio “porque as cabras provocam danos à vinha ao mordê-la”. Dionísio como cervo é Learco, morto por Atamante ao ser enlouquecido por Hera. Na Trácia, ele era um touro branco. Mas, na Arcádia, Hermes o disfarçou de carneiro, pois os árcades eram pastores e o Sol entrava em Aries em seu Festival da Primavera, e o deixou sob a responsabilidade das Híades (“fazedoras de chuva”), que foram chamadas de “as altas”, “as coxas”, “as apaixonadas”, “as rugentes” e “as furiosas”, por descreverem as cerimônias de Dionísio.
Hesíodo (citado por Theon: Sobre Arato 171) registra os nomes anteriores das Híades como Fesila (“luz filtrada”), Corônis (“corvo”), Cléia (“famosa”), Feo (“obscura”) e Eudora (“generosa”). Alista de Higino (.Astronomia poética II. 21) é bastante parecida. Nysus significa “coxo”, e, nessas orgias da cerveja na montanha, parece que o rei sagrado coxeava como uma perdiz, como no festival cananeu da primavera, chamado Pesach (“manqueira”). Mas os fatos de Mácris alimentar Dionísio à base de mel e as mênades utilizarem ramos de abeto recobertos de hera como tirsos aludem a uma forma anterior de preparado alcoólico: cerveja de abeto misturada com hera e adoçada com hidromel. O hidromel era o “néctar” obtido do mel fermentado que os deuses continuaram bebendo no Olimpo homérico.
3. J. E. Harrison - quem pela primeira vez assinalou (Prolegomena cap. VIII) que Dionísio, o deus do vinho, é uma superposição posterior de Dionísio, o deus da cerveja, conhecido também como Sabácio — sugere que o termo tragédia possa derivar não necessariamente de tragos (“cabra”), como indica Virgílio (loc. cit), mas de tragos (“espelta”), um cereal utilizado em Atenas para a fabricação da cerveja. Harrison acrescenta que, nas primeiras pinturas de ânforas, aparecem como companheiros de Dionísio homens-cavalos e não homens-cabras, e que seu cesto de uvas era originalmente uma ventoinha para limpar trigo. De fato, a cabra líbia ou cretense estava associada ao vinho, ao passo que o cavalo heládico, à cerveja e ao néctar. Assim, Licurgo, que oferece resistência ao segundo Dionísio, é destroçado por cavalos selvagens — sacerdotisas da deusa com cabeça de égua —, tendo o mesmo destino que o Dionísio anterior. A história de Licurgo confundiu-se com o conto irrelevante da maldição que caiu sobre sua terra após o assassinato de Drias (“carvalho”), o rei-carvalho que era morto anualmente. A toda de suas extremidades servia para manter sua alma sob controle, e a derrubada arbitrária de um carvalho sagrado era punida com a pena capital. Cotito era o nome da deusa em cuja homenagem se realizavam os ritos édones (Estrabão: X. 3. 16).
Dionísio podia se manifestar como leão, touro e serpente porque esses eram os emblemas do calendário do ano tripartite. Ele nascia no inverno como serpente (daí sua coroa de serpentes), convertia-se em cão na primavera e era morto e devorado como touro, cabra ou cervo em meados do verão. Essas eram suas metamorfoses quando os titãs o atacaram.
Seus mistérios se pareciam com os de Osíris, daí sua visita ao Egito.
Dionísio viajou numa embarcação em forma de Lua nova, e a história de seu embate com os piratas parece estar baseada no mesmo ícone que deu origem à lenda da Arca de Noé e os animais, sendo o leão, a serpente e outras criaturas suas epifanias sazonais. De fato, Dionísio é Deucalião. Os lacônios de Brasia preservaram um relato não ortodoxo de seu nascimento, mostrando como Cadmo encerrou Sêmele e seu filho numa arca que, à deriva, chegou a Brasia, onde Sêmele morreu e foi enterrada, e como Ino educou Dionísio (Pausânias: III. 24. 3).
Faros, uma pequena ilha em frente ao delta do Nilo, em cuja costa Proteu
experimentou as mesmas transformações de Dionísio, tinha
o maior porto existente na Europa na Idade do Bronze.
Era o armazém dos comerciantes de Creta, da Ásia Menor, das ilhas gregas, da Grécia e da Palestina. Dali certamente difundiu-se o culto do vinho em todas as direções. O relato da campanha de Dionísio na Líbia talvez registre o reforço militar enviado aos garamantes por parte de seus aliados gregos. O de sua campanha na índia foi interpretado como uma história fantasiosa do avanço ébrio de Alexandre até o Indo, mas ele é de data anterior e registra a expansão do vinho até o Oriente. A visita de Dionísio à Frigia, onde Réia o iniciou, sugere que os ritos gregos de Dionísio como Sabázio ou Brômio eram de origem frigia.
A Corona Borealis, grinalda nupcial de Ariadne, chamava-se também “Coroa Cretense”. Ela era a deusa-Lua cretense, e os filhos vinosos que teve com Dionísio — Enopião, Toante, Estáfilo, Taurópolo, Latromis e Evantes - foram os antepassados epônimos das tribos heládicas que habitavam em Quios, Lemnos, no Quersoneso trácio e em outros lugares mais adiante . O culto do
vinho chegou à Grécia e ao Egeu através de Creta - oinos, “vinho”, é uma palavra cretense - , e, por causa disso, Dionísio era confundido com o deus cretense Zagreu, que também foi despedaçado ao nascer.
Agave, mãe de Penteu, é a deusa-Lua que coordenava as orgias da cerveja.
O esquartejamento de Hípaso pelas três irmãs, que são a deusa tripla como ninfa, tem um paralelismo com o relato galês de Pwyll, príncipe de Dyffed, segundo o qual, no Dia de Maio, Rhiannon, corruptela de Rigantona (“grande rainha”), devora um potro que é, na realidade, seu filho Pryderi (“ansiedade”). Poseidon também foi comido sob forma de potro por seu pai Cronos, mas provavelmente numa versão anterior quem o comeu foi sua mãe Réia. O mito demonstra que o rito antigo, no qual as mênades com cabeça de égua despedaçavam e comiam cru o menino escolhido para ser a vítima anual - fosse seu nome Sabázio, Brômio ou outro qualquer - , foi substituído pelas orgias dionisíacas mais ordenadas. A substituição do potro pelo menino na cerimônia de sacrifício indica essa mudança.
A romã que brotou do sangue de Dionísio era também a árvore de Tamus-Adônis-Rimmon. Seu fruto maduro se abre como uma ferida e mostra as sementes vermelhas que traz dentro de si. Ele simboliza a morte e a promessa de ressurreição quando segurado pela mão de Hera ou de Perséfone.
O resgate de Sêmele, renomeada Tione (“rainha furiosa”), por Dionísio foi deduzido dos desenhos de um cerimonial celebrado em Atenas sobre um local de dança dedicado às Mulheres Selvagens. Ali, ao som de cantos, flautas e danças e sob a difusão de pétalas de flor retiradas de cestos, um sacerdote invocava Semele para que emergisse de um ônfalo, ou montículo artificial, e que viesse a serviço do “espírito da primavera”, ou seja, do jovem Dionísio (Píndaro: Fragmento 3).
Em Delfos, havia um ritual parecido de ascensão dirigido exclusivamente por mulheres, que se chamava Herois, ou “festa da heroína”. Pode-se presumir ainda uma outra cerimônia no templo de Artemis em Trezena. Cabe lembrar que a deusa-Lua tinha, nas palavras de John Skelton, três aspectos diferentes:
Diana nas folhas verdes,
Luna que tanto resplandece,
Perséfone no inferno.
Sêmele era, de fato, um outro nome de Core, ou Perséfone, e a cena de ascensão está retratada em muitos vasos gregos, alguns dos quais mostram sáros usando enxadões para ajudar a heroína a emergir. A presença deles indica que se tratava de um rito pelasgo. O que desenterravam era provavelmente uma boneca de cereal enterrada depois da colheita, que agora brotava de novo. Coré, evidentemente, não ascendeu ao Céu. Vagou pela terra com Deméter até chegar o momento de regressar ao mundo subterrâneo. Entretanto, logo depois da contração de Dionísio à categoria de deus olímpico, a assenção de sua mãe virgem passou a ser um dogma, e, uma vez admitida como deusa, ela foi diferenciada de core, que continuou ascendendo e descendendo como heroína.
A vinha era a décima árvore do ano sagrado da árvore e seu mês correspeedente era setembro, quando acontecia a festa da vindima. A hera, a décima primeira árvore, correspondia a outubro, quando as mênades farreavam e mastigavam suas folhas. Ela também era importante porque, assim como as outras quatro árvores sagradas — o carvalho espinhoso de El com que se aumentavam as cochonilhas, o amieiro de Foroneu, a vinha e a romãzeira, ambas ao próprio Dionísio —, fornecia uma tinta vermelho. O monge Teófilo (Rugerus: Sobre os ofícios, cap. 98) diz que “os poetas e artistas adoravam a hera pelos poderes secretos que ela encerrava... um dos quais vou lhe contar. Em março, quando a seiva sobe, se você perfurar o talo da hera com um trado em alguns pontos, exsudará um líquido viscoso que, ao ser misturado com urina e depois fervido, dá uma cor de sangue chamada Iaque, muito utilizada na pintura e nas iluminuras”. A tinta vermelha era usada para colorir os rostos das imagens masculinas da fertilidade (Pausânias: II. 2. 5) e dos reis sagrados.
Em Roma, esse costume se conservou com a coloração vermelha do rosto do general triunfante. O general representava o deus Marte, que foi um Dionísio da primavera antes de se especializar como o deus romano da guerra, dando assim seu nome ao mês de março. Os reis ingleses ainda maquiam levemente o rosto com ruge nas cerimônias oficiais, para dar uma impressão de saúde e prosperidade. Ademais, a hera grega, assim como a vinha e o plátano, tem uma folha de cinco pontas que representa a mão criadora da deusa Terra Réia. O mirto era uma árvore da morte.

No princípio era o Caos (Vazio primordial, vale profundo, espaço incomensurável), matéria eterna, informe, rudimentar, mas dotada de energia prolífica; depois veio Géia (Terra), Tártaro (habitação profunda) e Eros (o Amor), a força do desejo. O Caos deu origem ao Érebo (Escuridão profunda) e a Nix (noite). Nix Gerou Éter e Hemera (Dia). De Géia nasceram Úrano (Céu), Montes e Pontos (Mar). Na primeira fase há nítido predomínio do mundo Ctônio, já que a cosmogonia Hesiódica se desenvolve ciclicamente de baixo para cima, das trevas para a luz.
O Primeiro reinado conhecido do universo foi o de Úrano (Céu). À fase da energia prolífica segue-se a primeira geração divina, em que Úrano (Céu) se une a Géia (Terra), de onde descendem numerosa descendência. Nasceram primeiro os Titãs e depois as Titânidas, sendo Crono o caçula.
Titãs: Oceano, Ceos, Crio, Hiperión, Jápeto e Crono.
Titânidas: Téia, Réia, Mnemósina, Febe e Tétis.
Após os Titãs e Titânidas, Urano e Geia geraram os Ciclopes e os Hecatonquiros (Monstros de cem braços e de cinqüenta cabeças).
Urano é a personalização do Céu, enquanto elemento fecundador de Geia. Urano Céu era concebido como um hemisfério, a abóbada celeste, que cobria a terra, concebida como esférica, mas achatada: entre ambos se interpunham o Éter e o Ar e, nas profundezas de Geia, localizava-se o Tártaro, bem a baixo do próprio Hades. Do ponto de vista simbólico, o deus do céu traduz uma proliferação criadora desmedida e indiferenciada, cuja abundância acaba por destruir o que foi gerado. Urano caracteriza assim a fase inicial de qualquer ação, com alternância de exaltação e depressão, de impulso e queda, de vida e morte dos projetos.
Por solicitação de Geia, Crono mutila seu pai Urano, contando-lhe os testículos. Do Sangue de Urano que caiu sobre Geia nasceram, "no decurso dos anos", as Erínias, os Gigantes e as Ninfas dos Freixos, chamadas Mélias ou Melíades; da parte que caiu no mar e formou uma espumarada nasceu Afrodite.

Embora suas sacerdotisas iniciem as noivas e os noivos nos segredos do ato matrimonial, Demeter, a deusa dos trigais, não tem seu próprio esposo. Quando ainda era jovem e alegre, ela pariu Core e o robusto laco fora do matrimonio, filhos de seu irmão Zeus. Também deu a luz Pluto, apos deitar-se com o titã Jásio, por quem se apaixonara durante o casamento de Cadmo e Harmonia. Estimulados pelo nectar que fluía como água no banquete, os dois amantes saíram furtivamente da casa e se deitaram em um campo arado três vezes. Ao retornarem, adivinhando o que haviam feito pela expressão de seus semblantes e pelo barro que tinham nos braços e nas pernas, Zeus enfureceu-se com Jásio por ter-se atrevido a tocar Demeter, fulminando-o. Mas há quem diga que Jásio foi morto por seu irmão Dárdano, ou que foi despedaçado pelos próprios cavalos.
Demeter tinha o espirito generoso. Uma das poucas pessoas a quem tratou com dureza foi Erisicton, filho de Triopas. Liderando vinte camaradas, Erisicton atreveu-se a invadir um bosque que os pelasgos haviam plantado para ela em Dotio e começou a cortar as árvores sagradas para usar a madeira na construção de seu novo salão de banquetes. Demeter assumiu a forma de Nicipe, sacerdotisa do bosque, e ordenou-lhe, polidamente, que desistisse de seu proposito. Mas só quando ele a ameaçou com o machado é que ela se revelou em todo seu esplendor e o condenou ao sofrimento perpetuo da fome, por mais que comesse. De volta a sua casa, Erisicton passou a empanturrar-se o dia todo à custa de seus pais, mas, quanto mais comia, mais fome sentia e mais magro ficava. Quando finalmente os pais não puderam mais arcar com as despesas de sua alimentação, ele passou a vagar pelas ruas, alimentando-se de lixo. O contrário aconteceu com Pandareu, o Cretense: quando ele roubou o cão de ouro de Zeus, Demeter, sentindo-se vingada pela morte de Jásio, concedeu-lhe o dom real de jamais sofrer de dor de barriga.
Demeter perdeu sua alegria para sempre quando foi-lhe arrebatada a jovem Core, que mais tarde ficou conhecida como Perséfone. Hades apaixonou-se por Core e foi pedi-la a Zeus. Com receio de ofender o irmão mais velho com uma negativa categórica e, por outro lado, sabendo que Demeter não o perdoaria se Core ficasse confinada no Tártaro, Zeus respondeu de forma diplomática que não podia dar seu consentimento e tampouco nega-lo. Isso encorajou Hades a raptar a moça enquanto ela colhia flores no campo - o que pode ter ocorrido tanto em Ena, na Sicília, como em Colono, na Ática; ou em Hermione; em algum lugar de Creta; perto de Pisa ou de Lerna; nas redondezas de Feneu, na Arcádia; em Nisa, na Bocai, ou em qualquer outro lugar das distantes regiões que Demeter visitou em sua busca errante atrás de Core, embora seus próprios sacerdotes afirmam que tenha sido em Eleusis. Demeter procurou por Core incansavelmente durante nove dias e nove noites, sem comer nem beber, gritando seu nome o tempo todo, sem sucesso. As únicas noticias que pode obter vieram da velha Hecate, que, um dia de manhazinha, ouvira os gritos de Core: "Um estupro! Um estupro!", mas, mesmo tendo acorrido ao local, não encontrara nenhum vestígio dela.
No decimo dia, apos um desagradável encontro com Posídon entre os rebanhos de Onco, Demeter chegou disfarçada a Eleusis, onde foi recebida com toda hospitalidade pelo rei Celeo e sua mulher, Metanira, e convidada a permanecer ali como ama-de-leite de Demofonte, o príncipe recém-nascido. A coxa do rei, Iambe, tratou de consolar Demeter com versos comicamente lacivos, e a ama-seca, a velha Baubo, persuadiu-a a beber água de cevada com uma brincadeira: pôs-se a gritar como se estivesse em trabalho de parto e, inesperadamente, tirou de dentro da saia o filho de Demeter, Iaco, que saltou para os braços da mãe e a beijou.
"Oh, com que avidez você bebe!", gritou Abante, o filho mais velho de Céleo, enquanto Demeter bebia de um só trago um jarro de água de cevada aromatizada com menta. Demeter lançou-lhe um olhar severo e o converteu em lagarto. Sentindo-se depois um pouco envergonhada, decidiu prestar um favor a Celeo, concedendo imortalidade a seu filho Demofonte. Durante a noite ela o manteve sobre o fogo, a fim de queimar sua mortalidade. Metanira, filha Anfictiao, entrou por acaso no quarto antes que o ritual acabasse e quebrou feitiço, causando a morte de Demofonte. "A minha casa é desventurada!", lamentou-se Celeo, chorando o destino de seus dois filhos, e desde então passou a chamar-se Disaules. "Seque tuas lágrimas, Disaules", disse Demeter. "você ainda tem três filhos, inclusive Triptolemo, a quem desejo conferir dons tão grandes que lhe farão esquecer a perda desses dois."
Triptolemo, que guardava o rebanho de seu pai, havia reconhecido Demeter e dado a ela as pistas de que necessitava: dez dias antes, seus irmãos Eumolpo, que era pastor, e Eubuleu, que era guardador de porcos, estavam nos campos dando pasto aos animais quando, de repente, abriu-se uma fenda na terra que tragou os porcos de Eubuleu diante de seus próprios olhos. Depois, com um forte ruído surdo de cascos, apareceu uma carruagem puxada por cavalos negros, que se arremessou pela fenda. A face do condutor era invisível, mas seu braço direito apertava com força uma moça que gritava. Eubuleu relatou o acontecido a Eumolpo, que fez dele tema de um lamento.
Munida de tal evidencia, Demeter mandou chamar Hecate. Juntas, elas foram ter com Hélio, que tudo vê, e o obrigaram a admitir que Hades havia sido o autor da vilania, sem dúvida com a conivência de seu irmão Zeus. Demeter estava tão furiosa que, em vez de voltar ao Olimpo, continuou vagando pela terra, impedindo as árvores de darem frutos e a grama de crescer, ate colocar a raça humana em risco de extinção. Zeus, que, por vergonha, não se atrevia a visitar Demeter em Eleusis, primeiro encarregou Iris de levar-lhe uma mensagem (que ela ignorou) e, depois, Enviou-lhe uma delegação de deuses olímpicos com presentes de reconciliação, suplicando-lhe que aceitasse a vontade dele. Mas Demeter não regressou ao Olimpo e jurou que a terra continuaria estéril ate que Core lhe fosse devolvida.
A Zeus restou somente uma alternativa. Enviou Hermes com uma mensagem para Hades: "Se você não devolver Core, estaremos todos perdidos", e outra para Demeter: "Poderá ter a sua filha de volta desde que ela não tenha provado da comida dos mortos."
Desde o sequestro, Core se negara a comer até mesmo uma simples casca de pão, de maneira que, para disfarçar o vexame, Hades viu-se obrigado a dizer-lhe gentilmente: "Minha menina, você não me parece feliz aqui, e sua mãe chora por ti. Portanto, decidi mandá-la de volta para casa."
Core parou de chorar e Hermes a ajudou a subir em sua carruagem. Mas, no momento em que partia para Eleusis, Ascálafo, um dos jardineiros de Hades, começou a gritar com sarcasmo: "vi a senhora Core comer sete grãos de uma romazeira do jardim, e estou disposto a testemunhar que ela provou da comida dos mortos!" Hades sorriu e ordenou que Ascálafo se pendurasse na traseira da carruagem de Hermes.
Em Eleusis, Demeter abraçou Core, triunfante, mas, ao saber que a filha havia provado do malfadado fruto, ficou ainda mais abatida, e reiterou: "Não porei mais os pés no Olimpo nem retirarei a maldição que lancei sobre a terra." Então Zeus convenceu Reia, sua mãe e também de Hades e Demeter, a interceder junto a ela, e, Finamente, chegou-se a um acordo: Core deveria passar três meses do ano em companhia de Hades como Rainha do Tártaro, sob o nome de Perséfone, e os nove meses restantes com Demeter. Hecate se dispôs a garantir o cumprimento do acordo e a velar constantemente por Core.
Finalmente, Demeter aceitou voltar ao Olimpo. Antes de sair de Eleusis, ensinou seu culto e seus mistérios a Triptolemo, Eumolpo e Celeo (junto com Diocles, rei de Feres, que a ajudara a procurar por Core durante todo aquele tempo). Mas puniu Ascalafo por sua intriga, atirando-o a um buraco e cobrindo-o com uma rocha enorme. Mais tarde, libertado por Héracles, ela o transformou em uma coruja de orelhas curtas. Demeter também recompensou os fenícios da Arcádia - em cuja casa ela descansou depois de ter sido ultrajada por Posídon - com todos os tipos de grãos, mas proibiu-os de plantar feijão. Um certo Ciamites foi o primeiro a ousar planta-lo. Ele tem um altar junto ao rio Cefiso.
A Triptolemo, Demeter deu trigo para semear, um arado de madeira e um carro puxado por serpentes e o mandou percorrer o mundo todo, ensinando a humanidade a arte da agricultura. Mas primeiro deu-lhe algumas aulas na planicie Rariana, motivo pelo qual há quem o chame de filho do rei Rarus. E a Fítlo, que a havia tratado com gentileza as margens do rio Cefiso, ela deu uma Figueira, a primeira jamais vista na Ática, e ensinou-o a cultiva-la.
Core, Perséfone e Hecate eram, claramente, a Deusa em Tríade, ou seja, donzela, ninfa e velha, em uma época em que só as mulheres praticavam os mistérios da agricultura. Core representa o trigo verde; Perséfone, a espiga madura; e Hécate, o trigo colhisdo - a "velha esposa" da área rural da Inglaterra. Mas Demeter era o titulo geral da deusa, e a Core concedeu-se o nome de Perséfone, o que torna a historia toda confusa. O mito da aventura de Demeter nos campos nos arados três vezes indica um rito de fertilidade que sobreviveu até há pouco tempo nos Balcãs: a sacerdotisa dos cereais copulava em público com o rei sagrado no período da semeadura outonal, para assegurar uma boa colheita. Na Ática, o trabalho de arar o campo era feito primeiro na primavera. Dai, depois da colheita do verão, arava-se perpendicularmente com uma relha mais fina e, por fim, quando se haviam oferecido os sacrifícios aos deuses da Lavoura, arava-se de novo na direção original durante o mês outonal de pianépsio, para preparar a semeadura.
Perséfone (de phero e phonos, "a que traz destruição"), também chamada Persefata em Atenas (de ptersis e ephapto, "a que estabelece a destruição") e Proserpina ("a temida') em Roma, era, ao que parece, um titulo da ninfa quando sacrificava o rei sagrado. O titulo de "Hecate" ("uma centena") parece referir-se aos cem meses lunares do reinado do rei e a colheita centuplicada. A morte do rei por fulminação, ou despedaçado por mordidas de cavalos, ou pelas mãos do tanist, era seu destino comum na Grécia primitiva.
O rapto de Core por Hades compõe parte do mito em que a trindade helênica de deuses forçosamente se casa com a deusa tripla pré-helênica: Zeus com Hera, Zeus ou Posídon com Demeter, Hades com Core - como no mito irlandês, Brian, Iuchar e Iucharba casam-se com a deusa tripla Eire, Fodhla e Banbha. Isso se refere a usurpação masculina dos mistérios femininos da agricultura em tempos primitivos. Assim, o incidente da negativa de Demeter de proporcionar trigo para a raça humana é apenas mais uma versão da conspiração de Ino para destruir a colheita de Atamante. Além disso, o mito de Core explica o enterro, durante o inverno, de uma boneca feita de cereais que se desenterrava no inicio da primavera, quando começava a brotar. Esse costume pré-helênico sobreviveu nas zonas rurais, durante a época clássica, e se encontra ilustrado nas pinturas de jarros em que aparecem homens tirando Core de um monte de terra com enxadas, ou rompendo a machadadas a cabeça da Mãe Terra.
A historia de Erisicton, filho de Triopas, é uma anedota de cunho moral: entre os gregos, da mesma maneira que entre os latinos e os irlandeses primitivos, a derrubada de um bosque sagrado era punida com a pena capital. Mas uma fome desesperadora e insaciável, que os elisabetanos chamam de "lobo", não era um castigo apropriado para a derrubada de árvores sagradas, e o nome de Erisicton - filho também de Cecrope, o patriarcalista e introdutor dos bolos de cevada - significa "o que rasga a terra", o que sugere que seu verdadeiro crime foi o de atrever-se a arar sem o consentimento de Demeter, como Atamante. O roubo do cão dourado por Pandareu indica a intervenção cretense na Grécia, quando os aqueus tentaram reformar o ritual agrícola. Esse cão, arrebatado a deusa Terra, parece ter sido a prova evidente da independência do rei supremo aqueu em relação a ela.
Os mitos de Hilas ("do bosque"), Adônis, Litierses e Lino, descrevem o luto anual pelo rei sagrado, ou pelo rapaz que o substituta, sacrificado para apaziguar a deusa da vegetação. Esse mesmo substituto aparece na lenda de Triptolemo, que conduzia em carro puxado por uma serpente levando sacos de trigo, para simbolizar que sua morte trazia abundancia. Ele era também Plutus ("rico"), engendrado no tempo arado, de quem Hades tomou emprestado o titulo eufêmico "Plutão". Triptolemo (triptolmaios, "três vezes ousado") pode ser um titulo concedido ao rei sagrado por haver-se atrevido três vezes a lavrar o campo e a copular com a sacerdotisa do cereal. Celeo, Diocles e Eumolpo, a quem Demeter ensinou arte da agricultura, representam as cabeças sacerdotais da Liga Anfictiônica - Metanira é descrita como filha de Anfictiao - que lhe rendiam homenagens Eleusis.
Era em Eleusis ("advento"), uma cidade micênica, que se celebravam os Grandes Mistérios de Eleusis no mês chamado boedrômio ("correr em busca de ajuda"). Os embevecidos iniciados de Demeter consumavam simbolicamente o romance da deusa com Jásio, ou Triptolemo, ou Zeus, em um aposento secreto do santuário, movendo para cima e para baixo um objeto fálico dentro de uma bota alta de mulher. Portanto, Eleusis parece ser uma corruptela de Eilythuies, "o templo" daquela que se enfurece em um lugar de emboscada. Os mistagogos, vestidos de pastores, entravam então com gritos joviais e exibiam uma ventoinha de limpar trigo que continha o menino Brimus, filho de Brimo ("a irada"), fruto imediato desse casamento ritual. Brimo era um titulo de Demeter, e Brimus, um sinônimo de Plutus, mas seus celebrantes o conheciam mais como laco - do hino orgiático Iacchus, cantado no sexto dia dos Mistérios, durante uma procissão de tochas que partia do templo de Demeter.
Eumolpo representa os pastores cantores que traziam a criança; Triptolemo é um vaqueiro a serviço da deusa-Lua lo como vaca, que regava as sementes de trigo; e Eubuleu era um guardador de porcos a serviço de Marpessa, Forcis, Cere ou Cerdo, a deusa-porca que fazia germinar o trigo. Eubuleu foi o primeiro a revelar o destino de Core, pois "guardados de porcos", no mito europeu primitivo, significa adivinho ou mago. Assim Eumeu ("buscar o bem"), porqueiro de Odisseu, recebia o nome de dios ("deiforme") e, embora na época clássica já fizesse muito tempo que os guardadores de porcos tinham deixado de exercer a arte da profecia, eles ainda continuavam a sacrificar porcos em honra de Demeter e Perséfone, atirando-os de precipícios naturais. Eubuleu parece não se ter beneficiado da instrução de Demeter, provavelmente porque seu culto como deusa-porca havia sido suprimido em Eleusis.
"Rarus", que signifique "filho abortado" ou "ventre", é um nome pouco apropriado para um rei e seguramente se referia ao ventre da mãe Cereal, da qual o trigo brotava.
lambe e Baubo personificam as canções obscenas em métrica iambica, que eram cantadas para aliviar a tensão emocional durante os Mistérios de Eleusis, mas lambe, Demeter e Baubo formam a conhecida tríade de donzela, ninfa e velha. As velhas amas no mito grego quase sempre são representações da deusa como velha. Abante se transformou em um lagarto porque os lagartos se encontram nos lugares mais tórridos e secos e podem viver sem água. Essa é uma anedota de cunho moral, contada para ensinar as crianças o respeito aos mais velhos e a reverencia aos deuses.
A Estória da tentativa de Demeter de tornar Demofonte imortal é semelhante aos mitos de Medeia e Tetis. Ela se refere, por um lado, ao difundido costume primitivo de "imunizar" crianças contra os maus espíritos, rodeando-as com fogo sagrado no momento do nascimento, ou com uma grelha quente colocada debaixo delas; e, por outro, ao costume de queimar crianças ate a morte como sacrifício em substituição ao do rei sagrado, concedendo-lhes assim a imortalidade. Celeo, o nome do pai de Demofonte, talvez signifique "queimador", além de "pica-pau" ou "feiticeiro".
Existia um tabu primitivo sobre os alimentos de coloração vermelha, que só podiam ser oferecidos aos mortos; e supunha-se que a romã brotava - como a anêmona escarlate de oito pétalas - do sangue de Adônis, ou Tamus. Os sete grãos de romã representam talvez as sete fases da Lua, durante as quais os agricultores esperam surgir os primeiros talos verdes da espiga. Mas Perséfone comendo a romã e originalmente Sheol, a deusa do Inferno que devorou Tamus, ao passo que Ishtar (a própria Sheol, sob uma aparência distinta) chora para apaziguar o fantasma do defunto. Hera, como antiga deusa da morte, também segurava uma romã.
O ascalaphos, ou coruja de orelhas curtas, era um pássaro de mau agouro, e a fábula sobre seu modo de agir é relatada para explicar o barulho das corujas em novembro, antes que se iniciassem os três meses de ausência de Core durante o inverno. Héracles libertou Ascalafo.
A figueira que Demeter deu de presente a Fitalo, membro de uma das famílias mais importantes da Atica, significa simplesmente que a pratica da caprificação da figueira - a polinização da árvore domestica com um ramo da árvore silvestre - deixou de ser uma prerrogativa feminina ao mesmo tempo que deixou de sê-lo também a agricultura. A proibição de que os homens plantassem feijão parece ter sobrevivido a proibição do trigo devido a estreita relação existente entre o feijão e os fantasmas. Em Roma, o feijão era jogado aos fantasmas durante o festival de Todas as Almas, e, se de algum deles brotasse uma planta, a mulher que comesse seus frutos ficaria gravida de um fantasma. Por isso os pitagóricos abstiveram-se de comer feijão, com medo de negar a um ancestral possibilidade de reencarnar.
Diz-se que Demeter chegou a Grécia vindo de Creta e desembarcou em Tórico, na Ática (Hino a Demeter 123). Isso é bastante provável: os próprios cretenses haviam se estabelecido na Ática, onde foram os primeiros a explorar as minas de prata em Laurio. Além disso, Eleusis é uma localidade micênica, e Diodoro Sículo (V 77) diz que ritos similares ao eleusinio se realizavam em Knossos para todos os que queriam participar deles e que (V 79), segundo os cretenses, todos os ritos de iniciação foram inventados por seus ancestrais. Mas a origem de Demeter deve ser procurada na Líbia.
Segundo Ovídio, as flores que Core colhia eram papoulas. Uma imagem da deusa com flores de papoula nos cabelos foi encontrada em Gazi, em Creta. Outra forma de deusa encontrada em Palaiokastro segura papoulas na mão. E no anel de ouro do tesouro da Acrópole de Micenas, uma Demeter sentada entrega papoulas a uma Core de pé. As sementes de papoula eram utilizadas como condimento para fazer pão, e estão naturalmente associadas a Demeter, já que crescem nos campos de cereais. Mas Core colhe ou aceita papoulas devido a suas propriedades soporíferas e porque sua cor escarlate promete a ressurreição. Ela esta prestes a se retirar para seu sono anual.

Quando Hermes nasceu, no monte Cilene, sua mãe Maia o embrulhou em fraldas e o colocou sobre uma ventoinha de limpar trigo, mas ele cresceu e se transformou em garoto numa rapidez tão assombrosa que bastou a mãe virar-lhe as costas por um momento para ele desaparecer em busca de aventuras. Chegando em Pieria, onde Apolo guardava um excelente rebanho de vacas, Hermes decidiu rouba-las. Contudo, temendo que seus rastros o traíssem, ele rapidamente confeccionou vários sapatos a partir da casca de um carvalho tombado e os amarrou com grama trançada as patas das vacas, conduzindo-as durante a noite pela estrada. Ao descobrir a perda, Apolo rumou-pare o oeste, ate Pilus, e pare o leste, ate Onquesto, mas o truque de Hermes o despistou. Viu-se então obrigado a oferecer uma recompense pela captura do ladrão. Sileno e seus sátiros, ansiosos pela recompensa, espalharam-se em diversas direções atrás de seus rastros, sem por muito tempo obter nenhum sucesso. Finalmente, quando alguns deles passaram pela Arcádia, ouviram o ruído surdo de uma musica que jamais haviam escutado antes, é a ninfa Cilene, postada à entrada de uma caverna, lhes disse que uma criança superdotada tinha nascido ali havia pouco e que ela era sua ama. O menino tinha fabricado um engenhoso brinquedo musical com uma carapaça de tartaruga e tripas de vaca, cujo som fez sua mãe dormir.
Mas onde terá ele conseguido as tripas de vaca? - perguntaram os sátiros atentos, ao ver dois couros estendidos na entrada da caverna.
- Estão, por acaso, acusando de ladra esta pobre criatura? - interrogou Cilene, dando início a uma troca áspera de palavras.
Nesse momento apareceu Apolo, que havia descoberto a identidade do ladrão, observando o comportamento suspeito de um pássaro de grandes asas. Entrou na caverna, acordou Maia e lhe disse com severidade que Hermes deveria devolver as vacas roubadas. Maia apontou para o menino, ainda envolto em fraldas, fingindo que dormia.
- Que infame acusação! - gritou ela. Mas Apolo já havia reconhecido o couro de suas vacas. Então conduziu Hermes ao Olimpo e ali o acusou formalmente de roubo, mostrando como prova o couro arrebatado de suas novilhas. Zeus, relutante em acreditar que seu filho recém-nascido fosse um ladrão, estimulou-o a se declarar inocente, mas Apolo não estava disposto a ceder, e, finalmente, Hermes fraquejou e acabou confessando.
- Venha comigo - disse Hermes -, e terá o seu rebanho. Só abati duas vacas, que esquartejei em doze pedaços iguais como sacrifício aos doze deuses.
- Doze deuses? - perguntou Apolo. - Quem é o decimo segundo?
- A seu dispor - respondeu Hermes, solicito. - Comi somente a minha parte, embora estivesse com muita fome, e o resto foi devidamente incinerado. Assim foi feito o primeiro sacrifício de carne de que se terá noticia.
Os dois deuses regressaram ao monte Cilene, onde Hermes cumprimentou sua mãe e recuperou algo que havia escondido debaixo de uma pele de ovelha.
- O que você tem ai? - perguntou Apolo.
Em resposta, Hermes mostrou-lhe sua lira recém-inventada, feita de carapaça de tartaruga. Então, utilizando o plectro também inventado por ele, tocou uma melodia tão arrebatadora, cantando ao mesmo tempo em louvor a nobreza, a inteligência e a generosidade de Apolo, que foi imediatamente perdoado. Hermes conduziu o surpreso e encantado Apolo ate Pilos, sem parar de tocar durante todo o trajeto, e lá entregou-lhe o resto do gado que havia escondido numa caverna.
- Façamos um trato! - exclamou Apolo. - Você fica com as vacas e, em troca, me dá a lira.
- Certo - concordou Hermes, e apertaram as mãos.
Enquanto as vacas famintas pastavam, Hermes cortou algumas canas, fez com elas uma siringe e se pôs a tocar outra melodia.
- Proponho outro trato! - gritou Apolo, deleitado. - Se você me der a siringe, eu lhe entregarei este caduceu de ouro, com o qual conduzo meu gado. No futuro, você será o deus de todos os pastores.
- Minha siringe vale mais do que o caduceu - replicou Hermes. - Mas vou aceitar a troca se você me ensinar a prever o futuro, pois essa arte me parece Muito util.
- Não posso fazer isso - disse Apolo. - Mas, se procurar minhas antigas amas, as Trias, que moram no Parnaso, elas lhe ensinarão a arte da adivinhação com seixos.
Mais uma vez apertaram as mãos, e Apolo, levando a criança de volta ao Olimpo, contou a Zeus tudo o que havia acontecido. Zeus advertiu Hermes de que, a partir daquele momento, ele deveria respeitar o direito a propriedade e abster-se de contar mentiras, mas não conseguiu deixar de se divertir com tudo aquilo.
- Você me parece um pequeno deus muito eloquente, engenhoso e persuasivo - disse ele.
- Então, faça de mim seu mensageiro, Pai - respondeu Hermes -, e zelarei pela segurança de todas as propriedades divinas. E jamais contarei mentiras, embora não me comprometa a dizer sempre a verdade absoluta.
- Tampouco esperaria isso de você - disse Zeus, sorrindo. - Mas terá de fechar contratos, promover o comercio e assegurar a liberdade de movimento dos viajantes por todas as estradas do mundo.
No momento em que Hermes aceitou tais condições, Zeus deu-lhe um báculo de mensageiro com laços brancos para impor respeito, um chapéu redondo para protege-lo da chuva e sandálias aladas douradas, que o transportariam com a velocidade do vento. Em seguida, ele foi aceito na família olímpica, a quem ensinou a arte de fazer fogo girando rapidamente varinhas de madeira.
Depois, as Trias ensinaram Hermes a prever o futuro observando o movimento dos seixos numa vasilha de agua, e ele mesmo inventou o jogo dos ossos das juntas dos dedos e a arte da adivinhação por meio deles. Hades também o empregou como mensageiro, para atrair os moribundos com gentileza e eloquencia, colocando o caduceu de ouro sobre seus olhos.
Em seguida, ele ajudou as três Moiras na composição do alfabeto, inventou a astronomia, a escala musical, as artes do pugilismo e da ginastica, o sistema de pesos e medidas (que alguns atribuem a Palamedes) e o cultivo da oliveira.
Alguns dizem que a lira inventada por Hermes tinha sete cordas; outros, que tinha apenas três, correspondendo às estações, ou quatro, conforme os trimestres do ano, e que Apolo foi quem aumentou o numero para sete.
Hermes teve uma prole numerosa. Entre seus filhos estão Equion, mensageiro dos argonautas; Autolico, o ladrão; e Dáfnis, inventor da poesia bucólica. O jovem Dáfnis era um belo siciliano a quem sua mãe, uma ninfa, abandonou em um bosque de loureiros na montanha de Hera, dai seu nome ter-lhe sido dado pelos pastores, seus pais adotivos. Pã ensinou-o a tocar a siringe. Era o favorito de Apolo e costumava caçar na companhia de Artemis, que se deleitava com a sua musica. Ele tinha muito zelo com seus rebanhos, que eram da mesma raça que os de Hélio. Uma ninfa chamada Nomia o fez jurar que nunca lhe seria infiel, sob o risco de ficar cego. Mas Quimera, rival dessa ninfa, conseguiu seduzi-lo durante uma bebedeira, e Nomia, cumprindo a ameaça, cegou-o. Dafnis consolou-se por algum tempo com tristes canções sobre o seu infortúnio, mas não viveu muito. Hermes o converteu num rochedo, que ainda pode set visto na cidade de Cefalenitano, e fez brotar uma fonte com o nome de Dafnis em Siracusa, onde são oferecidos sacrifícios anuais.
O mito da infância de Hermes conservou-se somente numa forma literária posterior. O tradicional roubo de gado feito pelos astutos messenios contra seus vizinhos e o tratado graças ao qual essa prática cessou parecem ter sido mitologicamente associados a um relato sobre como os bárbaros helenos, em nome de seu deus adotado Apolo, dominaram e exploraram a civilização creto-heladica que encontraram no sul e no centro da Grécia - o pugilismo, a ginastica, os pesos e medidas, a musica, a astronomia e a cultura da oliveira eram todos pre-helenicos e acabaram aprendendo boas maneiras.
Hermes evoluiu até a categoria de deus a partir dos falos de pedra, que eram os centros locais do culto pré-helênico da fertilidade o relato de seu vertiginoso crescimento físico pode ser uma espirituosa obscenidade de Homero -, mas também pode ter sido a partir da Criança Divina do calendário pré-helênico, do Toth egípcio, deus da inteligência, e de Anúbis, condutor das almas para o mundo subterrâneo.
Os laços brancos de arauto do báculo confundiram-se posteriormente com serpentes, porque Hermes era o mensageiro de Hades, dai o nome de Equion. As Trias são a tripla musa ("deusa da montanha') do Parnaso, e sua arte de adivinhação por seixos era também praticada em Delfos. Atena foi a primeira a receber o credito pela invenção da adivinhação por dados feitos de ossos metacarpicos, transformados, com o tempo, em objetos de uso popular. Mas a arte de predizer o futuro continuou sendo prerrogativa da aristocracia, tanto na Grécia como em Roma. O "pássaro de grandes asas" de Apolo era provavelmente o próprio grou sagrado de Hermes. Os sacerdotes de Apolo invadiam constantemente o território de Hermes, antigo patrono da predição, da literatura e das artes, tal como o sacerdócio hermético invadia o espaço de Pã, das musas e de Atena. A invenção do fogo se atribuiu a Hermes, pois o giro da vareta masculina no orifício feminino evocava a magia fálica.
Sileno e seus filhos, os sátiros, eram personagens cômicos convencionais no teatro ático. Originalmente haviam sido montanheses primitivos do norte da Grécia. Uma das ninfas chamou Sileno de autóctone, ou filho de Pã.
A romântica historia de Dáfnis desenvolveu-se em torno de um pilar fálico de Cefalenitano e uma fonte de Siracusa, ambos provavelmente rodeados por um bosque de loureiros, onde se cantavam canções em honra aos mortos cegos. Diz-se que Dáfnis era o predileto de Apolo porque havia arrebatado o louro da deusa orgiástica de Tempe.

Zeus, Poseidon e Hades, apos destronarem seu pai Cronos, tiraram a sorte em um elmo para decidir quem governaria o céu, o mar e o lúgubre mundo subterrâneo, deixando a terra como domínio de todos. Zeus ganhou o céu; Hades, o mundo subterrâneo; e Poseidon, o mar. Este ultimo, igual a seu irmão Zeus em dignidade mas não em poder, e sendo de natureza áspera e combativa, pôs-se imediatamente a construir seu palácio submarino perto de Aegae, na Eubeia. Em seus espaçosos estábulos guardava cavalos brancos de tração, com cascos de bronze e crinas douradas, e um carro de ouro que fazia com que, ao aproximarem-se, os ventos de tempestade cessassem de imediato, e em torno do qual os monstros marinhos se alçavam e davam cabriolas.
Como necessitasse de uma esposa que se sentisse em casa nas profundezas do mar, ele cortejou a nereida Tetis. Mas quando Temis profetizou que qualquer filho nascido de Tetis seria superior ao pai, ele desistiu e permitiu que ela se casasse com um mortal chamado Peleu. Então tentou se aproximar de outra nereida, Anfitrite, mas causou-lhe tanta repugnância que ela acabou fugindo na direção do monte Atlas. Contudo, Poseidon enviou mensageiros no seu encalço. Um deles, chamado Delfim, defendeu com tanta arte a causa de Poseidon que esta acabou cedendo, e pediu-lhe que cuidasse dos preparativos para o casamento. Em agradecimento, Poseidon colocou a imagem de Delfim entre as estrelas, que é agora a constelação do Delfim.
Anfitrite deu três filhos a Poseidon: Tritão, Rode e Bentesicima, mas ele lhe dá quase tantos motivos de ciúmes quanto Zeus a Hera, por causa de seus constantes casos amorosos com deusas, ninfas e mortais. Ela detestou de modo especial sua obsessão por Cila, filha de Forcis, a quem transformou em um monstro ladrador de seis cabeças e 12 pés, ao jogar ervas mágicas na água de seu banho.
Poseidon cobiçava os reinos terrestres e reivindicou, certa vez, a posse da Ática, cravando seu tridente na Acrópole de Atenas, de onde imediatamente brotou um poço de agua salgada, ainda hoje existente. Quando sopra o Vento Sul (Notus ou Auster), pode-se ouvir o rumor das ondas. Mais tarde, durante o reinado de Cecrope, Atena chegou e tomou posse da Ática de uma maneira mais delicada: plantando a primeira oliveira ao lado do poço. Num acesso de ira, Poseidon a desafiou a um duelo, que Atena teria aceitado não fosse a intervenção de Zeus, obrigando-os a submeter a disputa a um tribunal de arbítrio. Pouco tempo depois, os dois se apresentaram diante de uma corte divina, formada por divindades celestiais equivalentes a eles, e Cecrope foi convocado como testemunha. Zeus absteve-se de opinar, mas todos os outros deuses apoiavam Poseidon, ao passo que todas as deusas estavam do lado de Atena. Assim, por um voto de diferença, a corte determinou que Atena tinha mais direito a terra, por ter-lhe oferecido um presente melhor.
Profundamente ofendido, Poseidon enviou ondas enormes para inundar a planície da Triasia, onde se localizava a cidade de Atena, e a deusa se mudou então para o lugar ao qual deu seu próprio nome: Atenas. Entretanto, para aplacar a ira de Poseidon, as mulheres de Atenas foram privadas de voto e os homens, proibidos de portar o sobrenome materno, como haviam feito até então.
Poseidon disputou também Trezena com Atena, mas, nessa ocasião, Zeus ordenou que a cidade fosse dividida igualmente entre eles, decisão que não agradou a nenhum dos dois. Depois, ele tentou, sem êxito, reivindicar Egina, que pertencia a Zeus, e Naxos, que pertencia a Dionísio, e, ao reclamar Corinto de Hélio, obteve somente o istmo, enquanto o ultimo ficou com a Acrópole. Enfurecido, e novamente disposto a lutar, tentou arrebatar a Argólida de Hera, negando-se a se apresentar diante de seus companheiros no Olimpo, que, segundo dizia, tinham preconceitos contra ele. Por conseguinte, Zeus transferiu o assunto para os deuses fluviais Ínaco, Cefiso e Asterio, que decidiram em favor de Hera. Posto que estava proibido de se vingar com inundações, como fizera anteriormente, Poseidon fez exatamente o oposto: secou os rios de seus juízes de maneira que nunca mais voltaram a fluir durante o verão. Entretanto, por consideração a Amimone, uma das danaides afetadas por essa seca, ele fez com que o rio Lerna, em Argos, tivesse caudal perene.
Presume-se ter sido ele o criador do cavalo, ainda que alguns digam que, logo depois de seu nascimento, Réia tenha dado um cavalo a Cronos para que o comesse no lugar da criança. Também se atribui a Poseidon a invenção das rédeas, apesar de Atena já as ter inventado antes. Mas do que ninguém duvida é que foi ele quem instituiu as corridas de cavalo. Sem duvida, os cavalos são consagrados a ele, talvez por causa de sua perseguição amorosa a Demeter, enquanto ela buscava, aos prantos, sua filha Perséfone. Diz-se que Demeter, exausta e abatida pela busca e sem nenhum desejo de flertar com deuses ou titãs, transformou-se em uma égua e começiu a pastar junto com a manada de um certo Onco, filho de Apolo que reinava em Telpusa, na Arcádia. Contudo, ela não conseguiu enganar Poseidon, que, por sua vez, transformou-se em um garanhão e a cobriu, e dessa vergonhosa união nasceram a ninfa Despina e o cavalo selvagem Arion. A ira de Demeter foi tão intensa que ela ainda é venerada, no culto local, como "Demeter, a Furia".
Tetis, Anfitrite e Nereis eram diferentes títulos locais da deusa-Lua tripla como regente do mar, e Poseidon, por ser o deus-pai dos eólios, povo dedicado às atividades marítimas, reclamou o direito de ser seu esposo, onde quer que ela fosse venerada. Peleu esposara Tetis no monte Pelion (Nereis significa "a molhada", e o nome de Anfitrite se refere ao "terceiro elemento", o mar, que rodeia o primeiro elemento, a terra, e por cima dos quais se alga o segundo elemento, ou seja, o ar). Nos poemas homéricos, Anfitrite significa simplesmente "o mar" e não se apresenta personificada como esposa de Poseidon. Sua relutância em se casar com ele coincide com a relutância de Hera em se casar com Zeus, e com a de Perséfone em se casar com Hades. O matrimônio envolvia a interferência dos sacerdotes masculinos no controle feminino da indústria pesqueira. A fabula do Delfim é uma alegoria sentimental: os golfinhos aparecem apenas quando o mar esta calmo. As filhas de Anfitrite eram ela mesma, manifestada numa triade: Tritão, a Lua nova da boa sorte; Rode, a Lua cheia da colheita; e Bentesicima, a perigosa Lua velha. Mas a Tritão, depois, foi atribuído o gênero masculino. Aegae situava-se no lado beócio protegido da Eubeia e servia como porto de Orcomeno. Foi em seus arredores que se concentrou a expedição naval que partiu contra Tróia.
A história da vingança de Anfitrite contra Cila tem um paralelismo com a vingança de Pasifae contra uma outra Cila. Cila ("a que rasga" ou "cachorrinho") é simplesmente um aspecto desagradável dela mesma: Hecate, a deusa da morte com cabeça de cão que vivia tanto na terra como entre as ondas. Um selo impresso de Knossos mostra Hecate ameaçando um homem em um barco, tal como ameaçou Odisseu (Ulisses, entre os romanos) no estreito de Messina. O relato citado por Tzetzes parece resultar da interpretação equivocada da pintura de uma antiga vasilha, na qual Anfitrite aparece em pé, ao lado de um tanque com agua ocupado por um monstro com cabeça de cão. No outro lado da vasilha aparece um herói afogado, preso entre duas tríades de deusas também com cabeças de cão, na entrada do mundo subterrâneo.
As tentativas de Poseidon de se apoderar de certas cidades são mitos políticos. Sua disputa por Atenas sugere uma tentativa fracassada de ocupar o lugar de Atena, convertendo-se no deus patrono da cidade. A vitória de Atena, porem, foi diminuída por uma concessão feita ao patriarcado: os atenienses abandonaram o costume cretense de usar o sobrenome da mãe, tradição que prevaleceu em Cária ate a época clássica (Herodoto: 1. 173). Varrão, que aponta esse detalhe, descreve o processo como um plebiscito do qual participaram todos os homens e mulheres de Arenas.
E evidente que os pelasgos jônicos de Atenas foram derrotados pelos eólios e que Atena recuperou sua soberania, só por ter-se aliado aos aqueus de Zeus, que mais tarde fizeram-na renegar a paternidade de Poseidon e admitir ter renascido da cabeça de Zeus.
O cultivo da oliveira foi originalmente importado da Líbia, o que sustenta o mito da origem líbia de Atena. Mas o que ela levou consigo deve ter sido uma muda, visto que a oliveira cultivada não se reproduz sozinha, a não ser a partir de um enxerto na oleácea, ou oliveira selvagem. A oliveira da deusa ainda era exibida na Atenas do século II da era cristã. A inundação da planície da Triasia é provavelmente um acontecimento histórico, mas que não pode ser datado. No inicio do século XIV a.e.c., época que os meteorologistas imaginam ter sido de chuvas torrenciais, é possível que os rios da Arcádia nunca tenham ficado sem agua e que sua posterior diminuição tenha sido atribuída à vingança de Poseidon. O culto pré-helênico do Sol em Corinto está claramente demonstrado (Pausânias: 11. 4. 7).
O mito de Demeter e Poseidon registra uma invasão helênica da Arcádia. Demeter era representada, em Figália, como a padroeira com cabeça de égua do culto pré-helênico do cavalo. Os cavalos eram consagrados à Lua, porque seus cascos tem a forma de meia-lua, e a Lua era considerada fonte de todas as aguas, dai a associação de Pegaso com as fontes de agua. Os helenos primitivos introduziram na Grécia uma nova raça de cavalos maiores, transcaspianos, já que a variedade local era do tamanho de um pônei das ilhas Shetland e impropria para tração. Eles parecem ter tornado os principais centros do culto ao cavalo, onde forçaram as sacerdotisas locais a se casarem com seus reis guerreiros, obtendo, assim, o direito de propriedade da terra e suprimindo, consequentemente, as orgias das éguas selvagens. Os cavalos sagrados Arion e Despina (este ultimo, um titulo da própria Demeter) foram então reivindicados como filhos de Poseidon. Amimone pode ter sido um nome da deusa em Lerna, centro do culto danaideo da agua.
Demeter como Fúria, do mesmo modo que Nêmeses como Fúria, era a deusa em seu estado de ânimo assassino, o que ocorria uma vez por ano. O que se conta a respeito de Poseidon e Demeter em Telpusia, e de Poseidon e uma Fúria sem nome na fonte de Tilfusa, na Beocia, ja era sobejamente conhecido quando os helenos chegaram. Aparece na literatura sagrada primitiva indiana, na qual Saranyu se transforma em égua, e Vivaswat, em um garanhão que a cobre. São frutos dessa união os dois heroicos Asvins. Talvez a "Demeter Erinia" não seja o equivalente da "Demeter, a Furia", mas da "Demeter Saranyu" - numa tentativa de reconciliação das duas culturas guerreiras. De qualquer modo, para as ressentidos pelasgos, Demeter foi desde sempre ultrajada.

A esperança tem sido uma força poderosa por trás da civilização ocidental. Na verdade, olhando hoje a história registrada da civilização ocidental, a esperança - o pensamento baseado na agência, concentrado em objetivos que fazem com que você saia daqui e chegue lá - tem estado tão entrelaçada no tecido das épocas e dos eventos de nossa civilização que pode ser difícil de detectar, como o fermento no pão. Nesse sentido, a crença em um futuro positivo se reflete em muitas das idéias e palavras de nosso dia-a-dia. Por exemplo, palavras como planejar e acreditar são portadoras de suposições sobre quanto tempo nos resta de vida e as probabilidades de que nossas ações venham a ter efeitos positivos nesses eventos futuros.
Este capítulo volta o olhar para idéias fundacionais e eventos exemplares que definiram a esperança moderna e o século XXI. Somos intencionalmente lineares em nossa narração histórica, começando com o mito grego da caixa de Pandora e terminando com uma história moderna de triunfo. No entanto, exploraremos antes como e por que uma força robusta como a esperança tem estado ausente de partes da narrativa da civilização ocidental.
Esperança: onipresente, mas oculta
Embora a esperança tenha um poder impressionante e penetrante, muitas vezes não estamos conscientes de sua presença, talvez porque esteja embutida em muitas idéias relacionadas. Por isso, a esperança muitas vezes não é identificada pelo nome em fontes que são essencialmente relacionadas a ela (por exemplo, para uma visão minuciosa de como a esperança raramente é discutida na filosofia, vide o livro O princípio da esperança [1959], de Ernst Bloch. Na verdade, se examinarmos os sumários de conteúdos ou índices de importantes obras ocidentais, a palavra esperança não será encontrada. Por exemplo, o índice do livro Key ideas in human thought (Idéias fundamentais do pensamento humano, McLeish, 1993) não contém um item para esperança. Imagine a ironia de omitir o termo esperança de um registro supostamente completo das idéias humanas! Segundo Bloch, a esperança tem sido “tão inexplorada quanto a Antártica” (citado em Schu macher, 2003, p. 2).
A Esperança como parte da Mitologia grega
Ao longo de toda a história humana, tem havido uma necessidade de que o mal possa ser transformado em bem, de que o feio se torne bonito e de que os problemas sejam solucionados, mas as civilizações diferiram no grau em que consideravam essas mudanças possíveis. Por exemplo, vejamos o mito grego da caixa de Pandora, uma história sobre a origem da esperança. Há duas versões para essa história.
Em uma dessas versões, Zeus criou Pandora, a primeira mulher, para se vingar de Prometeu (e de todos os seres hu manos) porque este havia roubado o fogo dos deuses. Pandora foi dotada de beleza e graça impressionantes, mas também de uma tendência a mentir e a enganar. Zeus enviou Pandora com o baú contendo seu dote a Epimeteu, que se casou com ela. Usando o que pode ser um dos primeiros exemplos de psicologia reversa, Zeus instruiu Pandora a não abrir o baú quando chegasse à Terra. Obviamente, ela o ignorou e abriu. Dali saíram todos os tipos de problemas para o mundo, mas não a esperança, que permaneceu no baú - não para ajudar a humanidade, mas para provocá- la com a mensagem de que a esperança não existe realmente. Nessa versão, portanto, a esperança não passava de um logro cruel.
Uma segunda versão dessa história diz que todos os infortúnios terrenos foram causados pela curiosidade de Pandora, antes de qualquer natureza inerentemente má. Os deuses a testaram com instruções de não abrir o baú com o dote. Ela foi mandada a Epimeteu, que a aceitou, malgrado os avisos de seu irmão, Prometeu, sobre os presentes de Zeus. Quando Pandora abriu o baú, a esperança não era um logro, e sim uma fonte de conforto para os infortúnios (Hamilton, 1969). Nessa versão positiva da história, a esperança deveria servir como antídoto aos males (como a gota, o reumatismo e a cólica para o corpo; e como a inveja, a malevolência e a vingança para a mente) que escaparam quando o baú foi aberto. Quer seja um logro quer seja um antídoto, essas duas versões dessa história revelam a tremenda ambivalência dos gregos em relação à esperança.
A Esperança religiosa na civilização ocidental
A história da civilização ocidental se dá em paralelo às histórias do judaísmo e do cristianismo. É por isso que a expressão herança judaico-cristã costuma ser associada à civilização ocidental. Não é por acidente que a linha do tempo da civilização ocidental (vide as figuras 2.1 a 2.4) coincide com a herança judaico-cristã, incluindo o período antes da era comum (a.e.c.) e era comum (e.c.). Essas linhas do tempo destacam eventos importantes na história da religião: a inauguração da Catedral de Notre Dame, a construção da fachada oes te da catedral de Chartres e a publicação de Summa Theologica, de São Tomás de Aquino. Nesse aspecto, a presença da esperança nos primórdios da civilização ocidental é ilustrada claramente em passagens bíblicas como “venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade” (Mateus, 6:10) e “...na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus” (Romanos, 8:18, 20, 21). Essas passagens refletem uma visão de esperança pelo Reino de Deus na Terra, bem como a [35] esperança de que sua vontade seja feita assim na Terra como no céu. Ou, vejamos Coríntios 115:19, em que São Paulo escreve sobre a fé em Cristo nesta vida na Terra e além dela: “Se é só para esta vida que temos posta nossa esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de lástima”. Além disso, as doutrinas do cristianismo sustentam que o reino de Deus na Terra não só é esperado, como também está previsto. Dessa forma, é lógico que a crença na esperança influencie as idéias e os pressupostos intelectuais seculares.
Como demonstrado por estes exemplos de esperança e religião, de uma disposição esperançosa podem resultar empreendimentos humanos impressionantes. Em cada caso, um verbo ativo está conectado a um substantivo que se refere a um resultado - uma conquista. Observe as palavras abrir, construir e publicar. Deve-se observar, também, que esses verbos foram seguidos de substantivos que denotam conquistas de nossa civilização, como as catedrais de Chartres e Notre Dame.
Esses exemplos também são importantes por serem conquistas em um caminho que parte de um período às vezes chamado de Idade das Trevas. É difícil, para nós, apreciar a força de vontade e os esforços de nossos ancestrais, que lutaram para realizar importantes conquistas em um período conhecido pela ausência delas. De fato, embora essa época não tenha sido realmente obscura, a Idade Média (500-1450), antes do Renascimento, certamente estava envolvida nas sombras da opressão e da ignorância, quando a inércia e a lassidão intelectual eram a norma. Como escreve Davies (1996, p. 291), Há um ar de imobilidade em muitas descrições do mundo medieval. A impressão se cria por meio da ênfase no ritmo lento das transformações tecnológicas, no caráter fechado da sociedade medieval e nas percepções fixas e teocráticas da vida humana. Os principais símbolos do período são o cavaleiro de armadura em seu cavalo, que se movia com dificuldade; os servos ligados à gleba (domínio ou propriedade) de seu senhor; e monges e freiras rezando em clausura. Eles são feitos para representar a imobilidade física, a imobilidade social, a imobilidade intelectual.
Essa imobilidade intelectual e social refletia uma paralisia da curiosidade e da iniciativa. A partir dos anos da Idade Média (500-1500), essa paralisia impediu o planejamento e a ação intencionais e sustentados que são necessários para que haja uma sociedade com esperança e desenvolvimento. Os fogos do avanço foram reduzidos a brasas durante esse milênio obscuro e se mantiveram acesos apenas em instituições como os monastérios e suas escolas.
Com o tempo, quando a Idade das Trevas foi encerrada pelas luzes brilhantes do Renascimento, com seu crescimento e prosperidade econômicos, a esperança passou a ser considerada mais importante para a vida presente na Terra do que para depois da vida (ou seja, uma vida melhor na Terra se tornou possível, até mesmo provável). Portanto, a esperança religiosa que se concentrava em um futuro distante, após a vida na Terra, tornou-se um pouco menos importante quando surgiu o Renascimento. Na verdade, o foco durante o Renascimento caiu na antecipação contemporânea de dias melhores no presente. Em relação a esse novo foco, o filósofo Immanuel Kant decidiu que a natureza religiosa da esperança impedia sua inclusão nas discussões sobre como gerar transformações na Terra. Com essa mudança, a concepção religiosa de esperança se desvaneceu como motivação principal da ação. O fortalecimento e a aceleração dessa mudança constituíram outro aspecto da esperança religiosa, identificada pelo que Farley (2003) chamou de “passividade desejosa”, uma perspectiva que ainda hoje influencia a esperança religiosa. Farley observa: ‘A esperança religiosa... dá uma falsa sensação de que tudo está realmente bem e tudo ficará bem. A crença em um futuro final, nessa visão, direciona o [36] compromisso para um futuro que ainda chegará” (p. 25). Em outras palavras, a esperança religiosa voltada à vida após a morte pode se tornar uma barreira inconsciente à ação nesta vida. O problema desse tipo de esperança religiosa, como descrito por Farley, é que ela pode dar uma sensação de conforto postergado em relação a condições futuras. Infelizmente, ao se concentrar em um estado desejado para o futuro, em lugar daquilo que deve acontecer para se atingir esse estado, as atenções e os esforços da pessoa são afastados do que é necessário no momento presente.
O comentário de Farley (2003) é semelhante a um importante argumento apresentado por Eric Fromm em seu livro A revolução da esperança-tecnologia humanizada (1974). Fromm diz que algumas definições de esperança costumam ser “mal-entendidas e confundidas com atitudes que nada têm a ver com Esperança e, na verdade, são exatamente o seu oposto” (p. 6). O autor aponta que esperança não é a mesma coisa que desejos ou anseios (isto é, produtos da visualização de uma possibilidade de mudança sem que se tenha um plano ou a energia necessária para produzir essa mudança). Diferentemente da esperança, essas últimas motivações têm características passivas nas quais se faz pouco ou nenhum esforço para concretizar o objetivo desejado. Um nível extremo dessa passividade gera o que Fromm chamou de niilismo (p. 8).
Revisão da história da esperança na civilização ocidental
O período pré-renascentista
As crenças positivas e a esperança por parte da civilização ocidental se solidificaram após o Renascimento, mas se deve observar que a esperança não estava totalmente ausente em épocas anteriores. Consideremos, por exemplo, a seguinte lista breve de exemplos de atividades humanas que aconteceram antes do Renascimento.
- A construção do museu e da biblioteca de Alexandria (307 a.e.c.)
- A abertura da primeira escola inglesa, em Canterbury (598 e.c.)
- A publicação da coletânea de poesia inglesa Exeter Book (970 e.c.)
- O desenvolvimento da notação musical sistemática (990 e.c.)
- Reflorescimento das tradições artísticas na Itália (1000)
- Tentativa de voar ou flutuar (1000)
- Início da construção da Catedral de York, na Inglaterra (1070)
- Fundação da Universidade de Bolonha, na Itália (1119)
- Construção do Hospital de São Bartolomeu, na Inglaterra (1123)
- Finalização da fachada oeste da catedral de Chartres, na França (1150)
- Popularização do xadrez na Inglaterra (1151)
- Fundação das universidades de Oxford (1167) e Cambridge (1200), na Inglaterra
- Abertura da Catedral de Notre Dame, em Paris (1235)
- Impressão da Summa Theologica, de São Tomás de Aquino (1273)
- Desenvolvimento da cidade italiana de Florença como importante centro co mercial e cultural da Europa (1282)
Observemos es ses eventos na linha do tempo da Figura 2.1. Eles são reflexos do espírito das pessoas para atingir objetivos e de seu esforço para tanto. Tais marcos históricos exigiram ações voltadas a objetivos, em lugar da simples espera pela chegada de tempos melhores ou o acontecimento de coisas boas. Com o advento do Renascimento, esses pensamentos ativos e esperançosos começaram a ser acoplados a ações voltadas a objetivos. Na próxima seção, trataremos do Renascimento e de eventos cruciais.
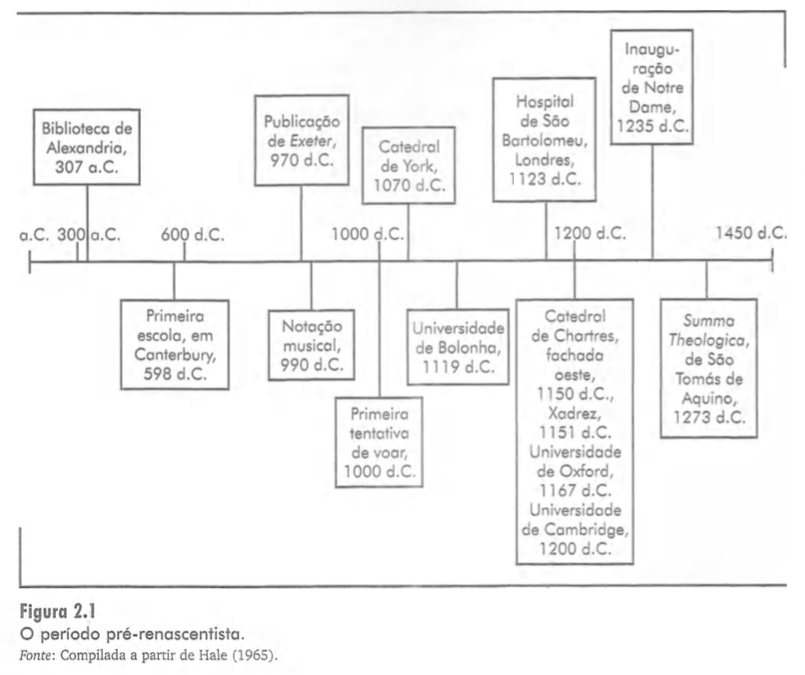
O Renascimento
Começando na Itália, em 1450, e se estendendo até cerca de 1600, o Renascimento produziu mudanças nos costumes e nas instituições que dominaram a Europa no milênio anterior. O feudalismo, o domínio da Igreja Católica e a vida rural e isolada deram lugar ao surgimento do nacionalismo, aos negócios e ao comércio, ao crescimento das cidades e à expansão das artes e da academia. A esperança ganhou vida durante esse renascer. Esse período histórico é visto agora mais como uma evolução do que uma revolução, e foi uma virada que facilitou o surgimento da esperança ativa.
Dado que, no Renascimento, parte da ênfase estava no passado, como ele poderia ser considerado o começo da esperança “moderna”? A resposta a esta pergunta é que, embora o Renascimento tenha analisado a Antiguidade, grande parte da análise foi feita para avançar e promover o conhecimento. Por exemplo, o direito romano surgiu como uma área fundamental para os estudos jurídicos porque os juristas do Renascimento queriam examinar seus grandes códigos, o Digesto e o Códex. Portanto, a perspectiva renascentista era de [38] que a aprendizagem sobre o passado era necessária para atender às demandas de uma sociedade complexa e materialista que estava surgindo a partir do final da Idade Média. Da mesma forma, avanços em outras áreas da vida e dos assuntos públicos foram construídos a partir de compreensões precisas da literatura, da filosofia e da arte anteriores.
Embora se tenham tornado campos em si, os estudos desses campos foram de senvolvidos basicamente para atingir objetivos mais mundanos como facilitar o comércio e a economia mercantilista. Sendo assim, a sociedade do Renascimento começou a considerar a realização mundana mais importante do que a preparação para a morte ou a realização após a morte.
Durante esse período, as pessoas também começaram a se considerar como indivíduos em lugar de representantes de uma classe. Mais além, esse recém-surgido interesse nos méritos das realizações pessoais levou a uma dedicação a fazer coisas relacionadas a esta vida. Enquanto homens e mulheres medievais (500-1500 e.c.) estavam em busca de suas almas, os cidadãos do Renascimento olhavam para fora e para a frente, e isso para atingir objetivos do aqui e agora, que se baseavam em suas capacidades e seus interesses pessoais. Vide a Figura 2.2 para importantes eventos e conquistas do Renascimento.
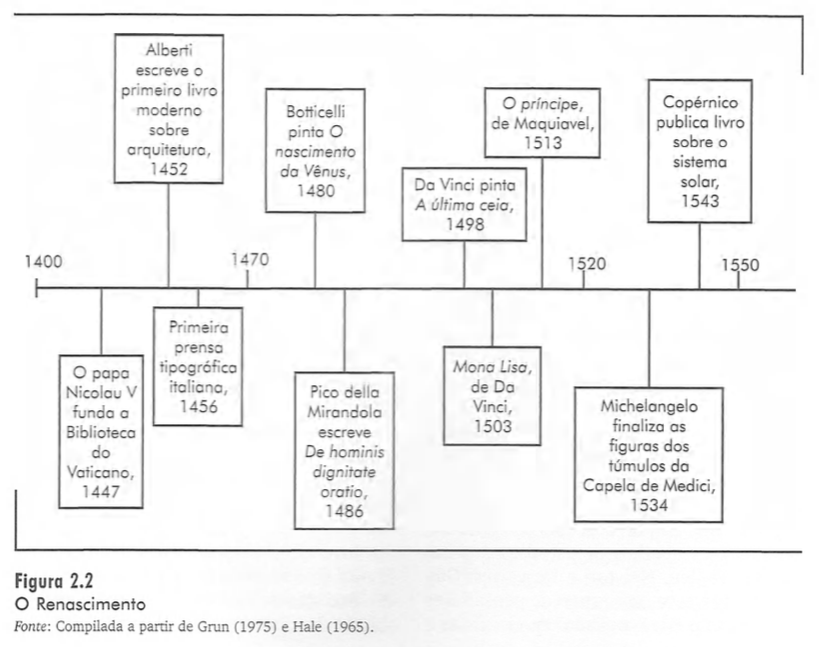
O lluminismo
O período que se seguiu ao Renascimento, de cerca de 1700 ao final daquele século, é conhecido como a Era do [39] Iluminismo. Essa época marcou a superação de uma imaturidade caracterizada pela indisposição para usar os próprios conhecimentos e inteligência.
Sobre isso, Immanuel Kant (1784) escreveu: “Sapere aude! ‘Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento!’ - Esse é o mote do Iluminismo” (citado em Gay, 1969, p.ll). Com efeito, o Iluminismo representou uma declaração de independência em relação à aceitação, há muito estabelecida, da autoridade na religião e na política, que datava dos tempos bíblicos.
Em uma atmosfera cultural que levava à exploração e à mudança, o Iluminismo estava enraizado no ressurgimento renascentista do interesse pelos livros e pelas idéias de gregos e latinos, junto com o interesse por este mundo e não pelo outro. À medida que a autoridade religiosa da Igreja se enfraquecia, as influências comerciais, políticas e científicas começaram a ter um impacto cada vez maior nas vidas espirituais, físicas e intelectuais das pessoas.
A palavra científico é fundamental para caracterizar o Iluminismo. A publicação de Princípios matemáticos de filosofia natural, de Isaac Newton, em 1687, tem sido usada por alguns para marcar o início do Iluminismo e a ascensão do método científico. Embora as raízes desse trabalho datem da época bíblica, as idéias de Newton cumpriram outros propósitos no sentido de ajudar a entender e a reverenciar a Deus.
A Revolução Científica foi parte integrante do Iluminismo e teve início quando a atmosfera política se tornou mais favorável a um clima de descoberta, como expresso nos trabalhos de estudiosos como Kepler, Galileu, Newton e Descartes. Gay (1966) descreve esse grupo de pensadores como um tipo de “coalizão” de cientistas e filósofos que consideravam as iniciativas de pesquisa como “passos” em um processo cumulativo, em lugar de meras descobertas acidentais e isoladas.
O Iluminismo refletiu a natureza da esperança, em função de sua ênfase em ações e capacidades racionais. Essas qualidades estavam entrelaçadas com a crença dominante da época, a de que a razão que ganhou vida com o método científico levava a conquistas na ciência e na filosofia. Essas perspectivas estão em contraste direto com a predominância da ignorância, da superstição e da aceitação da autoridade que caracterizaram a Idade Média. Descrito em termos de uso da matemática como meio de descoberta e progresso, esse processo enfatizava a vontade racional. Assim, não é surpresa que a educação, a livre expressão e a aceitação de novas idéias crescessem muito durante o Iluminismo. Na verdade, as conseqüências desse pensamento ilustrado foram duradouras e refletiam o poder da esperança. Sobre esse aspecto, um exemplo é a educação e como ela reduz a probabilidade de que as ações venham a ser impulsivas, ou seja, a educação deve promover análises e planos refletidos para se atingirem objetivos desejados. Mais além, a dignidade e o valor humanos foram reconhecidos durante o Iluminismo. Tomada em seu conjunto, a ideia de que conhecimento e planejamento poderiam produzir uma percepção de fortalecimento levou Francis Bacon ao objetivo de melhorar a condição humana. Entende-se, portanto, que Condorcet observou em seu Esboço para um quadro histórico do progresso do espírito humano (1795) que o Iluminismo garantiu o progresso futuro e presente dos seres humanos.
Os resultados das crenças esperançosas podem ser vistos no impacto desses eventos importantes do Iluminismo:
- Invenção da lançadeira (1773), que deu início à tecelagem moderna.
- Redação da Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776)[40]
- Ridicularização da alta sociedade pelo poeta Alexander Pope em Rape of the lock (1714)
- Inauguração do Museu Britânico (1759)
- Publicação de Crítica da razão pura, de Kant(1781)
- Composição das três últimas sinfonias de Mozart (1788)
- Publicação de Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke (1790)
- Outros eventos e marcos são aponta dos na Figura 2.3.
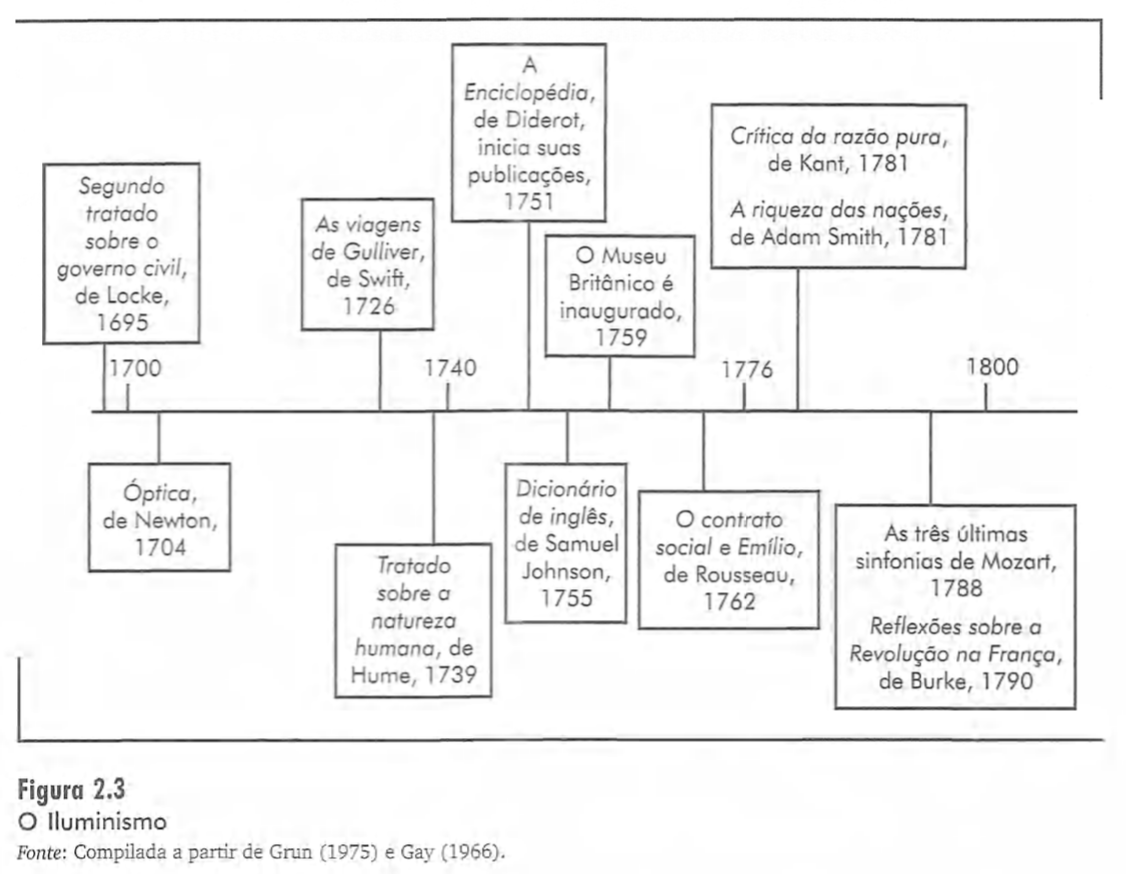
A revolução industrial
Começando aproximadamente no final do século XVIII e continuando até o final do XIX, deu-se o período conhecido como Revolução Industrial (ou Era da Industrialização).
A passagem da produção de casas e pequenos ateliês para grandes fábricas aumentou em muito os benefícios materiais para os cidadãos individuais (vide a Figura 2.4). Embora alguns resultados dessa época tenham sido disfuncionais e contraproducentes, houve contribuições muito reais e importantes. Brogan (1960) descreve es ses avanços:
Como resultado dos avanços do século XIX e início do XX, as pessoas passaram a viver mais tempo, poucas crianças morriam ainda bebês e muitos se alimentavam melhor, tinham moradia melhor e formação escolar melhor. A unidade física do mundo se tornou possível com o navio a vapor, a locomotiva, o automóvel e o avião. A unidade da ciência foi exemplificada pela adaptação, alguns anos após [41] sua descoberta, do trabalho de Louis Pasteur sobre bactérias feito em Paris à prática de cirurgia antisséptica por Joseph Lister, na Escócia. Passou a ser fácil viver em áreas do mundo que anteriormente eram inabitáveis, ou habitáveis somente em um nível muito baixo de existência (citado em Burchell, 1966, p. 7).
Como escreveu, de forma eloqüente, Bronowski (1973) em seu capítulo A busca pelo poder, de A escalada do homem, a Revolução Industrial tornou o mundo “nosso”. De fato, a Revolução Industrial marcou uma virada no progresso da humanidade, por ter proporcionado tantos benefícios materiais e pessoais. Talvez ainda mais importante, criou conforto que a maioria dos cidadãos poderia obter e desfrutar. Assim, os bens passaram a estar disponíveis para muitos, em vez de apenas para uns poucos. Esses benefícios incluíam a máquina a vapor e suas muitas aplicações, o ferro e o aço e as estradas de ferro (transporte e comunicação eficientes para todos), para citar apenas alguns exemplos que surgiram no século XX.
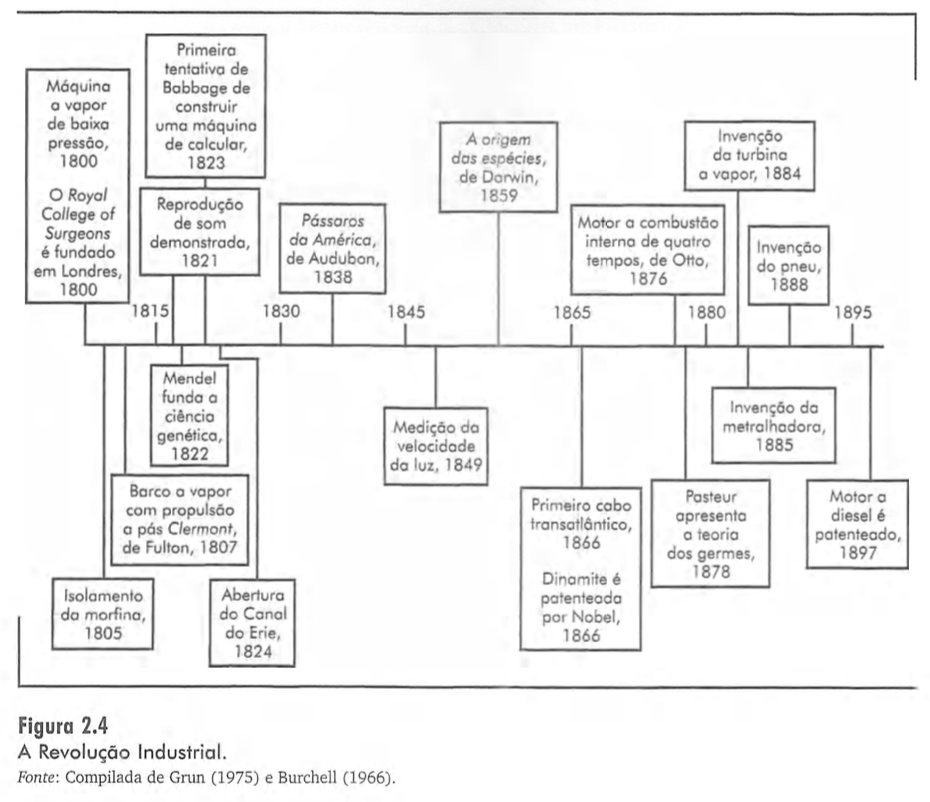
A civilização ocidental foi definida por sua massa crítica de eventos e crenças esperançosos. Antes do Renascimento, do Iluminismo e da Revolução Industrial, e mesmo durante a Idade Média, o pensamento esperançoso foi uma parte fundamental do sistema de crenças da humanidade. Se algumas áreas históricas não revelam sinais importantes, ainda assim houve marcos implícitos de esperança. [42] Portanto, embora a Reforma e a Idade da Razão (1600-1700) não sejam destacadas aqui, esses períodos testemunharam importantes avanços que contribuíram para a sociedade. A seguir, uma amostra de eventos de destaque nesses períodos:
- O avanço do conhecimento, de Francis Bacon (1604)
- Bússola proporcional, de Galileu (1606)
- O início da construção intensa de estradas na França (1606)
- O telescópio astronômico de Galileu (1608)
- Descoberta da circulação sanguínea por Harvey (1619)
- Publicação do Weekly News, em Londres (1622)
- A abertura da primeira cafeteria, em Londres (1632)
- A abolição da tortura na Inglaterra (1638)
- Lançamento da Carta da Faculdade Harvard (1650)
- Experimentos de Newton com a gravidade e sua invenção do cálculo diferencial (1665)
- Estabelecimento do observatório de Greenwich (1681)
- Abertura das primeiras cafeterias em Viena (1683)
- Implementação da iluminação pública em Londres (1684)
- Primeira feira comercial moderna, em Leiden, na Holanda (1689)
- Pedro, o Grande, envia 50 estudantes russos para estudar na Inglaterra, na Holanda e em Veneza (1698)
Olhando para os eventos do Renascimento, do Iluminismo e da Revolução Industrial, talvez seja razoável considerar todas as épocas, começando pelo Renascimento e seguindo até 1900, como parte de um novo período chamado a Era do Progresso.
Essa Era do Progresso caracteriza a civilização ocidental e reflete o componente inerente do pensamento esperançoso. Como escreve Nisbet (1980, p. 4), em sua obra History of the idea of progress (História da ideia de progresso). Nenhuma ideia foi mais importante do que, talvez, a ideia do progresso na civilização ocidental, por 3.000 anos. Entendidas suas falhas e distorções, a ideia do progresso tem sido, em sua arrasadora maioria, uma ideia nobre na história ocidental, nobre pelo que celebrou em incontáveis obras filosóficas, religiosas, científicas e históricas, e, acima de tudo, pelo que significou para as motivações e aspirações daqueles que compuseram a substância humana da civilização ocidental.
Essa fé no valor e na promessa de nossa civilização é essencial para o conceito de esperança, e vice-versa. Dessa forma, a esperança é a essência da fé no valor e na promessa de nossa civilização ocidental.
Conclusões
A esperança é a crença de que a vida pode ser melhor, junto com as motivações e os esforços para torná-la melhor. Mais do que desejar, ter anseios ou sonhar acordado, a esperança caracteriza o pensar que conduz a ações dotadas de sentido. Um anseio visualiza a mudança, mas pode não levar à ação. Pode-se desejar ganhar na loteria, mas isso não necessariamente leva a atividades importantes ou sustentadas para concretizá-lo. Mais além, as condições em torno da concretização de um anseio não são promissoras, porque pode haver poucos meios razoáveis ou, mesmo, realistas para fazê-lo.
Deve-se destacar que a civilização ocidental não detém o monopólio da ideia da esperança. Em todas as civilizações e períodos históricos, houve crenças e atividades esperançosas, mas a esperança não parece ser uma crença motivadora tão importante em todas as perspectivas culturais. Por exemplo, nas culturas indígenas [43] dos Estados Unidos, há menos expectativa de progresso. Em lugar disso, se o meio ambiente for respeitado e cuidado, as coisas devem ficar bem, mas não necessariamente ótimas. A crença dessas culturas é de que as tradições e as crenças podem não trazer prosperidade, mas ajudarão a evitar os desastres. Nesse caso, então, as diferenças entre os dois sistemas podem ser mais quantitativas do que qualitativas. As culturas indígenas dos Estados Unidos não supõem que as ações positivas levem a re sultados positivos tanto quanto no sistema de crenças da civilização ocidental européia, de modo que a esperança pode não ser uma força de motivação tão importante nas primeira culturas quanto no caso das segundas (Pierotti, comunicação pessoal,2005).
A ideia de esperança serviu como estrutura para o pensamento na civilização ocidental. Como observou Bronowski (1973) em relação à Revolução Industrial, a esperança ajudou a tornar o mundo nosso. Aonde a esperança nos levará, por sua vez, talvez seja a pergunta mais importante sobre o século XXI que se descortina.

A Ilíada de Homero - primeira grande conquista do povo grego: conquista da poesia - e o poema do homem na guerra, dos homens consagrados a guerra pelas suas paixões e pelos deuses. Ali um grande poeta fala da nobreza do homem frente a esse flagelo detestável, do homem arrebatado por Ares, bebedor de sangue... o mais odioso dos deuses. Ali fala da coragem dos heróis que matam e morrem com simplicidade, do sacrifício voluntario dos defensores da pátria, da dor das mulheres, do adeus do pai ao filho que o continuara, da suplica dos velhos. E muitas outras coisas: a ambição dos chefes, a sua cupidez, as querelas, as injurias com que se cumulam, e mais a covardia, a vaidade, o egoísmo, lado a lado com a bravura, a amizade, a ternura. A piedade mais forte que a vingança. Fala do amor da glória que eleva o homem a altura dos deuses. Fala desses deuses onipotentes e da sua serenidade. As suas paixões ciosas, o seu caprichoso interesse e a sua profunda indiferença pela turba dos mortais.
Acima de todas as coisas, este poema, onde reina a morte, fala do amor da vida, e também da honra do homem, mais alta que a vida e mais forte que os deuses.
É natural que um tema como este - o homem na guerra - tenha enchido o primeiro poema épico do povo grego, sempre devorado pela guerra. Para desenvolver este tema, Homero escolheu um episodio semi-fabuloso da histórica guerra de Troia, que se situa no principio do século XII antes da nossa era. Esta guerra teve por causa - sabemo-lo - a rivalidade econômica das primeiras tribos gregas instaladas seja na Grécia propriamente dita, os Aqueus de Micenas, seja sobre a costa asiática do Egeu, os Eólios de Troia.
O episodio escolhido pelo poeta, que dá a todo o poema a sua unidade de ação, é o da cólera de Aquiles; da sua querela com Agamemnon, rei de Micenas e chefe da expedição contra Troia, e das conseqüências funestas desta querela para os Gregos-Aqueus que assediavam Troia.
Eis a trama da ação. Agamemnon, chefe supremo, exige de Aquiles, o mais valente dos Gregos, muralha do exercito, que ele lhe ceda uma bela cativa, Briseida, que lhe coubera quando da partilha de um saque. Aquiles recusa-se, indignado, a ser privado de um bem que lhe pertence. Na assembléia do povo armado, onde esta exigência lhe é feita, insulta gravemente Agamemnon ("O ser vestido de impudência, avaro..., descarado, focinho de cão..., odre de vinho, coração de servo..."), queixa-se de suportar sempre o fardo mais pesado do combate e de receber em troca uma parte inferior a de Agamêmnon, covarde como soldado, ávido como general, "rei devorador do seu povo". Pronuncia diante de todos os seus camaradas o juramento solene de se retirar da batalha e de se fechar na sua tenda, de braços cruzados, enquanto não tiver recebido de Agamêmnon reparação da afronta infligida à sua bravura. Assim faz.
Aquiles, primeiro herói da Ilíada, e o coração e a charneira de toda a ação do poema. A sua retirada - é, com ela, a das suas tropas - tem para o exercito dos Aqueus as mais graves conseqüências. Na planície, sob os muros de Troia, sofrem três derrotas, cada uma mais desastrosa que as outras. Até aí sempre assaltantes, estão reduzidos a defensiva, vêem os Troianos, pela primeira vez em dez anos, atreverem-se a acampar, à noite, na planície. Os Gregos constroem um campo entrincheirado: de sitiantes tornam-se sitiados. Até mesmo este campo é forçado pelos Troianos, conduzidos por Heitor, o mais valoroso dos filhos de Príamo. O inimigo prepara-se para deitar fogo aos barcos dos Gregos, para lançar o seu exercito ao mar.
Ao longo destas duras batalhas, que enchem de carnificina e de proezas, de coragem desesperada mas infatigável, uma boa parte do poema, a ausência de Aquiles não é outra coisa, na opinião dos seus companheiros como na nossa, que o sinal evidente da sua força e do seu poder. Ausência-presença que comanda todos os movimentos e momentos do combate. Os mais valente dos chefes aqueus - o maciço Ajax, filho de Telamon, o rápido Ajax, filho de Oileu, o fogoso Diomedes, muitos outros mais, em vão se esforçam por substituir Aquiles. Mas estes valentes substitutos do valor de Aquiles não são mais que o dinheiro miúdo do jovem herói que - força, rapidez, fogosidade e
bravura - encarna por si só toda a virtude guerreira, sem falha nem fraqueza. Possuindo tudo e recusando tudo, provoca a derrota de todos.
Numa noite trágica, entre dois desastres, enquanto na sua tenda se atormenta na inatividade a que se condenou e que lhe pesa, Aquiles vê vir do campo dos Gregos uma embaixada de que fazem parte dois dos grandes chefes do exercito: Ajax, o primeiro defensor dos Gregos depois de Aquiles, tão teimoso como um burro puxado por crianças, o sutil Ulisses que conhece todas as voltas do coração e da palavra. A estes dois guerreiros se juntou o velho que criou a infância de Aquiles, o tocante Fenis, que lhe faz ouvir a palavra e como que o apelo insistente de seu pai.
Os três lhe suplicam que volte ao combate, que não falte à lealdade que o soldado deve aos seus camaradas, que salve o exercito. Em nome de Agamêmnon fazem-lhe promessas de presentes e de honrarias esplendidas. Mas Aquiles, menos ligado ainda pelo seu juramento que pelo amor-próprio, aos argumentos, às lágrimas, à própria honra, responde com um não brutal. E vai mais longe: declara que no dia seguinte retomará os caminhos do mar com as suas tropas e voltará ao lar, preferindo uma velhice obscura à gloria imortal, que escolhera, de morrer novo diante de Troia.
Esta versão da sua primeira escolha - a vida agora preferida à gloria - aviltá-lo-ia, se nela se pudesse manter.
Mas vem o dia seguinte e Aquiles não parte. E nesse dia que os Troianos forçam as defesas dos Gregos e que Heitor, agarrando-se à popa de uma nave defendida por Ajax, grita aos seus companheiros que lhe levem o fogo que desencadeará o incêndio da frota. Aquiles, na outra extremidade do campo, vê erguer-se a labareda do primeiro barco grego incendiado, essa labareda que dita a derrota dos Gregos é a sua própria desonra. Naquele momento não pode mostrar-se insensível às suplicas do mais querido dos seus companheiros, Patrocolo, a quem considera como a melhor metade de si mesmo. Patrocolo, em lágrimas, pede ao seu chefe que lhe permita combater em seu lugar, revestido dessas ilustres armas de Aquiles que não deixarão de amedrontar os Troianos. Aquiles aproveita a ocasião para fazer voltar ao combate, pelo menos, as suas tropas. Ele próprio arma Patroclo, põe-no à frente dos soldados, incita-o. Pátroclo repele os Troianos para fora do campo, longe dos barcos. Mas nesta brilhante contra-ofensiva que dirige, esbarra com Heitor que lhe faz frente. Heitor mata Patroclo em combate singular, não sem que Apolo invisível tenha ajudado a esta morte que, obtida pela intervenção de um deus, se assemelha a um assassínio.
A dor de Aquiles, ao saber a sorte do seu amigo, é assustadora. Jazendo no chão, recusando alimentar-se, arrancando os cabelos, sujando as roupas e o rosto de cinza, Aquiles soluça e pensa em morrer. (O suicídio é, aos olhos dos Gregos, o vergonhoso refugio dos covardes.) Por mais viva que tenda sido anteriormente a ferida infligida ao seu amor-próprio por Agamêmnon, a morte de Patroclo cava em Aquiles abismos de sofrimento e de paixão que o fazem esquecer o resto. Mas é esta mesma dor que o restitui à vida e à ação, desencadeando nele uma tempestade de furor, uma raiva de vingança contra Heitor assassino de Patroclo e contra o seu povo.
Assim se opera no poema, numa peripécia patética, pedida por Homero a psicologia de Aquiles, herói e motor da Ilíada, uma reviravolta completa da ação dramática, que parecia imobilizada definitivamente pela inflexibilidade desse mesmo herói que não cede jamais a nada senão à própria violência passional.
Aquiles volta ao combate. A quarta batalha da Ilíada começa. E a sua batalha, a da carnificina terrível que ele faz de todos os Troianos que encontra no caminho. Derrotado o exercito troiano, em parte exterminado, em parte afogado no rio para o qual Aquiles o fez recuar, o desmoralizado resto retira para o interior da cidade. Só Heitor fica do lado de fora das portas, apesar das suplicas de seu pai e sua mãe, para enfrentar o mortal inimigo da sua pátria.
O combate singular de Heitor e de Aquiles é o ponto culminante da Ilíada. Heitor combate como um valente, com o coração todo cheio de amor que dedica à mulher, ao filho, à sua terra. Aquiles é mais forte. Os próprios deuses que protegiam Heitor se afastam dele. Aquiles fere-o mortalmente. Leva para o campo dos Gregos o corpo de Heitor, não sem o ter ultrajado: ata o inimigo pelos pés à retaguarda do seu carro de guerra e com uma chicotada faz correr os cavalos, "e o corpo de Heitor era assim arrastado na poeira, os seus cabelos negros desmanchados, a cabeça suja de terra - essa cabeça antes tão bela, que Zeus agora entregava aos inimigos para que eles a ultrajem sobre o solo da pátria".
O poema não termina com esta cena. Aquiles, a quem Priamo vai suplicar na sua tenda, entrega-lhe o corpo do desgraçado filho. Heitor é sepultado pelo povo troiano com as honras fúnebres. Os lamentos das mulheres, os cantos de luto que elas improvisam, falam da desgraça e da gloria daquele que deu a vida pelos seus.
Tal e a ação deste poema imenso, conduzida com mestria por um artista de gênio. Mesmo que o poeta Homero, a quem o atribuem os antigos, não tenha inventado cada um dos múltiplos episódios, esses episódios estão aqui reunidos e ligados por ele numa esplendida unidade.
No decurso dos quatro séculos que separam a guerra de Troia da composição da Ilíada, que devemos situar no século VIII, muitos poetas sem duvida compuseram numerosas narrativas sobre esta guerra e já mesmo sobre a cólera de Aquiles. Estes poetas improvisavam em versos cujo ritmo era próximo do da linguagem falada, mas numa cadencia mais regular e mais nobre. Estes versos eram fluentes e fáceis de fixar. A Ilíada, que procede destes poemas improvisados, é ainda uma espécie de fluxo poético continuo, que carreia no seu curso muitas das formas estranhas da velha linguagem dos antepassados eólios, linguagem meio esquecida, mas que, enriquecida de epítetos esplendidos, dá a toda a epopéia uma sonoridade cintilante e um brilho sem igual.
Os poemas que tinham aberto o caminho a Homero transmitiam-se, por certo, de memória. (Verificou-se em improvisadores modernos de poesia época, os serbios, por exemplo, no século XIX, a faculdade de reter de cor e de transmitir sem escrita até oitenta mil versos.) Os improvisadores gregos, predecessores de Homero, recitavam os seus poemas, por fragmentos, nas casas senhoriais. Estes senhores não eram já os chefes ladrões da época de Micenas, eram sobretudo grandes proprietários rurais que se deleitavam com ouvir celebrar os cometimentos guerreiros do tempo passado. Vem uma altura em que aparecem no mundo grego os primeiros mercadores. E nas cidades da Jônia, na Ásia Menor, precisamente ao sul da terra eólia, em Mileto, Esmirna e outros portos. Homero vive no século VIII, numa destas cidades da costa jônia, não podemos precisar qual. É a época em que vai desencadear-se a luta das classes com uma violência súbita, como talvez em nenhum outro momento da historia. Nesta luta, o povo miserável, que não possui terras ou as possui medíocres, conduzido pela classe dos mercadores, vai tentar arrancar aos nobres proprietários o privilegio quase exclusivo que eles se tinham arrogado sobre o solo. No mesmo golpe arrancam à classe possidente a sua cultura, apropriam-se dela e com ela afeiçoam as primeiras obras-primas do povo grego.
Recentes trabalhos sugeriram que o nascimento da Ilíada, no século VIII, na Jônia, se coloca no momento em que a poesia improvisada e ainda flutuante se fixa numa obra de arte escrita e elaborada. O aparecimento da primeira epopéia, a mais bela da herança humana, esta ligado ao nascimento desta nova classe de burgueses comerciantes. São os comerciantes que difundem subitamente o uso antigo, mas pouco espalhado, da escrita. Um poeta jônio - um poeta de gênio a quem a tradição da o nome de Homero - eleva ao nível da obra de arte uma parte por ele escolhida da matéria tradicional épica improvisada. Ele compõe e escreve enfim, sobre papiro, a nossa Ilíada.
E o mesmo que dizer que a classe burguesa da valor artístico, da forma a uma cultura poética até ai informe. Ao mesmo tempo, esta cultura poética é posta por ela, nas recitações publicas, ao serviço de toda a cidade, ao serviço do povo.
Se quisermos caracterizar o gênio de Homero, diremos, antes de mais, que é um grande, um prodigioso criador de personagens.
A Ilíada é um mundo povoado, e povoado pelo seu criador de criaturas originais, diferentes umas das outras, como o são os seres vivos. Homero teria o direito de se apropriar da frase de Balzac: "Eu faço concorrência ao registro civil." Esta faculdade de criar seres em grande número, distintos uns dos outros, com o seu estado civil, os seus sinais característicos, o seu comportamento próprio (hoje diríamos: com a sua impressão digital), possui-a Homero no mais alto grau, como Balzac e também como Shakespeare, como os maiores criadores de personagens de todos os tempos.
Para fazer viver uma personagem - sem a descrever: pode dizer-se que Homero não descreve nunca -, basta por vezes ao poeta da Ilíada atribuir-lhe um só gesto, uma palavra única. Assim há centenas de soldados que morrem nos combates da Ilíada. Certas personagens entram no poema apenas para nele morrerem. E sempre ou quase sempre é um sentimento diferente em relação à morte que exprime esse gesto pelo qual o poeta dá a vida no instante mesmo em que a retira. "E Diores tombou no pó, de costas, estendendo os braços para os seus companheiros." Criou muitas vezes um poeta um ser para tão pouco e por tão pouco tempo? Um simples gesto, mas que nos toca no fundo, dando-nos a conhecer Diores no seu grande amor da vida.
Vejamos um quadro um pouco mais desenvolvido. Uma imagem de vida e uma imagem de morte.
"Polidoro era o mais novo dos filhos de Priamo e o mais amado deles. Na corrida, triunfava de todos. Nesse dia, por criancice, para mostrar o vigor dos seus jarretes, saltou e pôs-se a correr em frente das linhas..." Nesse momento, Aquiles fere-o. «...e ele caiu, gritando, sobre os joelhos, e uma nuvem negra envolvia os seus olhos, ao mesmo tempo que, amparando com as mãos as entranhas, tombava de vez".
E eis a morte de Harpalo. É um valente, mas que não consegue dominar um movimento de medo instintivo.
Virando costas, recuou para o grupo dos companheiros, ao mesmo tempo que olhava para todos os lados, receoso de que uma flecha de bronze lhe viesse ferir a carne.
E ferido e, no chão, o seu corpo exprime ainda a sua revolta, torcendo-se "como um verme".
A atitude tranqüila do corpo de Cebreno exprime, pelo contrário, a simplicidade com que o herói, cuja bravura e sem macula, entrou na morte. Ao redor dele continua o tumulto da batalha: ele repousa no esquecimento e na paz.
Os Troianos e os Aqueus lançavam-se uns contra os outros, procurando despedaçar-se... Em volta de Cebreno, centenas de dardos agudos iam cravar-se no alvo... Centenas de grandes pedras rebentavam os escudos dos combatentes. Mas ele, Cebreno, grande, ocupando um grande espaço, jazia no pó, para sempre esquecido dos cavalos e dos carros.
E assim que Homero vai direito ao homem. Com um gesto, uma atitude, por mais insignificante que seja a personagem que nos da a ver, caracteriza o que faz o fundo de cada ser humano.
Quase todas as personagens da Ilíada são soldados. A maior parte destes soldados são bravos. Mas é notável que nenhum seja bravo da mesma maneira. A bravura de Ajax, filho de Telamon, é pesada: bravura de resistência. Ajax é um homem grande, de largos ombros, "enorme". Esta bravura é como um bloco que ninguém remove. Uma comparação (que escandalizava os nossos clássicos pela sua vulgaridade não épica (!) e a qual se fez já alusão) define-a na sua teimosia. "Muitas vezes um burro, na berma de um campo, resiste às crianças. Como que escorado, podem partir-lhe em cima pau apos pau: uma vez que entrou no trigo basto, faro a colheita. As crianças castigam-no de pancadas. Pueris violências! Não o farão mexer-se dali enquanto não se fartar. Assim combatia o grande Ajax..."
Ajax tem a coragem da obstinação. Pouca impetuosidade na ofensiva, a sua massa de ,javali a isso se não presta. Pesado de espírito como de corpo. Não estúpido, antes limitado. Há coisas que ele não compreende. Assim, na embaixada dos chefes junto de Aquiles, não compreende que o herói se obstine por causa de Briseida: Por causa de uma só mulher! , exclama, quando vimos oferecer-te sete, belíssimas, e ainda por cima montes de outros presentes.
A rudeza de Ajax serve-o admiravelmente na defensiva. Deram-lhe ordem de ficar onde o puseram, e ai fica. Limitado no sentido etimologico da palavra: a maneira de um limite que e posto ali para dizer que ndo se deve passar alem. O poeta chama-lhe uma torre, um muro. Bravura de betdo.
Ei-lo no barco que defende, caminhando no castelo da proa "a grandes passadas", dominando todo o espaço a guardar, matando a lançadas metódicas os assaltantes um após outro, ou armando-se, se preciso for, de um enorme choque de abordagem. A sua eloqüência é a de um soldado. Diz-se em três palavras: não arredar pé. "Com quem mais contam?", grita ele... "Só nós temos a nós... Logo, a salvação está nas nossas mãos." O desanimo é outra coisa que não compreende. Sabe que uma batalha não é um ,baile, como ele mesmo diz, mas um lugar onde, no corpo a corpo pomos em contato os braços e a coragem com os do inimigo. Então "sabe-se num instante, e ainda bem, se se vai morrer ou continuar vivo". Eis os pensamentos simples que fazem, no meio do combate, nascer o sorriso no rosto terrível de Ajax.
A bravura de Ajax é a do espartano ou do romano antecipado, do espartano a quem o regulamento militar proibia recuar, de Horácio Cocles sobre a sua ponte. Bravura de todos os bons soldados que se deixam matar para agüentar. Heroísmo pintado por Homero muito antes que Plutarco o tenha passado ao copiador, ao alcance do primeiro homem de letras que apareça. Diferente é a bravura de Diomedes. Coragem, não de resistência, mas de ímpeto. Não bravura espartana, mas fúria francese. Diomedes tem a fogosidade e o atrevimento da juventude, tem a labareda. É ele o mais jovem dos heróis da Ilíada, depois de Aquiles. A sua juventude é atrevida para com os mais velhos. Na cena noturna do conselho dos chefes, Diomedes mostra-se impetuoso a atacar a conduta de Agamêmnon: pede que o rei dos reis apresente desculpas a Aquiles. Entretanto, no campo de batalha, é um soldado disciplinado, aceita tudo do general-comandante, mesmo as mais injustas censuras.
Diomedes e um soldado sempre pronto a marchar, tem alma de voluntario. Apos um duro dia de batalha, é ainda ele que se oferece para um perigoso reconhecimento noturno no campo troiano. Gosta de fazer mais que o seu dever. Uma embriaguez leva-o para o mais aceso do combate. Quando todos os chefes fogem diante de Heitor, Diomedes é ainda empurrado para a frente pela coragem que nele habita. A sua lança participa desta embriaguez: "A minha lança esta louca entre as minhas mãos, leva o próprio velho Nestor a precipitar-se contra Heitor. É preciso que Zeus, que quer a vitoria de Heitor, expulse com relâmpagos os dois bravos do campo de batalha. "A labareda branca jorrou terrível e caiu, entre o odor do enxofre queimado, mesmo a frente do carro de Diomedes. Os cavalos amedrontados procuram esconder-se debaixo do carro, as rédeas escapam-se nas mãos de Nestor, Mas Diomedes não tremeu.
Homero deu a Diomedes a coragem mais brilhante de todo o poema. O soldado combate tão longe dos seus que,do filho de Tideu (Diomedes), diz o poeta, não podeis saber se luta do lado dos de Tróia ou dos Aqueus.
As comparações de que Homero usa para o mostrar aos nossos olhos tem sempre um caráter arrastante: ele é a água duma torrente que na planície derruba as sebes dos pomares e esses diques de terra com que os camponeses procuram deter a água que transborda. Para acentuar a qualidade desta coragem brilhante, Homero acende em pleno combate uma labareda simbólica no alto do capacete de Diomedes.
Este herói recebe enfim do poeta o privilegio único de combater contra os deuses. Nem Aquiles nem nenhum dos outros se arriscam a enfrentar os Imortais que se juntam aos combates dos mortais. Só Diomedes, em cenas de uma singular grandeza, leva a temeridade ao ponto de perseguir e atacar Afrodite, Apolo, e depois o próprio Ares. Ataca a deusa da beleza que tentava furtar-lhe um adversário troiano que ele derrubava. Fere-a e faz correr o sangue. "O seu dardo agudo, através do ligeiro véu tecido pelas Graças, penetra na pele delicada do braço, e, acima do punho da deusa, jorra o sangue imortal. Do mesmo modo, fere Ares, e o deus dos combates solta um rugido como o de dez mil guerreiros. Tudo isto sem arrogância. Não há presunção ímpia em Diomedes. Nada além desse fogo interior que o impele a todas as audácias. Diomedes é um apaixonado. Mas que diferença singular a que há entre o apaixonado sombrio que e Aquiles e Diomedes, o apaixonado luminoso! Diomedes é um entusiasta.
Entusiasta: a palavra designa em grego (a etimologia o indica) um homem que traz em si o sopro divino. Uma deusa e amiga de Diomedes: a belicosa mas sábia Atena habita nele, confunde com a dele a sua alma. Sobe ao lado de Diomedes no carro. É ela que o lança no coração da peleja, ela que o enche de força e de coragem - "Ama-me, Atena!" grita-lhe Diomedes -, ela que aponta aos seus golpes o ardente Ares, esse furioso, o Mal encarnando, diz Atena, deus detestado pelos homens e pelos deuses, porque desencadeia a guerra hedionda, esse deus que entre os Gregos sempre teve poucos templos e altares.
A fé que deposita na palavra de Atena é, para Diomedes, a fonte profunda da coragem.
Esta fé da, por momentos, a este soldado aqueu um ar de parentesco com um cavaleiro da nossa Idade Media. Diomedes e o único da Ilíada que pode ser denominado cavaleiresco. Um dia, antes de iniciar o combate com um troiano de quem ignora o nome, sabe, no momento em que o vai ferir, que esse nome e Glaucos e esse homem o neto de um hospede de seu avô. Então o bravo Diomedes sentiu grande alegria e, cravando a lança na terra nutriente, dirigiu ao seu nobre adversário estas palavras plenas de amizade: "Em verdade tu és um hospede da minha casa paterna e os nossos lagos vem de velha data... Não me lembro de meu pai, era muito pequeno quando ele morreu... Por ele e por teu pai, sejamos doravante amigos um para o outro. Tu, na Argólida, serás sempre o meu hospede, e eu serei o teu na Licia, no dia em que for a essa terra. Evitemos as nossas lanças na batalha. Tenho outros Troianos a matar e tu outros Aqueus... Troquemos as nossas armas, para que todos saibam que nos orgulhamos de ser amigos e hospedes por nossos pais..." Dito isto, os dois guerreiros saltam dos carros, apertam as mãos e firmam amizade.
A cena é irradiante. Homero não podia atribuir este gesto generoso a nenhum outro dos seus heróis que ao entusiasta Diomedes.
Cena surpreendente, mas cujo fim nos surpreende mais ainda. Assim ela se conclui: "Mas nesse instante Zeus confundiu o espírito de Glaucos, que deu a Diomedes apenas de ouro em troca de arenas de bronze - o valor de cem bois pelo de nove".
O poeta não nos diz que o seu favorito tenha ficado satisfeito. Dá-o no entanto a entender, uma vez que Diomedes não faz notar a Glaucos o erro. Este grão de capacidade na alma cavalheiresca de Diomedes é o contraveneno do idealismo convencional que ameaça de perigo mortal toda a obra cujas personagens são heróis. Profundo realismo de Homero na pintura do coração humano.
Não há só soldados na Ilíada, há mulheres, há velhos. E entre os soldados não há apenas valentes, há Paris.
Os estranhos amores de Paris e de Helena estavam, segundo a tradição, na origem da guerra de Troia. Continuam presentes e ativos, com uma força singular, no conflito da Ilíada.
Paris era o sedutor e o raptor de Helena. Primeiro autor da guerra, era também vencedor de Aquiles, a quem matava com a sua flecha. É de crer que houve um tempo em que, nas epopéias do ciclo de Troia anteriores a Ilíada, Paris era apresentado como o herói da guerra que provocara, o campeão de Troia e de Helena.
Parece ter sido o próprio Homero que, substituindo-o neste nobre papel por seu irmão Heitor, personagem mais recente no ciclo troiano, fez de Paris o covarde da Ilíada. Em todo o caso, o instinto dramático de Homero coloca Paris nos antípodas de Heitor e mantém, através de todo o poema, um conflito permanente entre os dois irmãos. Heitor é o puro herói, o protetor e salvador de Troia, Paris é quase o covarde no estado puro, é "o flagelo da sua pátria".
Não é que Paris não experimente por repentes o prestigio do ideal do seu tempo: quereria ser bravo, mas, ser bravo em atos - o seu coração é o seu belo corpo de covarde, no instante decisivo, recusam-se. Com muitos gemidos e desculpas, promete a Heitor segui-lo ao combate, que abandonou sem razão que colha. Explicações miseráveis: "Retirei-me para o meu quarto, para me entregar ao desgosto". Promessas vacilantes «Agora minha mulher me aconselha com doces palavras que volte ao combate...» (Estas doces palavras tínhamo-las nós ouvido antes. Uma salva de injúrias que Páris engolia quase sem resposta.) E continua: «E eu próprio creio bem que será melhor assim... Espera-me, pois. Deixa apenas que envergue a minha armadura. Ou antes, parte, eu te seguirei, e penso que me juntarei a ti.» Para um soldado, não falta desenvoltura ao tom.
Certos pormenores materiais desenham ainda a cobardia de Páris. O arco é a sua arma preferida. Permite-lhe evitar o corpo a corpo que faz «tremer os seus joelhos e empalidecer as faces». Para desferir o arco, esconde-se atrás dos seus camaradas ou da estela dum túmulo. Se fere um inimigo, «salta para fora do esconderijo, a rir às gargalhadas».
Contudo, Páris nao é o cobarde absoluto. O medo afasta-o da peleja, mas acontece que a vaidade, o desejo de gloríola lá o reconduz. Porque Páris é vaidoso da sua beleza, vaidoso da pele de pantera que traz sobre os ombros mesmo no combate, vaidoso do seu penteado em caracóis que é um penteado de mulher. É vaidoso das suas armas, que passa o tempo a polir no aposento das mulheres, enquanto os outros se batem. Tudo isto, trajes e beleza – e a sua maneira de «mirar as raparigas», a sua paixão das mulheres, os seus triunfos de sedutor—, não deixou de fazer de Páris, em Tróia, uma personagem talvez desprezada, mas importante. De bom grado ele juntaria aos seus diversos títulos de «subornador», com que Heitor o vergasta como insultos, o título de bravo guerreiro. Com a condição de obter com pouco trabalho com o seu arco — esse certificado de bravura. Apanhado neste conflito da gloríola e do medo, Páris sai dele com o desembaraço e as reticências meio sinceras que marcam de facto a sua própria incerteza sobre os sentimentos que, afinal, prevalecerão em si. Este belo rapaz, cobarde e vaidoso, em cujo leito Afrodite lança Helena revoltada, será, afinal, apenas desprezível?
A análise psicológica no simples plano humano não permite responder a esta questão. Não atinge Páris no seu cerne. A pessoa de Páris só se explica se reconhecermos que ela é o lugar duma experiência a que teremos de chamar religiosa. Insultado por Heitor, Páris admite sem dificuldade que o seu irmão o censurou justamente da sua cobardia. O que ele não aceita é a injúria feita à sua beleza e aos seus amores. Ele replica ao irmão, não sem justo orgulho: «Não tens o direito de me censurar pelos dons encantadores da loura Afrodite. Não devemos desprezar os dons gloriosos dos deuses. É o Céu que os outorga, e nós não temos meio de fazer nós próprios a nossa escolha.» Como se tornou altivo o tom do leviano Páris! Chegou a sua vez de dar lições a Heitor. Os dons que recebeu do Céu, não os «escolhe» o homem, foram-lhe «dados». Foi de Afrodite que ele recebeu a graça da beleza, o desejo e o dom de inspirar o amor. Amor e beleza, dons gratuitos, coisas divinas. Páris não permite que os rebaixem, que insultem assim uma divindade. Não escolheu, foi objecto de uma escolha: tem a consciência de ser um eleito. (O facto de ele receber o divino na sua carne não deve impedir-nos de admitir que Páris faz uma experiência religiosa autêntica.)
A partir daqui compreendemos a perfeita coerência do carácter de Páris. A sua paixão não é a de um simples gozador, é uma consagração. Não lhe dá apenas o prazer dos sentidos — embora lho dê, indiscutivelmente — , aproxima-o da condição da divindade. A sua leviandade, a sua indiferença, atingem a serenidade dos deuses bem-aventurados. Não há mais questões a pôr. Desprendido doutros cuidados que não sejam os de Afrodite, vai buscar à consciência de ser o representante dela entre os homens contentamento, plenitude, autoridade. A sua vida é simplificada porque é dirigida.
É certo que, no mundo da guerra onde vive, se comporta como um cobarde. A sua vontade é fraca ou nula. Mas esta fraqueza fundamental, é capaz de a encher completamente a força de Afrodite. Páris achou no abandono à vontade divina uma forma de fatalismo que o dispensa do esforço e o liberta do remorso. A sua piedade justifica a sua imoralidade. E que grandeza no seu apelo ardente a Helena quando Afrodite, depois de o arrancar à lança de Melenau, o transporta ao leito perfumado onde sua mulher, à força, vai ter com ele: «Vamos! deitemo-nos e saboreemos o prazer do amor. Nunca o desejo a este ponto se apoderou de mim, apertando-me a alma. Não, nem mesmo no dia em que, arrebatando-te da tua bela Lacedemónia, ganhei o mar com os meus barcos, e na ilha de Crânao me uni a ti no amor — não, não, nunca como te amo nesta hora em que a volúpia do desejo me possui.»
Afrodite fala pela boca de Páris, Afrodite força cósmica, e confere-lhe grandeza, por mais pobre que seja o instrumento que escolheu — esse cobarde que o povo troiano «revestiria de vontade de uma túnica de pedras!»
A uma distância infinita de Páris, Helena, sensível mais do que sensual, coloca-se, pelo seu carácter, no pólo inverso de Páris. Moral diante do seu amante amoral, resiste à paixão que Afrodite lhe inflige, quereria recusar-se ao prazer que esta a obriga a partilhar. A amoralidade de Páris procedia da sua piedade, a moralidade de Helena revolta-a contra a deusa.
Ambos belos e ambos apaixonados, a sua beleza e a sua paixão são dons que eles não podem afastar e que constituem o seu destino.
Contudo, a natureza de Helena era feita para a ordem e a regra. Ela evoca com pena o tempo em que tudo lhe era fácil, no respeito e na ternura dos laços familiares. «Deixei o meu quarto nupcial, os parentes, a minha família querida... Por isso, entre lágrimas vou penando.» Julga-se a si mesma com severidade, acha natural o juízo severo feito sobre ela pelo povo troiano.
Helena ainda se consolaria do seu destino se Páris fosse valente, se tivesse honra, como era o caso de seu marido Menelau, que ela dá como exemplo de coragem ao amante. Nada dispunha pois a moral Helena a desempenhar, na glória que a poesia confere, o papel da mulher adúltera, instrumento de raínha de dois povos. Paradoxalmente, Homero fez desta esposa culpada, por quem Aqueus e Troianos se exterminam, uma mulher simples que só pedia que a deixassem viver obscuramente a sua vida de boa esposa e de terna mãe. Há paradoxo desde que os deuses entram nas nossas vidas— pelo menos estes deuses homéricos que não apreciam muito a moral que nós inventámos para nos defendermos deles. Afrodite apoderou-se de Helena para manifestar a sua omnipotência. Verga a sua vítima sob a dupla fatalidade da beleza e do desejo furioso que inspira aos homens. Helena torna-se a imagem da própria Afrodite.
E é esta inquietação religiosa que se apossa dos homens na sua presença. Qualquer coisa que, por um instante, lança os velhos de Tróia em êxtase e tremor e faz desatinar a experiência. Quando a vêem subir às muralhas onde estão reunidos, estranhamente dizem: «É justo que, por uma tal mulher, Aqueus e Troianos sofram longas provações, porque ela se assemelha, de maneira terrível, às deusas imortais.» Terríveis velhos estes, que justificam a selvática matança de dois povos pela simples beleza de Helena!
Contudo, nem todos os Troianos se enganam. Nem Príamo nem Heitor confundem Helena, mulher simples e bondosa, Helena que se odeia a si mesma, Helena que odeia a sua paixão incompreensível e contudo a ama, como ama Páris, no sentido de que não poderá nunca desligar-se dele – essa Helena que é toda humana, não a confundem com a beleza fatal que está nela como uma labareda destruidora, manifestação da omnipotência divina. «Para mim», diz Príamo, «não és tu a culpada, mas os deuses.»
Helena não é senhora das consequências da sua beleza. Essa beleza, não a quis ela nem a cultivou. Recebeu-a como uma maldição do Céu, tanto como um dom. A sua beleza é também a sua fatalidade.
Eis agora, após estas estrelas brilhantes, mas de segunda grandeza, os astros cintilantes da Ilíada, Aquiles e Heitor. Nestes dois sóis do poema, Homero ilumina dois modos tão essenciais da vida humana que é difícil vivê-la a uma certa altitude sem participar de um e de outro. Aquiles aparece em primeiro lugar como uma imagem da juventude e da força. Jovem pela idade (anda pelos vinte e sete anos), é-o sobretudo pelo calor do sangue, pela fogosidade das suas cóleras. Juventude indomada, que cresceu na guerra e que não aceitou ainda nem sequer conheceu o freio da vida social.
Aquiles é a juventude e é a força. Uma força segura de si mesma, que os fracos imploram para se defenderem dos humores dos grandes. Assim faz Calcas, o adivinho, no limiar da Ilíada. Interrogado por Agamémnon sobre a causa da peste que caiu sobre a armada, Calcas hesita em responder. Sabe que é perigoso dizer a verdade aos poderosos. Implora a protecção de Aquiles. O jovem herói promete-lhe a sua força sem reserva: «Tranquiliza-te, Calcas. Ninguém entre os Aqueus, vivo eu e com os olhos abertos, levantará contra ti mãos violentas... ainda que designasses Agamémnon, que se glorifica de ser o mais poderoso dos Aqueus.» Eis a primeira imagem de Aquiles, irradiante de força.
Mais adiante, quando, desafiado por Agamémnon, rompe em ameaças, essa força afirma-se com orgulho no amplo juramento (que apenas citarei parcialmente) que Aquiles faz de não mais agir. «Sim, por este ceptro sem folhas nem ramos, que não reverdecerá mais depois que o bronze o cortou duma árvore da montanha... em verdade, por este ceptro entregue aos Aqueus por Zeus para que eles ditem a justiça, e em seu nome mantenham as leis, não tardará que o pesar da ausência de Aquiles invada todos os filhos dos gregos, e tu gemerás de impotência de os salvar quando eles caírem numerosos sobre os golpes mortais de Heitor, e tu sentir-te-ás irritado e dilacerado no mais fundo da alma por teres ultrajado o mais bravo dos Aqueus. — Assim falou o filho de Peleu e, lançando ao chão o ceptro dos pregos de ouro, sentou-se.»
A partir daí, e durante mais de dezoito cantos, a Força está imóvel. Imagem tão impressionante nesta imobilidade mortal para os Gregos, como na sua fúria nos cantos de batalha de Aquiles. Porque nós sabemos que, para salvar o exército, bastaria que Aquiles, que «se sentou», se levantasse. Ulisses, no centro da sua ausência, diz-lhe: «Levanta-te e salva o exército...»
Finalmente, a Força levanta-se. «E Aquiles levantou-se... Uma alta claridade irradiava da sua cabeça até ao Céu, e ele avançou até à borda do fosso.
Ali, de pé, soltou um grito, e esta voz suscitou entre os Troianos um tumulto indizível.» Para pintar a força de Aquiles, Homero tem comparações de grande poder. Aquiles é semelhante a um vasto incêndio que estrondeia nas gargantas profundas da montanha; a espessa floresta arde, o vento sacode e rola as labaredas, assim se precipitava Aquiles, como um deus, matando todos aqueles a quem perseguia, e a terra negra escorria sangue.
Ou ainda tira o poeta, não já de um flagelo natural, mas da imagem dum trabalho pacifico, um ponto de comparação do furor destruidor de Aquiles. «Tal como dois bois de larga fronte calcam a cevada branca numa eira circular e como os grãos sob as patas dos animais que mugem se escapam das hastes frágeis, assim, impelidos pelo magnânimo Aquiles, os cavalos pisavam os cadáveres e os escudos. E todo o eixo estava inundado de sangue e os taipais do carro escorriam das gotas de sangue que saltavam das rodas e dos cascos dos cavalos. E o filho de Peleu era ávido de glória, e o sangue sujava as suas mãos inevitáveis.»
Força destruidora, força maculada de sangue, assim surge Aquiles nos cantos mais terríveis do poema. Aquiles é atroz. Raramente um poeta levou o horror mais longe que em cenas como a da morte do adolescente Licáon. A súplica desta criança desarmada, a lembrança do seu primeiro encontro com Aquiles no pomar de seu pai, a história do seu salvamento inesperado, tudo isto enternece, mas apenas para tornar mais brutal a resposta de Aquiles, mais selvática a morte e mais horrível o gesto de agarrar o cadáver pelos pés e de o lançar aos peixes do Escamandro entre imprecações.
Em tudo isto, é ainda um homem, ou nada mais que um bruto, este filho duma deusa? Um homem em todo o caso, pela sua extrema sensibilidade às paixões. É aqui que está a mola psíquica da força de Aquiles: sensível às paixões, e da maneira mais aguda, devorado pela amizade, pelo amor-próprio, e pela glória, e pelo ódio. A força de Aquiles, o mais vulnerável dos homens, só se declara, com uma violência inaudita, no fluxo da paixão. Aquiles, que parece aos olhos horrorizados de Licáon, aos nossos, tão insensível, tão inflexível, só é inflexível porque está todo ele retesado por uma paixão que o endurece como o ferro, só é insensível a tudo porque é unicamente sensível a ela. Nada de sobre-humano, nada de divino neste homem, se o divino é o impassível. Aquiles nada domina, tudo sofre. Briseida, Agamémnon, Pátroclo, Heitor — a vida desencadeia nele, destes quatro pontos cardeais do seu horizonte sentimental, uma tormenta após outra, de amor ou de ódio. A sua alma é como um vasto céu, jamais sereno, onde a paixão amontoa e faz rebentar incessantes tempestades.
A calma nunca passa de aparência. Assim, na cena de reconciliação com Agamémnon, Aquiles, para quem este títere que tanto o ulcerou já não conta, está pronto a todas as concessões, até as mais generosas, e de repente, porque tardam em partir, a paixão nova que o possui, a amizade que pede vingança, faz rebentar a calma da superfície. Ele grita: «O meu amigo está morto, deitado na minha tenda, traspassado pelo bronze agudo, os pés para a entrada, e os meus companheiros choram em redor dele... E eu, eu não tenho outro desejo no coração que a carnificina, o sangue e o gemido dos guerreiros.»
Aquiles é uma sensibilidade violentamente abalada pelo objecto que deseja, lamenta ou detesta no momento presente, cega para todo o resto. A imagem passional pode mudar: é Agamémnon, Pátroclo ou Heitor. Mas logo que tomou posse da alma, ela põe em movimento todo o ser e desencadeia a necessidade da acção. A paixão é. em Aquiles, uma obsessão que só pela acção pode ser aliviada.
Este encadeamento — paixão, sofrimento, acção — é Aquiles. Mesmo depois da morte de Heitor, quando parece que a paixão saciada (mas não está na sua natureza sê-lo alguma vez) o deveria deixar em paz.
«Acabada a luta. os soldados dispersaram-se, voltaram às naves, a fim de comer e gozar do suave sono. Mas Aquiles chorava, lembrando-se do companheiro querido, e o sono, que a tudo doma, não o visitava a ele. Andava de um lado para o outro, deplorando a perda da força de Pátroclo e do seu coração heróico. E lembrava-se das coisas realizadas e dos males sofridos em comum, de todos os seus combates e dos perigos enfrentados no mar infinito. A esta lembrança, as lágrimas caíam-lhe, ora deitado de lado, ora de costas, ora com o rosto contra a terra. Depois levantou-se bruscamente, com o coração intumescido de dor, e foi ao acaso pela borda do mar, até ao momento em que, quando a Aurora aparecia por cima das vagas e dos promontórios, atou Heitor atrás do carro e duas vezes em volta do túmulo de Pátroclo o arrastou. Depois voltou à sua tenda para repousar e deixar Heitor estendido, com o rosto no pó.»
Viu-se neste texto como a imagem passional, sobretudo no silêncio nocturno, invade o campo da consciência, faz subir na alma todas as recordações, torna a dor pungente, até que se desencadeie a acção que, por um momento, liberta da angústia.
Eis a primeira chave de Aquiles: paixões fortes que se aliviam graças a violentas ações.
Um homem assim, começa por parecer um puro indivíduo. O demónio do poder, que se alimenta e se acresce de todas as suas vitórias, parece ter-se tomado a lei única da pessoa de Aquiles. O herói quebra e pisa todos os laços que o ligavam à comunidade dos seus camaradas, a todos os outros homens. A paixão, pela acção dissolvente e anárquica que lhe é própria, aniquila nele o sentido da honra, vota-o à mais desumana crueldade. Quando Heitor vencido e moribundo lhe dirige o apelo mais pungente que na Ilíada se encontra, rogando-lhe apenas que o seu corpo seja entregue aos seus. Aquiles responde: «Cão, não supliques nem pelos meus joelhos nem pelos meus pais. Tão verdade como eu quereria ter a força de cortar o teu corpo em pedaços e de comer a tua carne crua pelo mal que me fizeste, ninguém afastará dos cães a tua cabeça, ainda que me oferecessem dez ou vinte vezes o teu resgate, ainda que Príamo pusesse na balança o teu peso em ouro... Não, tua mãe não te
chorará num leito fúnebre. Os cães e as aves te devorarão todo.»
Neste caminho deserto por onde Aquiles avança, é para a solidão mais inumana que ele marcha. Vota-se à sua própria destruição. Vêmo-lo já na cena em que fala de abandonar o exército, sem cuidar do desastre dos seus Atreve-se a declarar preferir a velhice à glória. Viver velho, remoendo dia apos dia o seu rancor, é negar o sentido da sua vida. Não o pode fazer.
Em verdade, Aquiles ama a vida, ama-a prodigiosamente e sempre no instante e no ato. Sempre pronto a apoderar-se do que ela lhe traz de emoção e de acção, estreitamente cingido ao presente, agarra com avidez tudo quanto cada acontecimento lhe oferece. Pronto para matar, pronto para a cólera, pronto para a ternura e mesmo para a piedade, a tudo acolhe, não à maneira do sage antigo, com uma igual indiferença, mas à maneira duma natureza robusta, faminta, que se alimenta de tudo com igual ardor. Extraindo mesmo do sofrimento a alegria. Da morte de Pátroclo tira ele a alegria da carnificina, e o poeta diz-nos, no mesmo momento, que «uma dor horrível enchia o coração de Aquiles» e que «as suas armas eram asas que o impeliam e erguiam o príncipe dos povos». Este arrebatamento da vida é em Aquiles tão forte que tudo nele parece desafiar a morte. Nunca pensa nela, a morte não existe para ele, de tal maneira está ligado ao presente. Duas vezes é avisado: se matar Heitor, morrerá. Responde: que me importa? Antes morrer que ficar junto das naves, «inútil fardo da terra». Ao seu cavalo Xanto, que singularmente toma a palavra para lhe anunciar a morte no próximo combate, responde com indiferença: «Para quê anunciar a minha morte?... Sei que o meu destino é morrer longe de meu pai e de minha mãe. E contudo não me deterei antes de ter fartado os Troianos de combates. — Assim falou e, com grandes gritos, impeliu os cavalos para as fileiras da frente.»
A sageza de Aquiles é, aqui, profunda. Ama a vida o bastante para preferir a intensidade dela à duração. É este o sentido da escolha que fizera na juventude: a glória conquistada na ação, eis uma forma de vida que lhe inspira um amor ainda mais violento que uma vida que decorresse sem história. Esta escolha, após um instante de fraqueza, é mantida com firmeza. A morte em glória é também a imortalidade na memória dos homens. Aquiles escolheu viver até nós e para além de nós.
Assim o indivíduo Aquiles se liga pelo amor da glória à comunidade dos homens de todos os tempos. A glória não é para ele apenas um túmulo solene, é sim a pátria comum dos homens vivos.
Há ainda uma cena da Ilíada, a mais bela, em que Aquiles, de outro modo, revela a humanidade profunda do seu ser. Uma noite em que trouxera, depois de o ter arrastado atrás do carro, o corpo de Heitor para a sua tenda, recorda, no silêncio, o amigo morto. De súbito, Príamo, o velho pai privado do seu filho, apresenta-se perante ele, com risco da vida. Ajoelha aos pés de Aquiles, «beija aquelas mãos assassinas que lhe mataram tantos filhos». Fala do pai de Aquiles, Peleu, que vive ainda na sua terra distante e se regozija à ideia de que o filho está vivo. Ousa suplicar a Aquiles que lhe restitua o corpo de Heitor para que este receba honras fúnebres. Aquiles é tocado até ao fundo da alma pela invocação de seu pai. Levanta docemente o velho e, durante alguns instantes, choram ambos, um por seu pai e por Pátroclo, o outro por Heitor. Aquiles promete a Príamo restituir-lhe o corpo do filho. Assim se conclui, numa cena de extrema beleza e de humanidade tanto mais luminosa quanto a não esperávamos de Aquiles, o retrato deste duro herói da paixão e da glória.
E agora, admirável Heitor, gostaríamos de falar de ti em termos líricos. Mas Homero, que trata todas as suas personagens com igual imparcialidade, que não faz nunca juízos sobre eles, no-lo proíbe. O poeta quer ser apenas o estanho do vidro, que permite às suas criaturas reflectirem-se no espelho da sua arte.
Contudo, Homero não consegue esconder-nos a sua amizade por Heitor. Ao passo que os traços da pessoa de Aquiles os foi buscar à mais antiga tradição da epopeia, Homero modelou Heitor com as suas próprias mãos, usando talvez, quando muito, um esboço rudimentar anterior. Heitor é a sua criatura de eleição. Mais do que nenhuma outra, o poeta diz nela a sua fé no homem. Não nos esqueçamos também de fixar este ponto: ao escrever um poema no quadro geral da guerra de Tróia, o que implica a vitória dos Gregos, poema no qual não esconde o seu patriotismo helênico, Homero vem a escolher o chefe dos inimigos para encarnar, nele, a mais alta nobreza humana que pode conceber. Há aqui uma prova de humanismo que não é rara entre os Gregos.
Como Aquiles e como a maior parte das personagens de epopeia, Heitor é bravo e forte. Comparações brilhantes, jamais tingidas de sangue, desenham a sua força e a sua beleza. «Tal como o garanhão, alimentado de cevada abundante e longo tempo preso à manjedoura, parte de súbito o laço, e, num galope que faz ressoar o solo, corre a mergulhar-se nas águas do claro rio, e depois, de cabeça erguida, sacudindo as crinas, orgulhoso da sua beleza, salta até onde pastam as éguas, assim Heitor, etc...»
Tão bravo como Aquiles, a bravura de Heitor é no entanto de uma qualidade inteiramente diferente. Não é bravura de natureza, mas de razão. Coragem conquistada sobre a sua própria natureza, disciplina que se impôs a si próprio. A paixão de Aquiles pode comprazer-se na guerra; Heitor, esse, detesta a guerra. Di-lo com simplicidade a Andrómaca: teve de «aprender» a ser bravo, a combater na primeira fila dos Troianos. A sua coragem é a mais alta coragem, a única que, segundo Sócrates, merece esse nome, porque, não ignorando o medo, o supera. Quando Heitor vê avançar ao seu encontro Ájax «monstruoso, com o seu sorriso no rosto medonho», não pode reprimir um movimento de temor instintivo. Movimento apenas corporal: o seu coração começa a «bater» mais forte no peito. Mas domina este medo físico. Para vencê-lo, apela para a sua «ciência» do combate. «Ájax», diz, «não procures assustar-me como a uma criança débil... Eu possuo a ciência de tudo quanto diz respeito à batalha. Sei a maneira de derrubar homens... Sei, à esquerda, à direita, opor o escudo de couro que é a minha boa ferramenta de guerra... Sei, no corpo a corpo, dançar a dança do cruel Ares.»
Heitor não ignora a tentação da cobardia. Tendo ficado às portas de Tróia para enfrentar Aquiles, para matá-lo ou ser morto por ele, ainda lhe é fácil afastar as súplicas que, do alto das muralhas, lhe dirigem seu pai e sua mãe para que entre na cidade. Estas súplicas dilaceram-no, representando-lhe o incêndio de Tróia, o extermínio ou a escravização dos seus, que se seguiriam à sua morte. O respeito humano basta-lhe contudo para repelir a tentação. Mas depois, abandonado a si mesmo, estranhos pensamentos, no silêncio do seu coração, perturbam este valente. Pensa na morte certa, se trava combate. Não será tempo ainda de o evitar? Porque não voltar, com efeito, para o abrigo das muralhas? Por um momento, pensa mesmo em implorar a Aquiles, em depor as armas junto da muralha para se oferecer sem defesa ao adversário. Porque não propor-lhe um acordo em nome dos Troianos? (Porque não, realmente?) Durante um momento compraz-se nestas imaginações, pormenoriza as cláusulas dum contrato razoável. De repente, tem um sobressalto. A sua loucura, a sua fraqueza aparecem-lhe claramente. Retoma o domínio de si. «Em que pensa o meu espírito?» Não, não implorará a Aquiles. Não se deixará matar como uma mulher. Não entrará desonrado em Tróia. O tempo dos devaneios passou, tão longe dele agora como os amores da mocidade. «Já não se trata hoje de falar do carvalho ou do rochedo, como o rapaz e a rapariga que ternamente conversam entre si.» Trata-se de olhar a morte de frente, trata-se de saber morrer como um valente. Para lutar contra a cobardia, não há somente o respeito humano, o amor-próprio, há a honra, mais alta que a vida.
Aquiles não precisa de reflectir para ser bravo. Heitor é bravo por um acto de reflexão e de razão.
Esta razão tão firme arranca-lhe por vezes palavras belas. Um dia em que seu irmão Polidamas, odedecendo a um presságio sinistro e aliás verídico, o convida a interromper o combate, Heitor, que não pode duvidar de que o presságio seja seguro, mas que quer combater apesar de tudo, replica-lhe: «O melhor presságio é combater pela nossa terra.» Palavras surpreendentes numa época em que os presságios têm grande autoridade e não se deixam facilmente desafiar, sobretudo para um homem piedoso como Heitor.
Mas só a honra e a razão nao explicam Heitor. É preciso falar das fontes profundas, das fontes afectivas da sua coragem. A honra não é para Heitor um conceito do espírito, um «ideal», é combater pela terra que ama, morrer por ela se preciso for, combater para salvar sua mulher e seu filho da morte ou da escravatura. A coragem de Heitor não é a coragem do sage: não se funda, como a de Sócrates, por exemplo, na indiferença pelos bens terrenos, alimenta- -se, pelo contrário, do amor que lhes dedica.
Heitor ama a sua pátria. Ama «a santa ílion e o povo de Príamo de lanças de freixo». Ama-os até ao ponto de os defender contra todas as esperanças. Porque ele sabe que Tróia está perdida. «Sim, eu sei-o, um dia a Santa Tróia perecerá...» Mas o amor, justamente, não se detém em tais certezas: nós defendemos até à última hora aqueles a quem amamos. Toda a ação de Heitor se orienta para a salvação de Tróia. Ao passo que Aquiles não liga importância a sentimentos sociais, Heitor está firme no amor que dedica à sua cidade, aos seus concidadãos, a seu pai, que é também seu rei. A Aquiles, chefe ainda meio selvagem duma tribo em guerra e a quem a guerra ainda mais desciviliza, a quem ela rebaixa por vezes ao nível do bruto, opõe-se Heitor, o filho da cidade que defende o seu território e a quem esta impõe, mesmo na guerra, a sua disciplina social. Aquiles é anárquico, Heitor é cívico. Aquiles quer matar em Heitor aquele a quem odeia. Heitor apenas deseja matar o inimigo mortal de Tróia. «Permitam os deuses», roga ele, ao lançar o seu último dardo, «que tu recebas o ferro da minha lança no teu corpo. A guerra seria menos pesada para os Troianos se eu te matasse: és tu o seu pior flagelo.» A guerra não impede Heitor de ser ao mesmo tempo cívico e civilizado: o seu patriotismo não precisa do ódio ao inimigo.
Civilizado é-o ainda no sentido de que está sempre pronto a concluir um pacto com o adversário. Tem o sentimento claro de que o que une os homens pode vencer o que os separa. E diz a Ájax: «Façamos um ao outro gloriosos presentes, para que digam tanto os Aqueus como os Troianos: bateram-se por causa da guerra que devora as vidas e separaram-se depois de terem firmado um pacto de amizade.»
Em Aquiles, que o odeia, Heitor vê ainda um dos seus semelhantes, com o qual não lhe parece quimérico querer tratar: pensa em propor-lhe entregar aos Gregos Helena e os tesouros roubados por Páris, sem falar duma parte das riquezas de Tróia. Não há nisto apenas uma tentação de cobardia. Há também a persistência dum velho sonho de Heitor: um pacto que reconciliaria os inimigos. Há sobretudo essa repulsa profunda pela violência, que inspira toda a sua conduta, mesmo no instante decisivo em que a razão condena imediata mente o projecto como uma fantasia.
Mais tarde ainda, precisamente antes do combate, propõe a Aquiles um último pacto, humano e razoável. Ele sabe que este combate é o último. («Eu te vencerei, ou tu me vencerás», diz.) Mas a ideia do pacto domina-o ainda. «Façamos um pacto e demos o prémio aos deuses. Não penso, por mim, infligir-te monstruosos ultrajes, se Zeus me outorgar resistir e arrancar-te a vida. Apenas te despojarei das tuas armas ilustres, depois entregarei o teu corpo aos Aqueus, Aquiles. Faze o mesmo comigo.»
Aquiles repele-o com brutalidade. «Heitor, não venhas falar-me de pactos entre nós, maldito! Seria o mesmo que falar de acordo leal entre os leões e os homens, entre os lobos e as ovelhas...» E acrescenta estas palavras que marcam bem o sentido da proposta de Heitor, ao mesmo tempo que definem Aquiles: «Não nos é permitido amarmo-nos, tu e eu.»
Ao passo que Aquiles não sai do particular em que a paixão o encerra, Heitor move-se no universal. Este entendimento que ele esboçava, este projecto do pacto, é nada mais nada menos que o princípio, ainda elementar, mas seguro, do direito das gentes.
Mas o amor enérgico que Heitor dedica ao seu país, e que parece já alargar-se à comunidade dos homens, assenta numa base mais profunda e mais viva. Heitor ama os seus. Heitor está solidamente enraizado no amor duma mulher e duma criança. Todo o resto daí deriva. A pátria não é apenas, para ele, os muros e a cidadela de Tróia e o povo troiano (não se trata, escusado seria dizer, duma concepção de Estado a defender), a pátria são as vidas que lhe são preciosas entre todas as vidas, e que ele quer salvar, na liberdade. Nada mais carnal que o amor de Heitor pela sua terra. Andrómaca e Astianax são as imagens concretas mais claras, mais peremptórias, da pátria. Ele o diz a Andrómaca antes de a deixar para ir combater:
«Sei que o dia virá em que a santa Tróia perecerá, e Príamo, e o bravo povo de Príamo. Mas nem a desgraça futura dos Troianos, nem a de minha mãe, do rei Príamo e de meus irmãos corajosos, que cairão sob os golpes dos guerreiros inimigos, me afligem tanto como a tua, quando um Aqueu coura çado de bronze te roubar a liberdade e te levar, chorosa. E tu tecerás os panos do estrangeiro, e tu levarás a água das fontes... Porque a dura necessidade assim o há-de querer... E uma grande dor te pungirá ao pensares neste esposo que terás perdido, único que poderia ter afastado de ti a servidão. Mas que a pesada terra me cubra morto antes que eu ouça os teus gritos, antes que te veia arrancada daqui.»
Andromaca ainda há pouco suplicava a Heitor que não se expusesse ao combate. Agora não pode mais, porque sabe que ele defende a sua mútua ternura. Ha nesta última conversa dos dois esposos qualquer coisa de muito raro na literatura antiga: a perfeita igualdade no amor que eles se testemunham ao mesmo mvel, amam-se ao mesmo nível. Heitor não ama em Andrómaca, nem em seu filho, bens que lhe pertençam: ama, neles, seres de um valor igual ao seu.
Tais são os «bem-amados» que Heitor defende até ao fim. Quando está diante de Aquiles — imagem do seu destino — , desarmado e perdido, ainda se bate contra toda a esperança, faz ainda um pacto com a esperança.
E o momento em que já os deuses o abandonam. Heitor julgava ter a seu lado seu irmao Deífobo, mas era Atena que, para o enganar/tomara a forma do irmao. Lançado o ultimo dardo, quebrada a espada, pede uma arma a Deífobo. Mas não há mais ninguém, está sozinho. Então conhece o seu destino, fixa-o agora na deslumbrante claridade da morte. «Ai de mim! eis que os deuses me chamam para a morte. Julgava meu irmão a meu lado, mas ele está nas nossas muralhas. Atena enganou-me. Agora a má sorte está perto, aqui, já não há rerugio... Eis que o destino me arrebata.»
Inteiramente lúcido, Heitor conhece o seu destino, vê a morte de tão perto que lhe parece tocá-la. Mas dir-se-ia que a esta mesma visão ele vai buscar uma força nova. Logo acrescenta: «Eis que o destino me arrebata. Mas em verdade, não quero morrer sem lutar... Farei qualquer coisa de grande que os homens do futuro saberão...»
O instante da morte é ainda o da luta. Heitor responde ao destino com uma acção de homem — uma acção que a comunidade dos homens considerará grande.
Assim o humanismo de Homero nos propõe nesta personagem uma imagem do homem, ao mesmo tempo verdadeira e exaltante. Heitor é um homem que se define no amor dos seus, no conhecimento dos valores universais e até ao seu ultimo suspiro, no esforço e na luta. Parece, ao morrer, lançar à morte um desafio. O seu grito de homem — esse grito de homem em trabalhos de uma humanidade melhor — quer ele que seja ouvido pelos «homens do futuro» por nos. Aquiles, Heitor: oposição não apenas de dois temperamentos humanos, mas de dois estádios da evolução humana.
A grandeza de Aquiles ilumina-se aos clarões de incêndio de um mundo que parece em vias de desaparecer, esse mundo aqueu da pilhagem e da guerra. Mas estará esse mundo bem morto? Não sobreviverá ele ainda no nosso tempo?
Heitor anuncia o mundo das cidades, das comunidades que defendem o seu solo e o seu direito. Fala da sageza dos pactos, das afeições familiares que prefiguram a vasta fraternidade dos homens.
Nobreza da Ilíada, grito de verdade vindo até nós. Altura e justeza que o poema recebe destas duas grandes figuras contrárias de Aquiles e de Heitor. Contradição ligada ao desenvolvimento da história e que bate ainda nos nossos corações.

O reino ctônio de Plutão chamava-se mais comumente Hades, mas havia outros nomes pelos quais podia ser designado, na Grécia e em Roma, muitas vezes tomando-se a parte pelo todo, como Érebo, Tártaro, Orco, Inferno, estes dois últimos provenientes do latim. Discutida a etimologia de Hades, tentaremos estabelecer as das outras denominações, quando existirem
ÉREBO, do grego Έρεβος (Érebos), designa as trevas que cercam o mundo. Trata-se de uma concepção indo-européia * reqwos, "cobrir de trevas", que aparece no sânscrito como rájas, "espaço escuro", no gótico riqiz, "escuridão", e no armênio erek, "tarde".
TÁRTARO, é o grego Τάρταρος (Tártaros), "abismo subterrâneo, local de suplícios", é possivelmente um empréstimo oriental.
ORCO é o latim Orcus, "morada subterrânea dos mortos, os infernos". A Etimologia do vocábulo é desconhecida. A proveniência do indo-europeu * areq ou areg é atualmente considerada como fantasiosa, quando não absurda.
INFERNO ou OS INFERNOS é palavra latina infernus. Etimologicamente infernus é uma forma segunda de inferus "que se encontra embaixo", por oposição a superus, "que se encontra em cima", onde a oposição Di inferi, deuses do Inferno, do Hades, e Di Superi, deuses do Olimpo. Observa-se, ainda, em latim, os comparativos inferior, que está mais embaixo, "inferior", por oposição a superior, que está mais acima, "superior".
Substantivado o neutro plural inferna, -orum, significa as habitações dos deuses de baixo e também dos mortos, quer dizer, o Inferno, abstração feita, em princípio, de local de sofrimento ou de castigo, já que todos na Grécia e em Roma iam para o "Inferno", como parece ter sido no Antigo Testamento, o sentido de Sheol, onde é documentado sessenta e cinco vezes, como por exemplo em Jó 17,16: in profundissimum infernum descendent omnia mea: "todas as minhas coisas descerão ao mais profundo dos infernos".. E era, precisamente, com esta acepção que ainda se rezava, no Credo, não faz muito tempo, (que Jesus Cristo) desceu aos infernos, expressão que, para evitar equívoco, foi substituída por desceu à mansão dos mortos. É a partir do Novo Testamento, todavia, que o Inferno, é identificado com a Geena, local de sofrimento eterno e a parte mais profunda do Sheol, como está em Lc 16,22-23.
Factum est autem ut morertur mendicus et portartur ab angelis in sinum abrahae. Mortuus est autem et diues et sepultus est in inferno: "Ora sucedeu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado no inferno". A Seqüência da Parábola diz que Lázaro, o mendigo, estava lá em cima e o rico lá em baixo, havendo entre ambos um abismo intransponível.
Na Grécia, ao que tudo indica, somente a partir do Orfismo, lá pelo século VII-VI a.e.c., é que o Hades, o Além, foi dividido em três compartimentos: Tártaro, Érebo e Campos Elísios. O fato facilmente se explica, é que o Orfismo rompeu com a secular tradição da chamada maldição familiar, segundo o qual não havia culpa individual, mas cada membro do guénos era co-responsável e herdeiro das faltas de cada um de seus membros, e tudo se quitava por aqui mesmo. Para os Órficos a culpa é sempre de responsabilidade individual e por ela se paga aqui; e quem não se purgar nesta vida, pagará na outra ou nas outras. Havendo uma retribuição, forçosamente terá que existir, no além, um prêmio para os bons e um castigo para os maus e, em conseqüência, local de prêmio e de punição.
Quanto à localização, o Hades era um abismo encravado nas entranhas da Terra, e cuja entrada se situava no Cabo Tênero (sul do peloponeso) ou numa caverna existente perto de Cumas, na Magna Grécia (sul da Itália).
Também na literatura babilônia, na epopéia de Gilgamesh, nos mitos de Nergal e Ereskigal, na descida de Istar para os Infernos, estes são um lugar debaixo da Terra, além do oceano cósmico. Há dois caminhos para se chegar lá: descendo na terra ou viajando para o extremo ocidente; mas antes de atingir o Além, é necessário transpor o rio dos mortos, "as águas da morte". Também as concepções ugarítica e bíblica localizam o Inferno nas profundezas da Terra. Abrindo-se está, Coré, o levita, que se opõe a Moisés, bem como Datã e Abirão, com os seus, desceram vivos para os Infernos. Jó, que o considera como o lugar mais baixo da criação, imagina os acessos à outra vida no fundo do oceano primordial, em que a terra bóia.
O universo por conseguinte, é dividido em três partes: "acima da terra, na terra e debaixo da terra" ou céu, terra e inferno.
Para que se possa compreender o destino da alma no Hades, vamos acompanhá-la em sua longa viagem, do túmulo ao reino de Plutão. A obrigação mais grave de um grego é o que concerne ao sepultamento de seus mortos: filhos, ou , na carência destes, os parentes mais próximos devem sepultar seus pais segundo os ritos, sob pena de lhes deixar a alma volitando no ar por cem anos (o cômputo é puramente fictício), sem direito a julgamento, e, por conseguinte, à paz do Além.
O Sepultamento, todavia, depende de certos ritos preliminares: o cadáver, após ser ritualmente lavado, é perfumado com essências e vestido normalmente de branco, para simbolizar-lhe a pureza. Em seguida, é envolvido com faixas e colocado numa mortalha, mas com o rosto descoberto, para que a alma possa ver o caminho que leva à outra vida. Certos objetos de valor são enterrados com o morto: colares, braceletes, anéis, punhais... Os arqueólogos, escavando túmulos, encontraram grande quantidade desses objetos. em certas épocas se colocava na boca do morto uma moeda, óbolo destinado a pagar ao barqueiro Caronte, para atravessar a alma pelos quatro rios infernais. Essa idéia de pagamento da passagem, diga-se logo, não é um simples mecanismo da imaginação popular. Toda moeda ´eum símbolo: representa o valor pelo qual o objeto é trocado. Mas, além de seu valor próprio de dinheiro, de símbolo de troca, as moedas, consoante Cirlot, "desde a antiguidade tiveram certo sentido talismânico", uma vez que nelas a conjunção do quadrado e do círculo não é incomum. além do mais, a moeda, em grego nómisma, é o símbolo da imagem da alma, porque esta traz impressa a marca de Deus, com oa moeda o traz do soberano, segundo opina Angelus Silesius. A moeda chinesa, denominada "sapeca", é um círculo com um furo quadrado no centro: vê-se aí claramente a coniunctio oppositorum: a conjunção do Céu (redondo) e da Terra (quadrada), o aniums e a anima, formando uma totalidade. Por vezes se colocava junto ao morto um bolo de mel, que lhe permitia agradar o cão Cérbero, guardião da porta única de entrada e saída do Hades. O Cadáver é exposto sobre um leito, durante um ou dois dias, no vestíbulo da casa, com os pés voltados para a porta, ao contrário de como entrou na vida a cabeça do morto, coroada de flores, repousa sobre uma pequena almofada. Todo e qualquer homem podia velor o morto, acompanhar-lhe o féretro e assitir-lhe ao sepultamento ou à cremação, mas a lei era extremamente rígida com a mulher: na ilha de Ceos só podiam entrar na casa, onde houvesse um morto, aquelas que estivessem "manchadas" (a morte sempre contamina) pela proximidade de parentesco com o mesmo, a saber, a mãe, a esposa, as irmãs, as filhas e mais cinco mulheres casadas e duas jovens solteiras, cujo grau de parentesco fosse no mínimo de primas em segundo grau.
Em Atenas, igualmente, a legislação de Sólon era severa a esse respeito: só podiam entrar na casa do morto e acompanhar-lhe o enterro aquelas que fossem parentes até o grau de primas. Os presentes vestiam-se de luto, cuja cor podia ser preta, cinza e, por vezes, branca, e cortavam o cabelo em sinal de dor. Carpideiras acompanhavam o féretro para cantar o treno. Diante da porta da casa se colocava um vaso (ardánion) cheio de água lustral, que se pedia ao vizinho, porque a da casa estava contaminada pela morte. todos que se retiravam, se aspergiam com essa água, com o fito de se purificar. O enterro se realizava na manhã seguinte à exposição do corpo. A lei se Sólon prescrevia que todo enterro se deveria realizar pela manhã, antes do nascimento do sol. Desse modo, os enterros em Atenas se faziam pela madrugada e por motivo religioso: até os raios de sol se manchavam com a morte! No cemitério, sempre fora dos muros da cidade, o corpo era inumado ou cremado sobre uma fogueira: neste último caso, as cinzas e os ossos eram cuidadosamente recolhidos e colocados numa urna. que era sepultada. Após se fazerem libações ao morto, voltava-se para casa e se iniciava o minuscioso trabalho de purificação da mesma, porque, para os gregos, o maior dos "miasmas" era o contato com a morte. Após um banho de cunho rigorosamente catártico, normalmente com água do mar, os parentes do morto participavam de um banquete fúnebre; este se renovava, em Atenas, ao menos, no terceiro, nono e trigésimo dia e na data natalícia do falecido.
Sepultado ou cremado o corpo, a psiqué era conduzida por Hermes, deus psicopompo, até a barca de Caronte. recebido o óbolo, o robusto demônio da morte permitia a entrada da alma em sua barca, que a transportava para além dos quatro temíveis rios infernais, Aqueronte, Cocito, Estige e Piriflegetonte,. Já do outro lado, após passar pelo cão Cérbero, o que não oferecia grandes dificuldades, pois o que o monstro de três cabeças realmente vigiava era a saída, a psiqué enfrentava o julgamento. O tribunal era formado por três juízes integérrimos: Éaco, Radamento e Minos. Esse tribunal, no entanto, é bem recente. Homero só conhece como juiz dos mortos Radamanto. Éaco aparece pela primeira vez em Platão.
Radamanto julgava os asiáticos e africanos; Éaco, os europeus. Em caso de dúvida, Minos intervinha e seu veredicto era inapelável.
Infelizmente quase nada se sabe acerca do conteúdo desse julgamento e a maneira como era conduzido, embora na Eneida, 6,566-569. Vergílio nos fale, de passagem, que Radamento supliciava as almas, obrigando-as a confessar seus crimes ocultos.
Julgada, a alma passava a ocupar um dos três compartimentos: Campos Elísios, Érebo ou Tártaro. Neste último eram lançados os grandes criminosos, mortais e imortais. Era o único local permanente do Hades: lá, supliciados pelas Erínias, ficavam para sempre os condenados, os irrecuperáveis. O mesmo Vergílio, ainda no canto 6, nos dá uma visão dantesca dos suplícios a que eram submetidos os réprobos e a natureza dos crimes por eles perpetrados. O grande poeta todavia, no que se refere às faltas graves cometidas, mistura habilmente "aos que espancaram os pais, aos avarentos, aos adúlteros, aos incestuosos, aos que desprezam os deuses", os condenados por crimes políticos... Estão no Tártaro os que "fizeram guerras civis, os desleais, os traidores, os que venderam a pátria por ouro e impuseram-lhe um senhor despótico..." É bom não perder de vista que, a par de ser um poema tardio, a Eneida é também uma obra assumidamente engajada e comprometida com a ideologia política do imperador Augusto, cuja pessoa, cuja família, que era de origem divina, cujo governo e cujas reformas o poeta canta, exalta e defende. No Tártaro vergiliano, os assassinos principais de César, Cássio e Bruto, e seus grandes inimigos políticos, como Marco Antônio e a egípcia Cleópatra, entre muitos outros, sem omitir os heróis gregos, inimigos do troiano Pai Enéias, fundador da raça latina, certamente formariam um inferninho à parte, com suplícios adequados... Talvez mais violentos do que os do inferno político da Divina Comédia de Dante.
O Érebo e os Campos Elísios são impermanentes: tra-se mais de compartimentos de prova do que de purgação. As provações aí realizadas servem de parâmetro de regressão ou de evolução e aperfeiçoamento, cuja natureza nos escapa. Quer dizer, a descida definitiva ao Tártaro ou a próxima (ensomátosis), "reencanação", ou ainda a próxima (metempsýkhosis), "metempsicose", que são coisas muito diferntes, dependeriam intrinsecamente do "comportamento" da psiqué durante sua permanência no Érebo ou nos Campos Elísios. No Érebo estão aqueles que cometeram certas "faltas". Seria conveniente deixar claro que alguns habitantes temporários do Érebo, que Vergílio denomina lugentes campi, Campos de Lágrimas, não têm suas faltas especificadas e outros lá estão sem que possamos compreender o motivo. Recorrendo mais uma vez à Eneida 6, vamos ver que nos Campos das Lágrimas estão criancinhas que morreram prematuramente as vítimas de falso julgamento; as suicidas (o poema só fala em mulheres) por amor, como Fedra, Prócris, Evadne, Dido...
Alguns heróis, troianos (mirabile dictu !) também lá estão e heróis gregos igualmente.
O Poeta Latino, no entanto, deixa bem claro que essas almas não estão no Érebo por acaso, "sem o aresto de juízes, uma vez que Minos indagou de sua vida e de seus crimes". Onde se conclui que cometeram "faltas".
Do Érebo que é temporário, elas ou mergulharão no Tártaro, porque se pode regredir, ou subirão para outra impermanência, os Campos Elísios, único local de onde poderiam partir os candidatos à reencarnação ou à metempsicose.
Em se tratando do último nível ctônio, em que estão os poucos que lá conseguiram chegar, os Campos Elísios, em grego (Elýsia pedía) são descritos, ao menos na Eneida, 6, como uma paraíso terrestre em plena idade de ouro. Lá residem os melhores em opulentos banquetes nos gramados, cantando em coro alegres canções, nos perfumados bosques de loureiro. Lá estão os que já passaram por uma série de provas e purgações. Mas, decorridos mil anos, após se libertarem totalmente das "impurezas materiais", as almas serão levadas por um deus às águas do rio Lete e, esquecidas do passado, voltarão para reencarnar-se.
Eis aí uma visão da escatologia grega popular em suas linhas gerais, mas poder-se-ia perguntar: a quantas reencarnações se tinha direito? E depois de totalmente purificada das misérias do cárcere do corpo, qual o destino final da psiqué? À primeira pergunta talvez se pudesse responder evasivamente que o número de reencarnações se mediria pela paciência dos deuses (que certamente não era muito grande); e à segunda, dizendo-se que, via de regra, o céu grego era platonicamente a Via Láctea. Ao menos, que se saiba, a cabeleira de Berenice, e os imperadores romanos, que morriam benquisisto do povo, eram transformados em astros...

No ano 312 e.c., o imperador romano Constantino converteu-se ao Cristianismo, que passou a ser a religião do estado pouco tempo depois. O imperador Juliano tentou fazer reviver a adoração aos deuses greco-romanos como religião estatal, em 360 e.c., no que não foi bem-sucedido. Os oráculos caíram em desuso, os templos foram abandonados e os festivais foram esquecidos. O que nunca foi totalmente esquecido, porém, nem mesmo na alta Idade Média da história ocidental, foram os mitos gregos e romanos. Aquando da queda de Bizâncio no século XV, muitos dos seus sábios fugiram para Itália. O afluxo da literatura e do saber clássicos inspirou a arte, a literatura e a ciência da Renascença.
Os mitos da Grécia e de Roma serviram de temas para artistas que vão de Leonardo da Vinci a Picasso, e a partir dos Romanos, os países pretendiam que a sua grandeza literária fosse medida em relação às narrativas gregas dos seus mitos. Os compositores também se inspiraram na mitologia grega, como nas óperas que tratam de Orfeu e Eurídice, Helena de Tróia e os filhos de Clitemnestra. Filósofos como Nietzsche mergulharam na mitologia da Grécia e a teoria psicanalítica designa questões do comportamento humano, como o complexo de Édipo, e doenças do foro psíquico, como o narcisismo, na sequencia dos mitos. Ainda hoje eles continuam a ser fontes inspiradoras para séries televisivas e filmes, que vão de Xena a Hércules, da Disney. Os mitos gregos continuam vivos e a afetar as nossas vidas e o conhecimento que temos de nós próprios. [209]

Hefesto, o deus ferreiro, era tão fraco quando nasceu que sua mãe, Hera, desgostosa, atirou-o do alto do Olimpo para se livrar da vergonha que o lamentável aspecto de seu filho lhe causava. Contudo, ele sobreviveu a essa desventura sem qualquer dano físico, porque, ao cair no mar, Tetis e Eurinome estavam por perto para resgata-lo. Essas amáveis deusas o abrigaram em uma gruta submarina, onde ele instalou sua primeira forja e recompensou a gentileza das duas, confeccionando-lhes todo tipo de adornos e objetos uteis.
Um dia, passados já nove anos, Hera se encontrou com Tetis, que por acaso portava um broche feito por Hefesto, e perguntou:
- Minha querida, em que parte do mundo você encontrou essa joia maravilhosa?
Tetis hesitou antes de responder, mas Hera forçou-a a lhe contar a verdade. Em seguida, levou Hefesto para o Olimpo, onde o instalou numa forja muito mais sofisticada, com vinte foles que funcionavam dia e noite. Passou a trata-lo com grande deferência e arranjou seu casamento com Afrodite.
Hefesto reconciliou-se de tal modo com Hera que se atreveu a repreender o próprio Zeus por tê-la pendurado pelos pulsos no Céu, quando ela se rebelou contra ele. Manter-se calado teria sido uma atitude bem mais prudente, pois Zeus, enfurecido, atirou-o do Olimpo pela segunda vez. Sua queda durou um dia inteiro. Quando finalmente tocou o chão da ilha de Lemnos, quebrou as suas pernas, e, embora fosse imortal, seu corpo estava quase sem vida quando foi encontrado pelos ilhéus. Depois, tendo sido perdoado, ele recuperou seu lugar Olimpo, mas só conseguia andar apoiado em muletas de ouro.
Embora feio e mal-humorado, Hefesto era dotado de grande força nos braços e nos ombros e realizava qualquer trabalho com uma habilidade ímpar. Certa vez, fabricou uma serie de mulheres mecânicas douradas que, além de a ajuda-lo na forja, eram capazes de falar e realizar as mais difíceis tarefas que ele lhes encomendasse. Possuía também uma serie de trípodes com rodas de ouro, dispostos ao redor de sua oficina, que podiam se deslocar sozinhos pelo palácio celestial e participar das reuniões dos deuses.
Hefesto e Atena compartilhavam templos em Atenas, e é possível que seu nome tenha sido uma forma arcaica de hemero phaistos, "aquele que brilha de dia" (ou seja, o Sol), ao passo que Atena era a deusa-Lua, "a que brilha a noite", padroeira dos ferreiros e de todas as artes mecânicas. Em geral não se aceita que cada ferramenta, arma ou utensílio da Idade do Bronze possuísse propriedades mágicas, nem que o ferreiro fosse uma espécie de feiticeiro. Assim, das três pessoas que formavam a tríade lunar Brigite, uma regia os poetas, outra, os ferreiros e a terceira, os médicos. Quando a deusa foi destronada, o ferreiro foi alçado a categoria de divindade. A coxeadura do deus ferreiro é uma tradição que se encontra em regiões muito distantes entre si, como a África ocidental e a Escandinávia. Em tempos primitivos, é possível que se aleijassem propositalmente os ferreiros para evitar que eles fugissem e se aliassem as tribos inimigas. Mas existia também uma dança da perdiz claudicante, que se executava nas orgias eróticas relacionadas aos mistérios da arte da forjadura. Portanto é igualmente possível que Hefesto, depois de se casar com Afrodite, mancasse apenas uma vez por ano: no Festival da Primavera.
A metalurgia chegou à Grécia através das ilhas do Egeu. A importação de bronze e ouro da Helade, finamente forjados, talvez explique o mito de que Hefesto foi guardado em uma gruta na ilha de Lemnos por Tetis e Eurinome, títulos da deusa do mar que criou o universo. Os nove anos que ele passou na caverna demonstram sua subordinação à Lua. Sua queda, assim como a queda de Cefalo, Talo (on Alcale), Cirão, Ifito) e outros, era o destino habitual do rei sagrado ao termino de seu reinado, em muitas partes da Grécia. As muletas de ouro talvez tivessem a função de elevar do chão o seu calcanhar sagrado.
Parece que os vinte trípodes fabricados por Hefesto tem praticamente a mesma origem dos Gasteroquiros que construíram Tirinto: discos solares dourados com três pernas, como o emblema heráldico da ilha de Man, posicionados, sem duvida, ao redor de algum ícone primitivo que retratava Hefesto casando-se com Afrodite. Eles representam os anos de três estações e indicam a duração de seu reinado. O rei morre no inicio do vigésimo ano, quando se produz uma grande aproximação entre o tempo solar e o lunar. Esse ciclo foi reconhecido oficialmente em Atenas somente em fins do século V a.e.c., embora tenha sido descoberto cem anos antes. Hefesto foi relacionado as forjas de Vulcano, nas ilhas vulcânicas de Lipari, porque Lemnos, sede de seu culto, é vulcânica, e porque um jorro de gás natural asfaltico originário do cume do monte Mosquilo levava anos ardendo incessantemente. Um jorro similar, descrito pelo bispo Metodio no século IV da era cristã, ardia no monte Lemnos, na Licia, e continuou ativo ate 1801. Hefesto detinha um santuário em ambos os montes. Lemnos (provavelmente do termo leibein, "a que derramá') era o nome da Grande Deusa dessa ilha matriarcal.

Artemis (Diana), irmã de Apolo, anda armada de arco-e-flecha e, como ele, possui tanto o poder de lanrçar pragas ou morte súbita sobre os mortais quarto o de curá-los. Ela é a protetora das crianças pequenas e de todos os animais no período de lactancia, mas também adora a caça, sobretudo a de cervos. Artemis tinha apenas três anos de idade quando, um dia, sentada sobre os joelhos de seu pai, Zeus, ele lhe perguntou que presentes desejava. Ela respondeu, sem pestanejar: "Peço que me conceda virgindade eterna e me dê tantos nomes quantos tem meu irmão Apolo; um arco-e-flecha como o dele; o dom de trazer a luz; uma túnica de caça da cor do açafrão, com uma bainha vermelha que me chegue até os joelhos; sessenta jovens oceanidas, todas da mesma idade, para que sejam minhas damas de honra; vinte ninfas fluviais da cidade cretense de Amniso, para que cuidem dos meus borzeguins e alimentem meus sabujos quando eu não estiver caçando; todas as montanhas do mundo e, finalmente, qualquer cidade que você possa escolher para mim, mas só uma será suficiente, pois tenho a intenção de viver nas montanhas o maior tempo possível. Infelizmente, as parturientes me invocarão muitas vezes, já que minha mãe Leto carregou-me em seu ventre e me pariu sem dores e, por isso, as Moiras me fizeram padroeira do parto."
Ela se esticou para tocar a barba de Zeus, e ele sorriu orgulhoso, dizendo: "Com filhas como você, não tenho motivos para temer a fúria ciumenta de Hera! Você terá tudo isso e muito mais: não uma, mas trinta cidades, e uma parte será sua em muitas outras, tanto no arquipélago como na terra firme. E desde agora eu a nomeio guardiã de seus portos e estradas."
Artemis lhe agradeceu, saltou de cima de seus joelhos e se dirigiu primeiramente ao monte Leuco, em Creta, e depois ao oceano, onde escolheu numerosas ninfas de nove anos de idade como suas assistentes. As mães, encantadas, permitiram que suas filhas fossem. A convite de Hefesto, ela foi visitar os ciclones na ilha de Lipara e os encontrou forjando um cocho para cavalos, encomendado por Posídon. Brontes, que havia recebido ordens para realizar todos os seus desejos, colocou-a sobre seus joelhos, mas ela, incomodada com suas caricias, arrancou-lhe um punhado de pelos do peito, deixando-lhe uma zona pelada que permaneceu ate o dia da sua morte, dando a todos a impressão de que ele tinha sarna. As ninfas ficaram aterrorizadas com a aparência selvagem dos ciclopes e com o ruído da forja - e não era para menos, pois toda menina desobediente ouvia da mãe a ameaça de ser mandada para Brontes, Arges ou Esteropes. Mas Artemis teve a ousadia de ordenar aos ciclopes que abandonassem por um instante o cocho de Posídon e lhe fizessem um arco de prata com uma aljava cheia de flechas. Em troca, eles poderiam comer a primeira presa que ela caçasse. Com suas novas armas ela seguiu para a Arcádia, onde Pã ocupava-se em esquartejar um lince, para dar de comer a seus cães. Ele lhe deu três sabujos de orelhas caídas - dois rajados e um pintado, que, juntos, seriam capazes de arrastar leões vivos até seus canis -, bem como sete galgos velozes de Esparta.
Após capturar dois pares vivos de corças cornudas, ela as atrelou a uma carruagem dourada com bocais de ouro e se pôs rumo ao norte através do monte Hemo, da Trácia. No Olimpo mísio, fabricou sua primeira tocha de pinho e a acendeu nas brasas de uma arvore derrubada por um raio. Experimentou seu arco de prata quatro vezes: os dois primeiros alvos foram árvores; o terceiro, um animal selvagem; o quarto, uma cidade com homens injustos.
Depois voltou a Grécia, onde as ninfas amnisias desatrelaram e enxugaram suas corças, alimentaram-nas com o mesmo trevo servido aos corcéis de Zeus, abundante no pasto de Hera, e deram-lhes de beber numa gamela de ouro.
Uma vez, o deus fluvial Alfeu, filho de Tetis, teve a ousadia de apaixonar-se por Artemis e de persegui-la por toda a Grécia. Mas ela conseguiu chegar a Letrini, na Élida (ou, como dizem alguns, até a distante ilha de Ortigia, perto de Siracusa), onde cobriu o próprio rosto e, ao mesmo tempo, o de todas as ninfas com lodo branco, tornando-se indistinguível entre elas. Alfeu viu-se obrigado a se retirar, sendo objeto de risadas zombeteiras.
Artemis exigia de suas damas de honra a mesma castidade perfeita que praticava. Quando percebeu que uma delas, Calisto, filha de Licaão, fora seduzida por Zeus e estava gravida, transformou-a numa ursa e chamou a matilha para persegui-la e destroça-la, o que só não aconteceu graças a intervenção de Zeus, que a agarrou e a levou para o Céu, colocando, mais tarde, sua imagem entre as estrelas. Mas alguns dizem que foi Zeus quem transformou Calisto numa ursa e que, enciumada, Hera tratou de fazer com que Artemis a caçasse por engano. O filho de Calisto, Arcas, foi salvo e se tornou o ancestral dos arcades.
Em outra ocasião, Acteon, filho de Aristeu, estava apoiado em uma rocha perto de Orcomeno quando viu por acaso que Artemis se banhava em um ribeirão próximo e pôs-se a observa-la. Para evitar que ele se gabasse junto aos companheiros de que ela se desnudara em sua presença, Artemis o transformou em um cervo e o despedaçou com sua própria matilha de cinquenta sabujos.
A Donzela do Arco de Prata, que os gregos incluíram na família olímpica, era o membro mais jovem da tríade de Artemis - sendo "Artemis" mais um título da deusa-Lua tripla. Portanto, tinha direito de alimentar suas corças com trevo, símbolo da tríade. Seu arco de prata representava a Lua nova Já a Artemis olímpica era mais que uma donzela Em outros lugares, como, por exemplo, em Éfeso, ela era adorada em sua segunda pessoa, ou seja, como ninfa, uma Afrodite orgiástica com um consorte masculino, sendo seus emblemas principais a tamareira, o cervo e a abelha. Seus poderes de obstetrícia pertencem, antes, a Velha, assim como suas flechas da morte, e as sacerdotisas de nove anos são o sinal de que o numero mortal da Lua é três vezes três. Faz lembrar a "Senhora das Coisas Selvagens" cretense, aparentemente a suprema ninfa-deusa das antigas sociedades totêmicas. O banho ritual em que foi surpreendida por Acteon, assim como as corças cornudas de sua carruagem e as codornizes de Ortígia, parece mais apropriado a ninfa do que a donzela. Ao que parece, Acteon foi um rei sagrado do culto pré-helênico do cervo, dilacerado no fim do seu reinado de cinquenta meses, ou seja, na metade do Grande Ano. Seu co-regente, ou tanist, reinou no tempo restante. O correto era que a ninfa tomasse seu banho depois do assassinato, e não antes. Há numerosos paralelismos com esse costume ritual nos mitos irlandês e galês, bem como registros de que, mesmo no primeiro século da era cristã, um homem vestido em pêlo de cervo era periodicamente perseguido e morto no monte Liceu na Arcádia. Os sabujos eram provavelmente brancos e de orelhas vermelhas, como os "sabujos do inferno" da mitologia celta Havia uma quinta corça cornuda que escapou de Artemis.
O mito da perseguição de Alfeu a Artemis parece ter o mesmo molde de sua inútil perseguição a Aretusa, que fez com que ela se transformasse em uma fonte e ele, em um rio. É possível que esse mito tenha sido inventado para explicar o gesso, ou a argila branca, com que as sacerdotisas de Artemis Alfeia cobriram seus rostos em Letrini e Ortigia, em homenagem a Deusa Branca. Alph significa tanto brancura como cereal; alphos é lepra; alphe, beneficio; alphiton, cevadinha; Alphito era a Deusa Branca do Cereal em seu aspecto de Porca. A estátua mais famosa de Artemis em Atenas se chamava "a do rosto branco". O significado de Artemis é duvidoso. Pode provir de artemes, "de membros fortes"; de artao, já que os espartanos a chamavam Artamis, "a que despedaça; ou de afro e themis, "a suprema convocadora". Também é possível que a sílaba themis signifique "água', já que a Lua era considerada a origem de todas as águas.
Ortigia, "ilha das codornizes", perto de Delos, também estava consagrada a Artemis.
O mito de Calisto foi contado para oferecer uma explicação às duas meninas vestidas de ursas que apareciam no festival ático em homenagem a Artemis Braurônia, bem como a tradicional conexão entre Artemis e a Ursa Maior. Mas pode-se pressupor uma versão anterior do mito, em que Zeus consegue seduzir Artemis, apesar de sua tentativa de fugir dele, primeiro transformando-se em ursa e, depois, cobrindo o rosto com gesso. Artemis era, originalmente, a regente das estrelas, mas foi obrigada a entrega-las a Zeus.
Há duvidas quanto ao motivo de Brontes ter seu pelo arrancado. Pode ser que Calimaco tenha feito uma referencia espirituosa ao desgaste da tinta, no peito do ciclope, em alguma imagem conhecida que faça referencia ao episodio.
Como "Senhora das Coisas Selvagens" ou padroeira de todos os clãs totêmicos, Artemis recebia anualmente a oferenda de um holocausto vivo de animais, plantas e pássaros totêmicos. Esse sacrifício sobreviveu até a época clássica em Patras, cidade no Calidao (Pausanias: IV 32. 6), onde ela era chamada de Artemis Láfria. Em Messenia, recebia um sacrifício análogo dos coribantes, representantes de um clã totêmico (IV 32. 9), e em Hierápolis há registros de um outro, em que as vitimas eram penduradas nas arvores de um bosque artificial criado dentro do templo da deusa (Luciano: Sobre a deusa síria 41).
A oliveira era consagrada a Atena; a tamareira, a Isis e Lat. Há um sinete, do período minóico médio, que retrata a deusa de pé ao lado de uma palmeira, vestida com uma saia de folhas de palmeira, segurando uma pequena palmeira e com o olhar voltado para um bezerro de Ano-novo nascendo de dentro de um ramo de tamareira. Do outro lado da árvore há um touro agonizante, evidentemente o touro real do Ano-velho.

É necessário deixar bem claro, nesta tentativa de conceituar o mito[1], que o mesmo não tem aqui a conotação usual de fábula, lenda[2], invenção, ficção, mas a acepção que lhe atribuíam e ainda atribuem as sociedades arcaicas, as impropriamente denominadas culturas primitivas, onde mito é o relato de um acontecimento ocorrido no tempo primordial, mediante a intervenção de entes sobrenaturais. Em outros termos, mito, consoante Mircea Eliade, é o relato de uma história verdadeira, ocorrida nos tempos dos princípio, illo tempôre, quando, com a interferência de entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo, ou tão-somente um fragmento, um monte, uma pedra, uma ilha, uma espécie animal ou vegetal, um comportamento humano.
Mito é, pois, a narrativa de uma criação: conta-nos de que modo algo, que não era, começou a ser. De outro lado, o mito é sempre uma representação coletiva, transmitida através de várias gerações e que relata uma explicação do mundo. Mito é, por conseguinte, a parole, a palavra "revelada", o dito. E, desse modo, se o mito pode se exprimir ao nível da linguagem, "ele é, antes de tudo, uma palavra que [36] circunscreve e fixa um acontecimento".[3] Maurice Leenhardt precisa ainda mais o conceito: "O mito é sentido e vivido antes de ser inteligido e formulado. Mito é a palavra, a imagem, o gesto, que circunscreve o acontecimento no coração do homem, emotivo como uma criança, antes de fixar-se como narrativa".[4]
O mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é efetivamente uma representação coletiva, que chegou até nós através de várias gerações. E, na medida em que pretende explicar o mundo e o homem, isto é, a complexidade do real, o mito não pode ser lógico: ao revés, é ilógico e irracional. Abre-se como uma janela a todos os ventos; presta-se a todas as interpretações. Decifrar o mito é, pois, decifrar-se. E, como afirma Roland Barthes, o mito não pode, consequentemente, "ser um objeto, um conceito ou uma ideia: ele é um modo de significação, uma forma".[5] Assim, não se há de definir o mito "pelo objeto de sua mensagem, mas pelo modo como a profere".
É bem verdade que a sociedade industrial usa o mito como expressão de fantasia, de mentiras, daí mitomania, mas não é este o sentido que hodiernamente se lhe atribuí.
O mesmo Roland Barthes, aliás, procurou reduzir, embora significativamente, o conceito de mito, apresentando-o como qualquer forma substituível de uma verdade. Uma verdade que esconde outra verdade. Talvez fosse mais exato defini-lo como uma verdade profunda de nossa mente. É que poucos se dão ao trabalho de verificar a verdade que existe no mito, buscando apenas a ilusão que o mesmo contém. Muitos vêem no mito tão-somente os significantes, isto é, a parte concreta do signo. É mister ir além das aparências e buscar-lhe os significados, quer dizer, a parte abstrata, o sentido profundo.
Talvez se pudesse definir mito, dentro do conceito de Carl Gustav Jung, como a conscientização dos arquétipos do inconsciente coletivo, quer dizer, um elo entre o consciente e o inconsciente coletivo, bem como as formas através das quais o inconsciente se manifesta.
Compreende-se por inconsciente coletivo a herança das vivências das gerações anteriores. Desse modo, o inconsciente coletivo expressaria a identidade de todos os homens, seja qual for a época e o lugar onde tenham vivido.
Arquétipo, do grego arkhétypos, etimologicamente, significa modelo primitivo, ideias inatas. Como conteúdo do inconsciente coletivo foi empregado pela primeira vez por Jung. No mito, esses conteúdos remontam a uma tradição, cuja idade é impossível determinar. Pertencem a um mundo do passado, primitivo, cujas exigências espirituais são semelhantes às que se observam entre culturas primitivas ainda existentes. Normalmente, ou didaticamente, se distinguem dois tipos de imagens:
a) imagens (incluídos os sonhos) de caráter pessoal, que remontam a experiências pessoais esquecidas ou reprimidas, que podem ser explicadas pela anamnese individual;
b) imagens (incluídos os sonhos) de caráter impessoal, que não podem ser incorporados à história individual. Correspondem a certos elementos coletivos: são hereditárias. [37]
A palavra textual de Jung ilustra melhor o que se expôs: "Os conteúdos do inconsciente pessoal são aquisições da existência individual, ao passo que os conteúdos do inconsciente coletivo são arquétipos que existem sempre e a priori".[6]
Embora se tenha que admitir a importância da tradição e da dispersão por migrações, casos há e muito numerosos em que essas imagens pressupõem uma camada psíquica coletiva: é o inconsciente coletivo.[7] Mas, como este não é verbal, quer dizer, não podendo o inconsciente se manifestar de forma conceitual, verbal, ele o faz através de símbolos. Atente-se para a etimologia de símbolo, do grego sýmbolon, do verbo symbállein, "lançar com", arremessar ao mesmo tempo, "com-jogar". De início, símbolo era um sinal de reconhecimento: um objeto dividido em duas partes, cujo ajuste, confronto, permitiam aos portadores de cada uma das partes se reconhecerem. O símbolo é, pois, a expressão de um conceito de equivalência.
Assim, para se atingir o mito, que se expressa por símbolos, é preciso fazer uma equivalência, uma "con-jugação", uma "re-união", porque, se o signo é sempre menor do que o conceito que representa, o símbolo representa sempre mais do que seu significado evidente e imediato.
Em síntese, os mitos são a linguagem imagística dos princípios. "Traduzem" a origem de uma instituição, de um hábito, a lógica de uma gesta, a economia de um encontro.
Na expressão de Goethe, os mitos são as relações permanentes da vida.
Se mito é, pois, uma representação coletiva, transmitida através de várias gerações e que relata uma explicação do mundo, então o que é mitologia?
Se mitologema é a soma dos elementos antigos transmitidos pela tradição e mitema as unidades constitutivas desses elementos, mitologia é o "movimento" desse material: algo de estável e mutável simultaneamente, sujeito, portanto, a transformações. Do ponto de vista etimológico, mitologia é o estudo dos mitos, concebidos como história verdadeira. [38]
Quanto à religião, do latim religione, a palavra possivelmente se prende ao verbo religare, ação de ligar, o que parece comprovado pela imagem do grande poeta latino Tito Lucrécio Caro (De Rerum Natura, I, 932): Religionum animum nodis exsoluere pergo — esforço-me por libertar o espírito dos nós das superstições — onde o poeta epicurista joga, como está claro, com as palavras religio e nodus, religião ("ligação") e nó.
Religião pode, assim, ser definida como o conjunto de atitudes e atos pelos quais o homem se prende, se liga ao divino ou manifesta sua dependência em relação a seres invisíveis tidos como sobrenaturais. Tomando-se o vocábulo em um sentido mais estrito, pode-se dizer que a religião para os antigos é a reatualização e a ritualização do mito. O rito possui, no dizer de Georges Gusdorf, "o poder de suscitar ou, ao menos, de reafirmar o mito".[8]
Através do rito, o homem se incorpora ao mito, beneficiando-se de todas as forças e energias que jorraram nas origens. A ação ritual realiza no imediato uma transcendência vivida. O rito toma, nesse caso, "o sentido de uma ação essencial e primordial através da referência que se estabelece do profano ao sagrado".[9] Em resumo: o rito é a práxis do mito. É o mito em ação. O mito rememora, o rito comemora.
Rememorando os mitos, reatualizando-os, renovando-os por meio de certos rituais, o homem torna-se apto a repetir o que os deuses e os heróis fizeram "nas origens", porque conhecer os mitos é aprender o segredo da origem das coisas. "E o rito pelo qual se exprime (o mito) reatualiza aquilo que é ritualizado: re-criação, queda, redenção".[10] E conhecer a origem das coisas — de um objeto, de um nome, de um animal ou planta — "equivale a adquirir sobre as mesmas um poder mágico, graças ao qual é possível dominá-las, multiplicá-las ou reproduzi-las à vontade".[11] Esse retorno às origens, por meio do rito, é de suma importância, porque "voltar às origens é readquirir as forças que jorraram nessas mesmas origens". Não é em vão que na Idade Média muitos cronistas começavam suas histórias com a origem do mundo. A finalidade era recuperar o tempo forte, o tempo primordial e as bênçãos que jorraram illo tempôre. [39]
Além do mais, o rito, reiterando o mito, aponta o caminho, oferece um modelo exemplar, colocando o homem na contemporaneidade do sagrado. É o que nos diz, com sua autoridade, Mircea Eliade: "Um objeto ou um ato não se tornam reais, a não ser na medida em que repetem um arquétipo. Assim a realidade se adquire exclusivamente pela repetição ou participação; tudo que não possui um modelo exemplar é vazio de sentido, isto é, carece de realidade".[12]
O rito, que é o aspecto litúrgico do mito, transforma a palavra em verbo, sem o que ela é apenas lenda, "legenda", o que deve ser lido e não mais proferido. [40]
No entanto, também é possível ver no sagrado um modo de ser independente do observador. Na medida em que o sobrenatural aflora através do natural, não é mais o sentimento que cria o caráter sagrado, e sim o caráter sagrado, preexistente, que provoca o sentimento. Deste ponto de vista, não há solução de continuidade entre a manifestação da divindade através de uma pedra, de uma árvore, de um animal ou de um homem consagrados. Nesse caso, nem a pedra, nem a árvore, nem o animal, nem o homem são sagrados e sim aquilo que revelam: a hierofania faz que o objeto se torne outra coisa, embora permaneça o mesmo (...). Um objeto ou uma pessoa não são 'apenas' aquilo que se vê; são sempre 'sacramento', sinal sensível de outra coisa; e, por isso mesmo, permitem o acesso ao sagrado e a comunhão com ele".[13]
Nada mais apropriado para encerrar este capítulo que as palavras de Bronislav Malinowski, o grande estudioso dos costumes indígenas das Ilhas Trobriand, na Melanésia. Procura mostrar o etnólogo que "a consciência mítica", embora rejeitada no mundo moderno, ainda está viva e atuante nas civilizações denominadas primitivas: "O mito, quando estudado ao vivo, não é uma explicação destinada a satisfazer a uma curiosidade científica, mas uma narrativa que faz reviver uma realidade primeva, que satisfaz a profundas necessidades religiosas, aspirações morais, a pressões e a imperativos de ordem social e mesmo a exigências práticas. Nas civilizações primitivas, o mito desempenha uma função indispensável: ele exprime, exalta e codifica a crença; salvaguarda e impõe os princípios morais; garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para a orientação do homem. O mito é um ingrediente vital da civilização humana; longe de ser uma fabulação vã, ele é, ao contrário, uma realidade viva, à qual se recorre incessantemente; não é, absolutamente, uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria prática".[14]
À ideia de reiteração prende-se a ideia de tempo. O mundo transcendente dos deuses e heróis é religiosamente acessível e reatualizável, exatamente porque o homem das culturas primitivas não aceita a irreversibilidade do tempo: o rito abole o tempo profano e recupera o tempo sagrado do mito. É que, enquanto o tempo profano, cronológico, é linear e, por isso mesmo, irreversível (pode-se "comemorar" uma data histórica, mas não fazê-la voltar no tempo), o tempo mítico, ritualizado, é circular, voltando sempre sobre si mesmo. É precisamente essa reversibilidade que liberta o homem do peso do tempo morto, dando-lhe a segurança de que ele é capaz de abolir o passado, de recomeçar sua vida e recriar seu mundo. O profano é o tempo da vida; o sagrado, o "tempo" da eternidade.
J.B. Barruel de Lagenest tem uma página luminosa acerca da dicotomia do profano e do sagrado. Para o teólogo em pauta, o profano e o sagrado podem ser enfocados subjetiva e objetivamente: "Se considerarmos a experiência sensível como o elemento mais importante da atitude religiosa, a percepção do sagrado (...) será valor determinante da vida profunda de um indivíduo ou de um grupo. Diante da divindade a criatura só se pode sentir fraca, incapaz, totalmente dependente.
Esse sentimento se transforma em instrumento de compreensão, pois torna aquele que o vive capaz de descobrir, como que por intuição, o eterno no transitório, o infinito no finito, o absoluto através do relativo. O sagrado é, assim, o sentimento religioso que aflora. [40]

Sob um céu de um azul intenso ao centro de uma coroa de montanhas áridas, a acrópole de Micenas ergue suas maciças fortificações. Em um espaço circular, situado ao longo da rampa que leva à porta do palácio, dezenas de operários escavam o solo sob o calo acabrunhante do sol. Ao redor deles, varias estelas de pedra gravadas com motivos em espiral, enquadrando cenas de caça, indicam que o local já abriga vários túmulos. Trata-se nesse momento de realizar o enterro de um dos reis de Micenas, cuja ultima morada ficara perto do palácio onde viveu. Os operários escavam na rocha um grande fosso retangular de 4 metros per 6,40 metros, porque sabem que será utilizado em seguida para outros enterros. Os dignitários e a família escoltam os despojos reais carregados por escravos e vestidos com seus mais belos trajes. Os despojos são depositados no fundo do fosso. Os criados devem agora realizar o ornamento funerário do cadáver. Tudo o que vai ser levado ao fosso é destinado a celebrar por toda a eternidade a potencia e a superioridade do rei que acaba de morrer, a provar que foi o mais corajoso, o mais rico e o mais influente de sua geração. Seu corpo vai desaparecer sob placas de ouro, porque essa exposição de riquezas confere sua legitimidade ao poder que deteve. Sobre o rosto do morto, um escravo põe uma lamina de ouro que reproduz com realismo sua fisionomia: olhos fechados pela morte, bigode e barba representados por delicadas incisões. Não se trata, propriamente falando; de uma mascara funerária modelada diretamente sobre o rosto do morto, visto que há um espaço entre o rosto e a máscara. Escravos envolvem em seguida os membros com faixas de ouro. Costuram finalmente sobre os trajes placas de ouro trabalhadas, representando folhas e rosáceas. O corpo já á comparável a um ídolo precioso que brilha na penumbra do fosso.
É o momento agora de colocar em torno do defunto os diferentes objetos que o acompanharão no além. Tudo o que contribuiu para sua glória foi reunido para ser enterrado com ele. São, em primeiro lugar, os símbolos do poder real que exerceu em vida: varias coroas e diademas de ouro, anéis que levam seu selo, sinetes de pedra dura gravadas com personagens, com animais, com cenas religiosas. Colares de ametista e perolas de ouro, braceletes, anéis, milhares de perolas de âmbar espalhadas sobre o solo relembram sua grande fortuna. Para comprovar a bravura na guerra do rei desaparecido, um arsenal de armas é disposto sobre o solo: espadas maciças de bronze com empunhadura de ouro ou encrustado de lápis-lazúli e cristal de rocha, punhais com as lâminas marchetadas de ouro e de electro (liga natural de ouro e prata), objetos ornados com cenas de caça, de animais marinhos e de espirais decorativas, cinturões e boldriés. Esse instrumental funerário é completado por vasos de metais preciosos ou de alabastro, louça de ouro e prata, pequenas esculturas de marfim de feitura delicada, modelos de terracota de carros de guerra, de navios e de tronos.
Os escravos depositam com precaução as peças principais desse tesouro real, dois rhytons (vasos sagrados para as libações), um em forma de cabeça de leão, feito de ouro martelado de forma geométrica, e outro de prata com aparência de uma cabeça de touro com chifres e com uma rosácea frontal de ouro. Um recipiente de cristal de rocha, representando um pato virando a cabeça, surpreende por sua leveza e sua fragilidade no meio dessas oferendas brilhantes que cobrem o espaço que cerca o corpo.
Todas as riquezas de um luxo inaudito vão desaparecer aos olhos dos vivos, pois, agora, é necessário abandonar a morte a sua ultima morada. Em torno de todo o largo fosso cercado de muros de pedras secas, os operários colocam vigas horizontais a uma altura de cerca de 75 centímetros acima do solo. A seguir, constroem sobre essa estrutura um teto de juncos e de palha, que é recoberto com uma camada de argila. Espalham terra sobre o tumulo assim fechado e erguem uma estela de pedra. Todos os assistentes fazem libações sobre o tumulo e compartilham uma refeição funerária cujos restos são recobertos de terra.
Quando for necessário enterrar outro membro da família, os operários destruirão o teto do tumulo, depositarão o novo corpo, e se necessário, afastando o primeiro para um canto. Em seguida, tudo será reposto de maneira idêntica, a espera de um próximo enterro. Mais tarde um pequeno muro circular de pedras secas cercará o conjunto dos tumulo escavados nesse local para protegê-los das degradações.
O esplendor da Idade do Bronze
A descoberta do esplendor da civilização micênica Instalada no mundo egeu, entre os séculos XVII e XII a.e.c., é tão surpreendente como aquela do mundo minoico descoberta per Arthur Evans. Os gregos da época clássica podem ver ainda as ruínas de Micenas, de Tirinto ou Pilos, principais cidades dessa época antiga. Esses nomes evocam para eles episódios marcantes da mitologia.
Sobre Micenas, "rica em ouro", segundo Homero, reinou a funesta dinastia dos Atridas, cujos crimes monstruosos ainda provocam horror: o fundador, Atreu, para vingar-se de seu irmão Tieste, que tinha seduzido sua mulher, serviu-lhe, durante uma refeição, a carne de seus próprios filhos. A descendência de Atreu é maldita: seu filho Agamenon, designado como o grande rei da expedição grega contra Troia, aceita imolar sua filha Ifigênia para obter ventos favoráveis. Ao regressar de Troia, e assassinado per sua mulher Clitemnestra, e esta veio a ser degolada per seu filho Orestes. Perto de Micenas, Argos e Tirinto também foram palco de crimes lendários. Somente Pilos, a sudoeste do Peloponeso, evoca o velho Nestor, o mais sábio dos reis gregos.
Quando esses ricos reinos desmoronam entre os séculos XIII e XII a.e.c., muitos palácios são queimados e pilhadores se apoderam dos tesouros que eles contém. Assim, poucos elementos subsistem para permitir as gerações posteriores conhecer a potência dos micênicos.
Em 1841, o novo Estado grego manda escavar a acrópole de Micenas e a espetacular Porta das Leoas, enterrada ate o lintel, é descoberta inteiramente. Em 1876, o alemão Heinrich Schliemann traz à tona no interior da a acrópole de Micenas, um circulo de 6 túmulos reais (circulo A) comendo 19 corpos, homens, mulheres e crianças, e um móvel funerário de um luxo inaudito: máscaras de ouro cobrindo o rosto dos homens, colares e diademas adornando as mulheres, joias, armas, num total de mais de 14 quilogramas de ouro. É realmente a Micenas, "rica em ouro", de Homero que acaba de ressuscitar. Schliemann se convence de ter descoberto os túmulos dos Atridas e julga reconhecer Em uma das mascaras funerárias o rosto de Agamenon. Em 1953, a exumação de um novo circulo de túmulos (circulo B), fora dos muros de Micenas, pouco mais antigo que o circulo A, permite dar uma explicação a certas obscuridades que subsistiam depois da descoberta principal de Schliemann.
Existente também, perto da acrópole de Micenas, túmulos coletivos em tholos (cúpulas), apresentados como os de Egisto, de Clitemnestra e de Agamenon. O deste ultimo, chamado também de "tesouro de Atreu", constitui o mais belo exemplo da arquitetura monumental micênica. Um longo corredor cortado na rocha leva a uma porta de 5 metros de altura, encimada de um lintel de dois blocos enormes, um dos quais pesa 120 toneladas. No interior, a câmara funerária circular é dominada por uma abóbada em cúpula de 13 metros de altura. É provável que esses túmulos em tholos contivessem tesouros comparáveis aos dos túmulos dos círculos A e B, mas foram pilhados desde a Antiguidade.
Durante todo o século XX, os arqueólogos descobrem no Peloponeso e na Grécia continental outras provas desse período histórico ate então desconhecido. Micenas se torna a cidade epônima dessa civilização grega do 2° milênio a.e.c., e o qualificativo "micênico" é conferido a todos os vestígios da Idade do Bronze exumados em quase 400 sítios arqueológicos da Grécia.
Numerosas hipóteses foram aventadas para explicar a presença dos micênicos na Grécia durante o 2° milênio. Hoje a prudência se impõe em relação às origens da civilização micênica, e parece que não é necessário procura-las fora da Grécia. Do mesmo modo, para justificar a importância do material funerário de Micenas, o mais rico de todos os túmulos conhecidos hoje na Grécia, não é necessário fazer intervir elementos externos. Parece muito mais provável que uma classe social dominante lentamente emergiu na Argólida, de cujas terras férteis, fonte de seu poder, progressivamente se apoderou.
Ao contrário dos minoicos, os micênicos são guerreiros, o que a robustez dos corpos descobertos nos túmulos e as numerosas armas defensivas e ofensivas em seu poder confirmam. As maciças fortalezas de Micenas, de Tirinto e de Pilos comprovam essa impressão. Os gregos atribuíam dos lendários ciclopes (gigantes de um só olho) essas construções "sobre-humanas": os blocos irregulares e mal desbastados dos muros de Tirinto podem pesar ate 13 toneladas cada um, o lintel da Porta das Leoas tem um peso de mais de 20 toneladas. Além do aparato ciclópico dos muros micênicos, os tuneis, as passagens subterrâneas, as casamatas escavadas na espessura das muralhas confirmam também a elevada técnica dos engenheiros.
O palácio micênico se situa geralmente fora da cidade e suas fortificações lhe permitem sustentar um assedio. Três deles são conhecidos, os de Micenas, Tirinto e Pilos. Seu projeto é muito simples, bem distante da complexidade do palácio minoico. Um pórtico anterior e um vestíbulo conduzem a uma grande sala, o megaron, cujo teto é sustentado por quatro colunas e possui em seu centro uma lareira. Em torno do megaron, estão distribuídos os apartamentos reais e as salas cultuais. Depósitos e celeiros são construídos no entorno do palácio.
No palácio de Nestor em Pilos, os arqueólogos descobriram, precisamente antes da Primeira Guerra Mundial, 1.200 placas gravadas em linear B. Em 1952, dois ingleses, Michael Ventris e John Chadwick, tem a ideia, para decifrar esses textos, de aplicar-lhes os métodos utilizados durante a guerra de 1939 a 1945 para a decodificação das mensagens secretas alemãs. Chegam assim a decifrar essas placas e se dão conta de que sua língua silábica é uma forma arcaica do grego clássico.
Os documentos de Pilos, como os de Creta, contem inventários e listas de empregados. Essas placas dão preciosas informações sobre a sociedade micênica, que é extremamente hierarquizada. Cada reino é colocado sob a autoridade do wanax (chefe ou rei), o maior proprietário de terras. O wanax comanda o exercito, recolhe impostos e controla a administração do palácio. Ao lado dele está um personagem muito importante, o lawagetas, este também proprietário de numerosas terras, mas cujas funções são mal conhecidas. O séquito do rei se compõe de equetai, provavelmente oficiais, e telestai, encarregados da administração. O resto da população constitui o damos, ou povo. As placas mencionam também os escravos, essencialmente mulheres e crianças, que trabalham como empregados ou criados no palácio.
As placas de Pilos trazem também informações sobre a religião dos micênicos. Contém os nomes da maioria dos deuses que constituirão mais tarde o panteão grego clássico. Como os minoicos, os micênicos praticam frequentemente seu culto ao ar livre, perto de uma fonte ou caverna. Existem também locais de culto nas aglomerações. Subsistem ainda muitas incertezas sobre as cerimonias religiosas micênicas e sobre a função precisa de cada divindade. O estatuto das terras que constituem um reino micênico e sua distribuição entre grandes proprietários e camponeses livres são pouco evidentes. A produção agrícola é abundante e deve ser suficiente para a alimentação da população. A administração real recolhe impostos sobre as colheitas e taxas in natura.
O artesanato é florescente nas sociedades micênicas, como provam os vestígios arqueológicos. Centenas de operários trabalham nos palácios e nas cidades para fabricar tecidos, forjar armas, confeccionar peças de cerâmica. Os micênicos comerciam com países remotos, especialmente no Mediterrâneo ocidental, para obter os materiais de que necessitam, em particular marfim, cobre, necessário para a fabricação do bronze, ouro, pedras preciosas, massa de vidro. Eles exportam objetos manufaturados.
A potência refinada das obras de arte micênicas é surpreendente. A influencia minoica é sensível e operários cretenses vieram, indubitavelmente trabalhar na Grécia. Os afrescos que ornam as paredes dos palácios tem como temas procissões solenes, cenas de caça e de guerra. A decoração das cerâmicas, muito sóbria, se define por uma estilização um tanto rude. Os ourives sabem realizar obras-primas, como as figuras fortemente individualizadas das mascaras funerárias, a decoração marchetada dos punhais ou as minúsculas cabeças de alfinete trabalhadas. Duas canecas de ouro batido, provenientes de um tumulo de Vaphio, perto de Esparta, apresentam cenas de um realismo muito expressivo. O trabalho das pedras preciosas e do marfim é também marcante.
A civilização micênica desaparece por volta do século XII a.e.c. Os palácios são destruídos ou perdem sua importância. A escrita linear B é abandonada na Grécia. Atribuído durante muito tempo a invasores vindos do norte, esse desaparecimento deve, de fato, ter sido provocado por perturbações internas nos reinos. Esquecida ou mal conhecida durante séculos, a civilização micênica, graças às descobertas arqueológicas, tornou-se o elo indispensável para melhor compreender o remoto passado da Grécia clássica.

O surgimento das crenças e práticas escandinavas e germânicas, são originárias do passado comum indo-europeu, ampliadas com as tradições e os elementos nativos das tribos que já moravam no norte e nordeste europeu, lá existindo desde a pré-história. Foi comprovado, através de pesquisas de mitologia comparada e filologia, que os dialetos germânicos e escandinavos do continente, junto com as línguas de origem latina, eslava, celta, hindu e persa, pertenciam à mesma família linguística indo-europeia.
As várias tribos que saíram das suas pátrias da Ásia Central para conquistar novos territórios — no norte da Europa e no leste, chegando até a índia — levaram consigo nas suas migrações não apenas uma base linguística comum, mas uma mesma fé e mitologia, partilhadas por todos. Da mescla dos seus mitos e práticas surgiu o complexo panteão nórdico e os grupos das divindades Aesir e Vanir, além dos vários arquétipos de seres sobrenaturais, guardiões da natureza e os amplos e duradouros cultos aos ancestrais.
Do mesmo tronco indo-europeu, outras tribos arianas vindas da Ásia Central se deslocaram para o sul da Europa e, com o passar do tempo, lá floresceram duas relevantes culturas: a grega e a romana. Separadas por condições geográficas diferentes e com outro tipo de desenvolvimento histórico, social e cultural, à primeira vista a mitologia nórdica e a greco-romana têm pouco em comum. Mas, analisando com atenção e cuidado, observamos uma analogia dos conceitos fundamentais, com mitos e divindades semelhantes, as diferenças sendo devidas às influências recebidas pela diversidade das tribos conquistadas e integradas ao Império Romano, além do clima e da natureza específica às regiões temperadas e à bacia do Mediterrâneo. Percebem-se assim as sementes indo-europeias, que deram origem a ambas as tradições, mas com um colorido e descrições diferentes.
Oferecemos neste pequeno capítulo conhecimentos, comparações e analogias para aqueles leitores que desejam se aprofundar e compreender melhor o fascinante legado cultural e mitológico do norte e do sul da Europa.
O início dos tempos
Os povos nórdicos acreditavam que o mundo surgiu do caos, pois no princípio não existia nem céu, nem terra, apenas um abismo sem fundo, com uma extremidade de fogo e outra de gelo; espelhando o seu habitat, a criação do mundo na cosmologia nórdica era representada como um encontro dramático entre as forças primordiais do fogo e do gelo. Essa imagem é um traço característico da natureza islandesa, onde é visível o contraste entre o solo vulcânico, os gêiseres borbulhantes e os grandes icebergs ao redor. Desses elementos opostos — fogo e gelo, calor e frio, expansão e contração — nasceram os Jotnar (os gigantes nórdicos), que, semelhantes aos Titãs, os precursores dos deuses gregos, tinham uma impressionante força e resistência física, mas diferentes deles, suas feições eram rudes e a inteligência primitiva, prevalecendo os instintos.
Os gigantes representavam os poderes naturais dos elementos e do ambiente em que viviam, alguns deles se tornaram progenitores das divindades que os seguiram na regência do mundo. Do vazio primordial surgiram dois seres, personificações primevas da energia e da matéria, o gigante Ymir (equiparado com os Titãs, que também personificavam o fogo subterrâneo) e a vaca AucLhumbla, tornando-se cocriadores no processo de formação da vida.
Ymir, como ser hermafrodita e sendo ao mesmo tempo gigante e deus, gerou vários descendentes; seus netos — a tríade divina Odin, Vili e Vé — gerados por uma força tripla (a mescla do fogo, do gelo e do princípio feminino — a vaca Audhumbla) mataram Ymir e, da sua matéria cósmica bruta, remodelaram o cosmo estático e o transformaram em um sistema vivo e dinâmico.
No mito grego, no começo dos tempos prevalecia o caos, em que todos os elementos estavam misturados formando uma massa informe, mas que continha em si as sementes da criação. O primeiro ser que surgiu foi Gaia, a mais antiga deusa e a Grande Mãe primordial, a própria terra, que soprou a vida no vazio e criou montanhas (seus seios), rios (seu sangue), grutas (seu ventre), planícies, florestas e desertos (seu corpo). Apesar de Gaia representar o planeta inteiro, para os gregos ela personificava o seu país e a fertilidade e abundância da terra.
Ao unir-se ao seu primogênito, Urano, o céu, ela gerou os Titãs (entre os quais se sobressaíam Cronos, Oceano, Hipérion, Eurinome, Têmis e Mnemosine) e depois os Ciclopes, seres gigantes e imbuídos de força irracional, que foram aprisionados por Urano (que temia seu poder primal), no mundo ctônico, o Tártaro. Revoltada com a sorte dos seus filhos e preocupada com a crueldade do seu marido, Gaia persuadiu seu filho Cronos, o mais jovem dos Titãs, a castrar e matar Urano; do seu sangue, que fertilizou novamente Gaia, surgiram as Fúrias, vários seres gigantes e as ninfas das árvores.
Cronos regeu a Idade de Ouro, um período de paz e prosperidade, mas devorava seus filhos à medida que nasciam, com medo de ser por eles destronado, assim como ele tinha feito com seu pai. Como o Senhor do Tempo, Cronos na realidade representava o fim de todas as coisas. Seu filho Zeus escapou a esse cruel destino por ter sido escondido pela sua mãe em uma gruta no monte Ida, em Creta, onde foi amamentado pela cabra Amaltea e cuidado pelas ninfas. Com a ajuda da deusa Métis, Zeus administrou um veneno ao seu pai, que o fez vomitar e devolver todos os seus filhos. Zeus — ou o seu equivalente romano Júpiter — libertou alguns dos Titãs presos no Tártaro e entregou aos seus irmãos Posêidon e Hades, os reinos do oceano e do mundo subterrâneo. Zeus se declarou o governante supremo, dos deuses e dos homens e foi morar no palácio do Monte Olimpo, de onde supervisionava todos os recantos do mundo e seguia a sua própria jornada, a busca do poder e prazer.
Tanto os gigantes do fogo e do gelo, quanto os Titãs, foram vencidos após batalhas ferozes, em busca da supremacia e do poder e foram banidos pelos seus descendentes, após sua derrota, uns para jötunheim, os outros para Tártaro, sendo obrigados a ceder seu poder primevo para um novo panteão, mais refinado. Engrandecidos pela sua vitória, os vencedores — que eram aparentados entre si —se instalaram em palácios dourados, seja os do reino nórdico de Asgard (as moradas das divindades Aesir), situados num dos níveis sutis da Arvore do Mundo, Yggdrasil, seja os dos seus equivalentes gregos do Monte Olimpo.
Os deuses representam o poder de manipulação e transmutação das forças naturais; a interação entre deuses e gigantes pode se manifestar como conflito ou domínio das forças naturais, levando à preservação ou à destruição da terra e de todos os seres vivos.
Os mitos nórdicos e os gregos, bem como as estórias e relatos das peripécias e conquistas das divindades são parecidos com os dramas humanos, descrevendo os conflitos inerentes e existentes entre gerações, famílias e indivíduos. As divindades eram dotadas com as mesmas virtudes e defeitos comuns aos seres humanos, sendo descritas como seres orgulhosos, vaidosos, violentos, belicosos, ciumentos, vingativos, sensoriais e passionais, interessados em observar, ajudar ou desafiar a humanidade, mas sem muita complacência, tolerância ou compaixão com suas ações negativas, seus erros, objetivos ou necessidades. Por outro lado, certos humanos tornados imortais — os heróis — possuíam poderes físicos e sabedoria semelhantes aos deuses, como se vê na descrição dos 12 trabalhos de Hércules ou nas proezas dos personagens históricos citados nas sagas islandesas.
A criação do homem
A tríade nórdica divina, Odin, Vili, Vé —os descendentes de Ymir —, é semelhante aos deuses Zeus (Júpiter), Posêidon (Netuno) e Hades (Plutão), que, por terem maior poder e astúcia, venceram os gigantes (ou osTitãs) e assumiram o controle do mundo.
Os gregos modelaram as suas primeiras imagens de argila, por isso imaginaram que Prometeu tivesse usado o mesmo material quando foi chamado para confeccionar uma criatura inferior aos deuses, mas acima dos animais. Como as estátuas nórdicas eram feitas de madeira, os nórdicos atribuíram a criação do primeiro casal humano ao uso de troncos de árvores.
Os deuses nórdicos criaram o primeiro casal humano a partir de troncos de árvores, ou seja, de matéria orgânica preexistente, aos quais deram o espírito, os sentidos, o movimento, as funções da mente, o dom da palavra, a energia vital e a consciência.
Na mitologia grega, quem criou o homem foi Prometeu, um dos Titãs, que misturou terra e água e modelou um ser à semelhança dos deuses, que, diferente dos animais, ficava em pé e olhava para os céus, podendo assim invocar os deuses e agradecê-los. Para torná-lo especial e diferente dos seus irmãos menores, Prometeu entregou-lhe depois o fogo tirado do sol, que lhe assegurou a superioridade ao usá-lo para cozinhar, se aquecer ou defender e modelar metais em ferramentas e armas.
A primeira mulher foi Pandora, criada no céu, onde cada deus contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la: Afrodite lhe deu beleza; Hermes, a persuasão; Apolo, a arte. Ela recebeu também uma caixa que não devia abrir, porém, movida pela curiosidade, destampou-a e espalhou para a humanidade o conteúdo de pragas, maldades, males e doenças, permanecendo na caixa apenas a esperança. Assim, sejam quais forem os males que nos ameaçarem, a esperança nos permite sobreviver e vencer.
Ambos os panteões seguiam uma hierarquia familiar e uma evolução progressiva, correspondendo às Idades de Ouro (em que prevalecia a justiça, a paz, a abundância da terra), Prata (quando o ano foi dividido em estações, as moradas se tornaram necessárias, a terra tinha que ser plantada e cuidada), Bronze (o começo da competição e dos combates entre os homens) e por último a de Ferro (quando a humanidade tornou-se vil e violenta, começando a destruição dos recursos da terra), que passou a ser dividida em propriedades cobiçadas e conquistadas à força. Inúmeras guerras irromperam, havia crimes até mesmo entre familiares e a terra ficou manchada de sangue, até que os deuses entristecidos decidiram abandoná-la. Zeus ficou enfurecido com o caos reinante e decidiu destruir todos os seres humanos, jogando sobre eles o seu raio, para propiciar o nascimento de uma nova e melhor geração. Porém, temendo que o fogo afetasse o proprio habitat dos deuses — o céu —, ele escolheu outra forma de punição, provocando um dilúvio. Para isso Zeus desencadeou o movimento dos ventos, o avolumar das ondas, deixou os rios saírem dos seus leitos, sacudiu a terra com terremotos e erupções vulcânicas, até que nada mais restou das moradas, dos animais, árvores, plantas, campos, florestas ou seres humanos.
Apenas um casal sobreviveu, Deucalião e Pirra, que pertencia à mesma raça de Prometeu. Desesperados, eles começaram a orar aos deuses, pedindo-lhes clemência.
Zeus ficou tocado com a sua conduta humilde e a prece fervorosa e ordenou aos elementos que voltassem aos seus lugares, pedindo também aos outros deuses que harmonizassem a desordem reinante. O casal se ajoelhou nos escombros do altar do único templo restante, de Delfos, orou agradecendo pela sua sobrevivência e pedindo um conselho para a sua futura conduta.
O Oráculo, na voz de Gaia, lhes disse que saíssem do templo cobrindo suas cabeças, e que jogassem pedras ao seu redor, para que delas fossem formados seres humanos novos e melhores, repovoando assim a Terra. Assim foi feito e, aos poucos, uma nova raça foi surgindo, cuidando melhor dos recursos da terra e respeitando todos os seres vivos. As descrições e eventos do mito grego são semelhantes ao Ragnarök, o fim dos tempos da mitologia nórdica.
Cosmogonia
Na visão nórdica, a morada da humanidade — Midgard ou Manaheim — era cercada pelo mar, em cujas profundezas habitava a terrível Serpente do Mundo, enrolada ao redor de si mesma e mordendo sua cauda, cujas contorções provocavam ondas gigantes e tempestades marinhas e que iria ser fator preponderante no cataclismo final do Ragnarök. A passagem entre o mundo divino e os outros mundos — incluindo o humano — era feita pela ponte do Arco-Íris, formada de fogo, agua, ar e guardada pelo deus Heimdall. O cosmo multidimensional era representado por Yggdrasil, a Arvore do Mundo, cujas três raizes correspondiam às três dimensões (dos deuses, homens e dos mortos), que interligavam nove mundos, intercalados no espaço e sob cujas raízes brotavam três fontes sagradas, com significados e funções diferentes. A árvore gerava e sustentava a vida e abrigava as almas à espera do renascimento.
Os gregos acreditavam que a Terra fosse redonda e chata e que o seu país ocupava o centro da Terra, sendo seu ponto central o Monte Olimpo a residência dos deuses, ou o templo oracular de Delfos. Na sua visão, o disco terrestre era atravessado de leste para oeste e dividido em duas partes iguais pelo mar (o Mediterrâneo); em torno da Terra corria o rio Oceano, cujo curso era do sul para o norte na parte ocidental da Terra e em direção contrária do lado oriental; era dele que todos os rios e mares da Terra recebiam suas águas. O rio Oceano tinha uma superfície calma e suas correntes eram amenas, assim como era também o mar ensolarado do Sul, o Mediterrâneo.
Na cosmogonia grega existia uma terra mítica dos Hiperbóreos (a contraparte de Niflheim, o reino enevoado e frio do mito nórdico), situada no extremo norte da Terra (possivelmente Escandinávia), inacessível por terra ou por mar, onde “penas brancas” caíam do céu cobrindo a terra (uma bela imagem da neve). Os hiperbóreos eram um povo evoluído, que desfrutava de uma felicidade perene, isentos de doenças, velhice e guerras; eles viviam atrás de gigantescas montanhas, de cujas cavernas saíam as gélidas lufadas do vento norte. Foi lá, numa tempestade de neve, que o herói Hércules realizou um dos seus 12 trabalhos, alcançando e amarrando a corça de Cerínia (que pertencia a Artemis), que tinha chifres de ouro e cascos de bronze e corria com espantosa rapidez, sem jamais ter sido presa. Na sua visão no extremo sul da Terra, próximo ao rio Oceano, vivia um povo tão virtuoso e feliz como os Hiperbóreos, chamado de Etíopes. Na parte ocidental da Terra, banhada pelo Oceano, ficava um lugar abençoado, os “Campos Elíseos” ou “Afortunados”, para onde mortais favorecidos pelos deuses eram levados para desfrutar da imortalidade, uma semelhança com a Valhalla nórdica, onde os espíritos dos guerreiros mortos em batalha, festejavam em cada noite e lutavam durante os dias. Porém, na extremidade oeste, os gregos imaginavam um mar escuro povoado com gigantes, monstros e feiticeiros, descrição que revelava o pouco conhecimento dos gregos sobre seus vizinhos, além daqueles do leste e sul do seu país.
Fenômenos celestes
Assim como os gregos, os povos nórdicos acreditavam que a Terra tinha sido criada em primeiro lugar e a abóbada celeste em seguida, para que lhe servisse de cobertura e proteção. Eles também acreditavam que as carruagens do sol e da lua, puxadas por velozes corcéis, percorriam o céu na sua trajetória diária. A diferença aparecia no gênero das divindades, enquanto Sunna é a deusa solar do norte, seus equivalentes no sul são os deuses Hélios (o predecessor de Apolo), Hipérion (o pai de Hélios) e Apolo. Hélios morava em um palácio dourado no extremo leste do mundo, perto do rio Oceano, de onde emergia em cada amanhecer, coroado com os raios solares e conduzindo sua carruagem dourada, puxada por quatro cavalos alados.
Essa imagem é semelhante à descrição da deusa solar nórdica — Sunna ou Sol; nos seus mitos ambas as divindades se retiravam das suas carruagens solares ao anoitecer, assumindo outros veículos com os quais atravessavam abaixo da terra onde repousavam, até de novo reaparecerem na madrugada do dia seguinte, retomando sua jornada. Os gregos acreditavam que a aurora, o sol e a lua levantavam-se do Oceano na sua parte oriental e após atravessarem o ar, deitavam-se no ocidente. Devido a uma particularidade da língua germânica, o gênero do sol era feminino e o da lua masculino, por isso o deus lunar Mani podia ser equiparado às deusas lunares Artemis, Selene e Hécate (as representações das fases lunares).
Os skalds islandeses e os poetas germânicos comparavam o galope das Valquírias - montadas sobre seus corcéis com crinas brilhantes e portando armaduras cintilantes - às luzes fulgurantes da aurora boreal. Os aregos viam no mesmo espetáculo celeste as manadas brancas de bois e ovelhas, que pertenciam a Apolo e que eram cuidadas pelas suas filhas Lampécia e Faetusa, nas terras de Sicília. O orvalho era atribuído pelos nórdicos ao suor respingando das crinas dos cavalos das Valquírias, enquanto os gregos acreditavam que ele provinha da ninfa Daíne, que, por ter sido perseguida sem cessar pelos raios solares de Apolo, transformou-se na arvore de louro, tornada sacra pelo arrependimento do deus e a ele consagrada.
A Terra era uma divindade feminina, tanto no norte quanto no sul, honrada como a Mãe Geradora e Protetora de todos os seres, mas diferenciada em função das características geográficas e climáticas do norte e do sul. As diferenças apareciam nas descrições da sua manifestação: rígida e congelada como Rinda, que devia ser conquistada com perseverança e abnegação, ou benevolente e fértil como a Deméter grega. Os gregos acreditavam que os ventos frios e o granizo vinham do norte, assim como os proprios nórdicos sabiam, mas atribuíam sua formação ao movimento das asas da grande águia pousada no topo da árvore Yggdrasil.
Segundo os gregos, existiam portas nas nuvens, guardadas pelas deusas das estações, que as abriam para permitir a passagem dos imortais nas suas viagens para a Terra. No mito nórdico a ligação entre o mundo dos humanos e o das divindades era feita pela ponte do Arco íris, Bifrost, protegida pelo deus Heimdall, que negava a entrada para aqueles seres (humanos ou sobrenaturais) que não tinham o direito ou a permissão de entrarem no mundo divino. Além de Bifrost existiam outras pontes, separando ou ligando os outros mundos.
Os deuses gregos tinham moradias distintas, mas quando convocados para os conselhos, se reuniam no palacio de Zeus, onde se regalavam diariamente com ambrosia e néctar, servidos pela linda deusa da juventude Hebe e, quando o sol se punha, se retiravam para seus palácios. As divindades nórdicas também se reuniam para deliberar, criar leis ou administrar assuntos do seu reino ou dos humanos, nos grandes salões de Valhalla, onde festejavam com brindes de hidromel, preparado no caldeirão mágico do deus Aegir. Eram 12 as divindades que se reuniam nos concílios para deliberar e decidir a melhor maneira de governar o mundo e a humanidade, tanto em Asgard, quanto no Monte Olimpo e elas foram associadas com constelações e corpos celestes.
Nornas e Moiras
É evidente a semelhança entre o conceito do orlög nórdico e do destino grego, entre as poderosas Senhoras do Destino — Nornas e Moiras, respectivamente — que presidiam a todos os nascimentos e determinavam o futuro das crianças, bem como o traçado da sorte dos homens.
Os povos nórdicos sabiam, que mesmo reverenciando, invocando e fazendo oferendas às divindades, elas não iriam deles afastar os perigos e as adversidades, por fazerem parte dos testes e provações dos seus destinos, previamente designados e traçados pelas Nornas. As lendas e os mitos nórdicos não descrevem atos de revolta, ou demonstrações de amargura e inconformação dos personagens perante as adversidades e contratempos das suas vidas; pelo contrário, observa-se uma heróica aceitação da inevitabilidade dos problemas e dificuldades, celebrando e agradecendo em troca os prazeres sensoriais e as dádivas materiais da existência.
Os deuses conferiram à humanidade a aceitação da vida como um traçado inalterável do destino, previamente escolhido e determinado pelas Nornas. Orlög representava o presente moldado pelas ações passadas, enquanto Wyrd era o destino individual, predestinação ao qual nem mesmo as divindades podiam escapar. As Nornas podiam aconselhar os deuses que as procuravam, sem jamais atenderem pedidos ou mudarem os seus destinos, como foi descrito no mito do deus Baldur. As Nornas habitavam uma gruta nas raízes de Yggdrasil, a Árvore do Mundo e os seus nomes podiam ser interpretados como atribuições ligadas à passagem do tempo: Urdh, “Aquilo que já aconteceu”, Verdandhi, “Aquilo que está sendo” e Skuld, “Aquilo que poderá vir a ser”, aspectos associados também ao nascimento, vida e morte. Sua função cósmica era estabelecer as leis e modelar os destinos de todos os seres vivos, de todos os mundos, inclusive dos deuses.
As Parcas ou Moiras, conhecidas como as “Fiandeiras” ou “Tecelãs”, eram também um grupo em número de três deusas — como as Nornas —, representando os marcos da passagem do tempo — passado, presente e futuro. A sua missão consistia em tecer o fio do destino humano, medi-lo e com sua tesoura cortá-lo, atividade revelada pelos seus nomes: Cloto, a tecelã; Láquesis, a distribuidora e Atropos, a inevitável. Diferente das Nornas, que tinham surgido antes do início dos tempos sem que fosse conhecida a sua origem ou descendência (portanto sendo imemoriais e eternas), as Moiras eram filhas da deusa Têmis (a guardiã da lei e da justiça) ou, segundo outras fontes, de Nix, a Senhora da Noite.
Em alguns mitos conta-se que o seu poder era mais antigo e anterior ao império de Zeus, tendo dele recebido a permissão para aconselhar os deuses, mas sem influírem no destino deles, somente assim obtendo a aceitação para pertenceram ao novo panteão olímpico. As Moiras viviam em uma caverna ao pé de um lago, cuja água branca é uma imagem do luar, imagem que as associa com as três fases lunares.
A mãe do mundo
Nas estórias gregas, relativas ao começo de tudo, três grandes deusas representam o papel da Mãe do Mundo: Tétis, a deusa do mar, Nix, a regente da noite e Gaia, a Mãe Terra, que juntas formam uma trindade, abrangendo o domínio do céu, do mar e da terra. Mesmo sendo uma trindade, elas não constituem divisões de uma deusa tríplice, atributo que ficou associado apenas com a deusa lunar e seus aspectos de lua crescente (incluindo a nova), cheia e minguante, fases ligadas também aos estágios de nascimento, crescimento e declínio.
Nos mitos nórdicos não existem referências claras ou comprovações assim ditas científicas sobre a existência de uma única Mãe Ancestral, mas encontramse inúmeras das Suas representações como mães tríplices, matronas, mães da natureza. Seus diversos elementos e aspectos eram reverenciados com diversos títulos e nomes, os atributos sendo diferenciados em função da tribo, localização geográfica, estação do ano ou época dos seus cultos.
Mitos das estações
As Horas (Horae) eram três deusas gregas, filhas de Zeus e Têmis, que regiam a estabilidade do tempo e a ordem na sociedade humana, quando assumiam os nomes de: Eunomia (Ordem), Dice (Justa retribuição) e Irene (Paz). Outras representações delas como governantes das três estações (primavera, verão e outono, específicas ao clima ameno do sul da Europa), do tempo e dos ciclos da vegetação (semeadura, brotação, amadurecimento e colheita) eram chamadas como Talo (regente da primavera), Auxo (do verão) e Carpo (do outono) e descritas como lindas moças, segurando flores e espigas. Elas abriam as portas do céu para a passagem das divindades nas suas incursões à Terra, traziam e conferiam oportunidades, iam e vinham de acordo com a lei firme da periodicidade da natureza e da vida, governavam as mudanças do tempo e mantinham a estabilidade no mundo natural.
Na mitologia nórdica, a passagem do tempo era representada pela Roda do Ano, cuja característica básica era o jogo entre as energias de luz e escuridão, calor e frio, expansão e contração. A Roda do Ano era dividida e celebrada pelos festivais solares (que marcavam a mudança das estações de acordo com a marcha do sol no céu, em datas fixas conhecidas como solstícios e equinócios) e pelos festivais do fogo (pautados em datas do calendário agrícola e que diferiam em função da localização geográfica). Cada um desses festivais tinha como ponto focal a reverência de certas divindades, descritas na Roda do Ano.
Os povos nórdicos reconheciam apenas três estações, cada uma delas correspondendo a certas divindades. O inverno era regido pelas Senhoras Brancas (Berchta, Holda), as deusas Rind e Skadhi e o deus Ullr; a primavera era associada com as deusas Freyja, Frigga, Idunna, Ostara, Rana Neidda, Rind e Walburga e o verão com Freyja, Frigga, Gerda, Nerthus, Sif, Sunna e os deuses Frey, Njord e Thor. As mudanças de tempo (chuvas, tempestades, vento, nuvens cinzas ou céu azul) eram provocadas pelas mudanças de humor, os deslocamentos ou atributos das deusas Thrud, das Senhoras Brancas (Berchta e Holda), de Gna, Skadhi, Vaiquírias e dos deuses Odin, Njord, Thor (relâmpagos e trovões) e Ullr (neve e névoa).
Idunna, assim como Perséfone e Eurídice, personificava a primavera e ajuventude, pois ela levava diariamente aos deuses as maçãs da juventude; todas elas tinham sido raptadas por um gigante (Thiazzi e Hades) e foram trazidas de volta pelo sopro do vento (representado por Loki, Hermes e o suave som da flauta de Orfeu).
Frey era o deus regente das chuvas da primavera, do calor do verão e da fartura das colheitas, que se deslocava numa carruagem puxada por javalis dourados, semelhante à carruagem dourada de Apolo. O belo e bondoso Frey tinha características solares comuns com Apolo, mas regia principalmente a fertilidade da terra e a prosperidade das comunidades.
A deusa Gerda era conhecida pela sua beleza que iluminava o céu, a terra e personificava a aurora boreal; mas ao mesmo tempo era a regente da terra congelada pelo frio do inverno, que teve que ser aquecida pelas insistências e o amor solar de Frey, antes de concordar em se tornar sua esposa.
O desaparecimento misterioso de Odin e Odhr durante alguns meses do ano e a decorrente desolação de Frigga e Freyja chorando lágrimas de ouro e âmbar, são estórias nórdicas semelhantes aos “Mistérios de Eleusis”, as famosas celebrações milenares gregas. Nos rituais gregos era encenado o rapto de Perséfone (levada ao mundo subterrâneo por Hades, simbolizando o fim da vegetação no outono e a hibernação das sementes), o desespero e luto de Deméter, chorando a ausência da sua amada filha e se retirando do mundo terrestre (fato que retratava a aridez da terra nos meses de inverno). O tema comum dos mitos é a alternância do inverno e do verão, da colheita e da semeadura, da morte e do renascimento da vegetação.
Os invernos gelados e os ventos cortantes dos países nórdicos eram personificados pelos gigantes de gelo ou Jómar, os seres primordiais das forças destrutivas da natureza, vencidos pelos deuses Aesir e isolados nas grutas escuras e geladas, antes de terem sido criadas as condições favoráveis para a vida humana. Eles representavam as adversidades climáticas do extremo norte, as geleiras e as tempestades de neve. Enquanto os gregos acreditavam que o Monte Atlas tinha sido a metamorfose de um Titã, os picos alemães Riesengebirge, (a montanha dos gigantes) eram considerados a morada dos gigantes de gelo, de onde eles jogavam o excesso de neve acumulado ao seu redor em forma de avalanches.
Mitos sobre o perigo e a beleza do gelo são frequentes nos países nórdicos, os gigantes eram considerados forças maléficas e destrutivas, que, durante os meses de inverno, lutavam contra as forças do verão, enviando os ventos gelados e as tempestades de neve. Porém, as gigantas eram cobiçadas pelos deuses como amantes ou companheiras, devido aos seus dons proféticos e sua beleza radiante; ao se casarem com eles, elas podiam adquirir status de deusas e morarem em Asgard (como Gerda, Gefjon, Jord)
Regentes da natureza
Os povos nórdicos honravam inúmeras regentes e guardiãs das florestas como as mulheres-freixo ou mulheres-arbusto, as Senhoras Verdes, o povo de Huldr, os espíritos da natureza (Land-vaettir), Vittra (a personificação da mulher selvagem), Nanna, a deusa da vegetação e do florescimento. Eles também cultuavam as deusas da terra (Nerthus, Jord, Fjorgyn, Gefjon), dos campos de trigo (Sif, Ziza), da vegetação (Idunna, Nana e o deus Frey) e das ervas curativas (Eir).
Os elfos claros — que eram responsáveis pelas árvores, plantas e rios, assim como os Seres Sobrenaturais e os Guardiões Ancestrais dos reinos e elementos da natureza nórdica — podem ser equiparados às ninfas dos bosques, dríades e hamadríades ligadas a determinadas árvores (carvalho e freixo), as Oréades, ninfas das montanhas e grutas, aos sátiros (meio-homens, meio-bodes), silvanos, silenos e faunos, acompanhantes do deus Pã (o deus fálico dos bosques, dos campos, dos rebanhos e pastores) e moradores das florestas, vales e campos da antiga Grécia.
Os anões e os elfos escuros, criados do corpo de Ymir, eram semelhantes aos servos escuros de Hades, que não podiam sair das profundezas da terra sob risco de ficarem petrificados pelos raios solares. No mundo subterrâneo eles deviam cuidar ou buscar os metais e as pedras preciosas necessárias para os ornamentos e joias dos deuses, auxiliar na confecção das armas inquebráveis (pelo deus Hefesto), ou na criação dos objetos mágicos (como os tesouros de Asgard), que eram presenteados aos deuses e heróis.
O roubo dos cabelos dourados de Sif — a esposa de Thor e regente dos campos de trigo — pelo traiçoeiro Loki pode ser comparado ao rapto de Perséfone por Hades, ambas as deusas representando a riqueza da vegetação. Para a recuperação da cabeleira da deusa Sif — depois de ter sido ameaçado com a morte por Thor — Loki teve que apelar aos elfos ferreiros, se esgueirando pelas frestas da terra até alcançar suas escuras moradas e lhes encomendar uma cabeleira igual, feita com fios de ouro. Hermes, enviado por Zeus para trazer de volta Perséfone raptada por Hades, teve que procurá-la, perambulando no sombrio mundo subterrâneo e depois escoltá-la de volta para a sua mãe, Deméter. A alegria do encontro da mãe com a filha devolveu a fertilidade à terra e os campos de trigo foram cobertos com o brilho dourado das suas espigas.
Divindades aquáticas
Os Titãs gregos — Oceano (o deus-rio) e Tétis (A Senhora ou a Mãe do Mar) —, eram os governantes primordiais das águas, que foram substituídos por Posêidon e Anfitrite, depois da derrota dos Titãs pelos deuses olímpicos. Anfitrite (Rainha das Nereidas, das 3 mil Oceânidas, das ninfas do mar e das Náiades, os espíritos femininos dos rios e fontes, semelhantes às Nixen nórdicas) era filha do deus marinho Nereu, mãe de inúmeros filhos, que se tornaram os rios do mundo e de Tritão, que era meio homem, meio peixe. Ela era descrita como uma linda mulher, que aparecia nua e coroada com algas e pérolas, deslizando pelo mar na sua carruagem prateada, puxada por golfinhos. As Nereidas eram ninfas marinhas, personificando as ondas e as qualidades do mar, que acompanhavam Posêidon e Anfitrite e apareciam como mulheres extremamente bonitas e sedutoras, mas com rabo de peixe.
Diferente da deusa marinha nórdica Ran, que tinha um temperamento imprevisível, agressivo e vingativo, a Mãe do Mar grega era gentil, personificando a superfície calma e ensolarada das ondas. Posêidon, em compensação, tinha uma natureza violenta, cíclica e explosiva: ele podia provocar terremotos (resquícios da sua representação mais antiga, quando regia o relâmpago e as tempestades), usar o tridente para desencadear ou amainar tempestades ou cavalgar tranquilamente as ondas, no meio dos golfinhos, na sua carruagem dourada puxada por cavalos marinhos.
Afrodite, a deusa do amor, da fertilidade e da beleza, apareceu do meio das ondas, assim como sua equivalente nórdica Freyja. Porém, enquanto Freyja era filha do deus marinho Njord, Afrodite surgiu da espuma formada sobre as ondas, quando Urano, após a castração de Cronos, jogou seus testículos no mar, uma metáfora que descrevia o poder fertilizador e a energia vital da água e do esperma.
Os deuses Fórcis, Nereus (pai das Nereidas) e Proteu eram conhecidos como “O velho homem do mar”, tendo sido anteriores a Posêidon e viviam em palácios luxuosos no fundo do mar. Assim como o nórdico Njord, eles descreviam a natureza do mar calmo e eram dotados do dom da metamorfose e da profecia. Njord (associado com o verão, a calmaria das águas e a fertilidade do mar) tem sua contraparte em Posêidon, e, principalmente em Nereus, que personificava o aspecto calmo, misterioso e prazeroso das profundezas marinhas.
Com exceção de Njord, as divindades nórdicas do mar refletiam o clima desafiador e o mar tempestuoso do seu habitat, assim como o grego Posêidon. O casal marinho Aegir e Ran tinha características semelhantes: Aegir regia as profundezas geladas do mar e as tempestades e tinha um palácio faustoso repleto de tesouros recolhidos dos navios. Ran era Rainha das Ondinas e das Sereias e era ela quem recolhia os afogados com sua rede mágica, levando-os para o palácio no fundo do mar, onde tratava bem aqueles que tinham ouro nos seus bolsos. Ambos eram violentos e terríveis, responsáveis pelos naufrágios e afogamentos e por isso cultuados pelos marinheiros e viajantes que lhes faziam oferendas de ouro, antes das suas viagens, para serem protegidos.
Os povos nórdicos cultuavam também outras deusas como Nehalennia, a protetora dos marinheiros, pescadores e viajantes (que propiciava também a abundância); Mere-Ama, a Mãe do Mar finlandesa, protetora das plantas e dos animais marinhos e as Donzelas das Ondas (as nove filhas de Ran e Aegir), protetoras dos marinheiros, guardiãs do Moinho do Mundo, em que moíam as mudanças das estações.
Zeus e Odin
Ambos eram filhos dos deuses mais antigos — respectivamente os gigantes Bestla e Bor e os Titãs, Cronos e Reia. Tanto Odin quanto Zeus eram personificações do “Pai supremo dos deuses” e regentes do universo, cujos tronos - Hlidskjalf e Olimpo - eram igualmente majestosos, permitindo a visão à longa distância. A espada invencível de Odin — Gungnir — era tão temida quanto os raios lançados por Zeus. Nas festas nórdicas as divindades se deliciavam com carne de javali e hidromel, enquanto no Olimpo, a nutrição era compatível com o clima suave, composta de frutas, néctar e ambrosia. Enquanto Apolo e as Musas cuidavam do entretenimento musical e poético dos festejos gregos, nos encontros dos deuses nórdicos era o deus Bragi que contava estórias e declamava poemas, acompanhado pelos sons mágicos da sua harpa.
Para ser orientado nas suas decisões, Odin procurava diariamente a deusa Saga, detentora da sabedoria ancestral, que morava às margens de uma cachoeira. No mito de Zeus, conta-se que uma das suas esposas foi Mnemosine (a guardiã da memória), mãe das Musas, cujas fontes sagradas conferiam inspiração àqueles que delas bebiam.
Quando Zeus soube que o filho gerado com a deusa Métis (filha de Tétis e Oceano) iria sobrepujá-lo no poder, ele o engoliu, mas como passou a sofrer de atrozes dores de cabeça, pediu ao ferreiro Hefesto que abrisse seu crânio com um machado. Da fenda aberta saltou Atena, adulta, vestida com armadura, portando todas as insígnias do seu poder e que se tornou sua filha preferida e conselheira em assuntos de guerra, deusa da sabedoria e protetora dos heróis.
Odin e Zeus são descritos como deuses majestosos e maduros, tendo muitas amantes e aventuras com deusas, gigantas (ou ninfas) e mortais, sendo conhecidos como progenitores de monarcas e detentores de inúmeros nomes, que descreviam seus atributos e funções. Os juramentos eram feitos sobre a lança de Odin e o cetro de Zeus, ambos os deuses peregrinando pela Terra, disfarçados ou metamorfoseados, para observar e julgar o comportamento dos humanos, dando-lhes presentes, avisos ou punições. Odin tinha em comum com Apolo o dom da poesia e da eloquência; assim como Hermes (Mercúrio) trouxe à humanidade o alfabeto, Odin ensinou o uso das runas, símbolos sagrados e mágicos.
Hermes era conhecido também pelo seu manto da invisibilidade, pelos seus talentos de convencer e enganar (era padroeiro dos comerciantes e dos ladrões) e pela sua habilidade de usar as palavras. Odin tinha o dom da metamorfose, podendo assumir diversas formas ou permanecer invisível, sendo imbuído de características ambíguas: deus dos juramentos e das traições, do poder de criar ou soltar amarras, de proteger nas batalhas ou escolher aqueles que iriam morrer, de ajudar ou enganar.
Um dos tesouros dos deuses nórdicos era o elixir mágico Odhroerír, que conferia inspiração aos mortais e imortais, da mesma forma como as águas sagradas do rio Helicon. Odin usou um manto de penas de águia para carregar este precioso elixir, depois de tê-lo furtado da deusa Gunnlod, enquanto Zeus usou um disfarce semelhante, de águia, para raptar Ganimedes, o jovem mortal que substituiu Hebe, a deusa da juventude, que servia o néctar aos deuses. Ela foi substituída após ter caído um dia enquanto servia o néctar ou, segundo outra versão, ter casado com Hércules.
A cabra nórdica Heidrun, que fornecia o hidromel celeste, pode ser assemelhada à cabra Amaltea que alimentou Zeus, os corvos de Odin são contrapartes da águia de Zeus, enquanto o esquilo Ratatosk — que criava discórdia com suas mensagens — é equivalente à gralha branca grega, cujas maledicências lhe causaram o enegrecimento das suas penas.
O conflito entre Aesir e Vanir lembra a disputa entre Zeus e Posêidon pela supremacia do mundo, mas no fim eles tornam-se amigos e aliados. Existe uma semelhança também entre os Vanir, regentes da abundância da terra e da água e as divindades gregas do mar e da terra.
Frigga e Hera
A deusa nórdica Frigga personificava tanto a terra, quanto o céu e detinha o dom da fertilidade e da tecelagem. Assim como a grega Hera, era casada com o deus supremo, vivendo com ele em um belo palácio no céu, mas passando uma boa parte do tempo junto com as suas acompanhantes, na sua morada no meio da névoa.
Ambas as deusas eram padroeiras do casamento, do amor conjugal e familiar, regentes do nascimento e do cuidado com as crianças, elas mesmas tendo tido vários filhos. Eram descritas como mulheres majestosas e lindas, ricamente vestidas, com cintos de ouro, colares de âmbar e muitas joias, reverenciadas pelas mulheres e os heróis, que lhes pediam ajuda e proteção. Como personificações da atmosfera elas controlavam as nuvens: Hera as movimentava com os movimentos das suas mãos e Frigga tecia as nuvens no seu tear celeste, sendo renomada pela sua elaborada tecelagem, dom que a aproximava das Moiras gregas, também Fiandeiras e Senhoras do Destino.
Frigga também era conhecida pelo seu dom de conhecer o futuro, mas que não revelava a ninguém, nem podia mudar o traçado do destino. Frigga e Hera tinham auxiliares para enviar mensagens e sinais aos seres humanos. A acompanhante e mensageira de Frigga, Gna, podia ser equiparada com íris, a deusa grega do arco-íris, regente do vento e da chuva; ambas as deusas agiam como mensageiras dos deuses e se deslocavam ao longo do arco-íris.
Tanto Frigga quanto Hera usaram de subterfúgios e estratagemas para impor seus desejos aos maridos: Hera conseguiu obter de Zeus a vaca Io, a metamorfose da ninfa amada do deus (que tinha se transformado em touro para escapar da vigilância de Hera e seduzir a linda mortal jovem), enquanto Frigga ardilosamente obteve a vitória da tribo dos Winilers por ela protegidos.
A raiva de Odin ao descobrir o furto do ouro da sua estátua por Frigga é equivalente às brigas do casal grego devidas ao ciúme de Hera. Estórias semelhantes descrevem as aventuras extraconjugais de Odin e Zeus e a maneira digna e altiva com que as suas esposas as ignoram ou perdoam. Diferente da deusa grega Hera —cujo arquétipo na adaptação romana como Juno foi distorcido para a figura de uma esposa ciumenta e vingativa — a nórdica Frigga sempre teve mantida nas estórias a sua altivez e comportamento equilibrado, imparcial e condescendente perante as aventuras de Odin com gigantas, deusas e mortais.
Outras divindades
Como regente dos raios e trovões, Thor se assemelha a Zeus, pela sua força física a Hércules, com qual partilha a descrição do seu disfarce como mulher: Thor para recuperar seu martelo roubado pelo gigante Thrym e Hércules fiando para agradar à rainha de Lídia, Ônfale. A força física de Thor é semelhante à de Hércules, que, ainda bebê, estrangulou as serpentes enviadas por Hera para matá-lo no seu berço e ao se tornar adulto, atacava e vencia gigantes e monstros.
Thor tem um martelo mágico, Mjollnir, o emblema nórdico do poder destruidor do relâmpago e, assim como Zeus, o usa livremente contra os gigantes. Porém Mjollnir era usado também para abençoar os casamentos e consagrar as piras funerárias; as estacas firmadas por um martelo, eram consideradas pelos nórdicos tão sagradas, quanto as estátuas de Hermes, cuja remoção era punida com a morte. No seu rápido crescimento, poder físico e coragem, Thor lembra Hermes, que roubou o touro de Apolo quando tinha apenas um dia de vida. A precocidade de Magni, filho de Thor, que, tendo apenas três anos, consegue liberar a perna do seu pai presa sob o corpo morto do gigante, lembra o jovem Hércules e sua força fora do comum. A luta de Thor contra o gigante Hrugnir é um paralelo com os combates de Hércules e seu famoso apetite na festa do gigante Thrym assemelha-se com a primeira refeição de Hermes, quando ele consumiu dois bois inteiros. A travessia do rio Veimer por Thor — para capturar o gigante Thrym —, lembra o heroísmo de Jasão, quando atravessou uma correnteza para desafiar o tirano Pélias, seu tio, e recuperar o trono do seu pai.
O famoso colar de âmbar usado por Frigga e Frevja é semelhante ao cinto mágico de Afrodite, que foi pego emprestado por Hera para encantar Zeus; assim como o cabelo de ouro de Sif e o anel mágico Draupnir, o colar é um emblema da vegetação luxuriante, da beleza feminina e do brilho das estrelas no céu (o planeta Vênus).
O deus Tyr é muito parecido com o deus Ares (Marte) nos atributos, ambos sendo honrados e lembrados no mesmo dia da semana (terça-feira), que tem os seus nomes nas respectivas línguas. Assim como Ares, Tyr era valente e destemido, se regozijando no calor das batalhas. Somente ele teve a coragem para enfrentar o lobo Fenrir que, amarrado por Tyr, personifica o fogo subterrâneo, a mesma equivalência dos Titãs amarrados pelos deuses no Tártaro.
Baldur, o radiante deus solar nórdico, lembra não apenas Apolo e Orfeu, mas os outros heróis dos mitos solares. Sua linda esposa Nanna, deusa da vegetação e parecida com Perséfone (cuja descida para a escuridão em baixo da terra corresponde aos meses áridos do inverno), pois ela também desce para o mundo subterrâneo, onde permanece até o surgimento de um novo mundo. O palácio dourado de Baldur é parecido como o do Apolo, ambos amavam as flores que desabrochavam na sua passagem e todos os seres vivos lhes sorriam. Assim como Aquiles, que tinha apenas um ponto vulnerável no seu calcanhar, Baldur somente podia ser morto com uma flecha feita de visco.
A morte de Baldur foi provocada pelo invejoso Loki, assim como a de Hércules pela vingança de um centauro, por ele ferido. Para se vingar, o centauro convenceu a sua esposa, Dejanira, a preparar uma poção mágica que garantisse a fidelidade do seu marido, mas que provocou a sua morte. A pira funerária de Baldur lembra a morte de Hércules no monte Etna, a cor das chamas e o brilho avermelhado - da fogueira e da erupção vulcânica - sendo típicas do sol poente. Baldur podia ser libertado de Niflheim apenas com o choro de todos os seres e coisas; Persefone poderia sair do Hades se não tivesse ingerido nenhum tipo de comida. O embuste de Loki disfarçado com a velha Tokk, recusando-se a verter sequer uma lágrima por Baldur, assemelha-se com o estratagema de Hades, ao convencer Perséfone a engolir algumas sementes de romã, ato que representava a sua permanência temporária no mundo subterrâneo, enquanto o choro de Frigga e Deméter é o mesmo lamento materno pela perda dos seus filhos.
A Idade de Ouro, de norte a sul, era descrita como uma época de felicidade idílica, com a paz, a abundância, o amor, a beleza e a harmonia reinando sobre a terra, sem que o mal existisse ou fosse conhecido. Através de Loki, de sua inveja, cobiça, maldade e vingança, o mal entrou no mundo nórdico, enquanto a dádiva de fogo trazido por Prometeu para a humanidade, trouxe uma maldição para os gregos.
A punição dos culpados é semelhante, pois enquanto Loki é preso com correntes numa gruta e torturado pelo lento escorrer de veneno da boca de uma serpente (amarrada acima da sua cabeça), Prometeu foi amarrado no monte Cáucaso e um abutre faminto continuamente devorava seu fígado, que crescia novamente no dia seguinte.
Outras punições semelhantes são as de Tito preso no Hades e de Encelado acorrentado em baixo do monte Etna, onde suas convulsões provocavam terremotos e seus gritos e maldições as erupções de lava. Loki tem um ponto em comum com Hefesto, ambos tendo assumido formas equinas e gerado velozes corcéis; com Hermes, Loki partilha a astúcia, as trapaças e os enganos.
Há uma semelhança entre o gentil e inspirado Bragi, tocando sua harpa e Apolo, o deus grego do sol, que tocava lira e era exímio arqueiro e médico. Ambos partilham os mesmos dons: da inspiração, da poesia e da música, porém o sábio Bragi era fiel à sua esposa Idunna, enquanto Apolo teve inúmeras amantes e aventuras. Idunna era a guardiã das maçãs da juventude e quando ela caiu dos galhos de Yggdrasil para as profundezas de Niflheim, Bragi foi buscá-la. Envolvendo-a em uma pele de lobo (metáfora da neve que protege as raízes do extremo frio nórdico) Bragi permaneceu ao lado da sua esposa até a sua recuperação e volta. Nesse tempo, a voz de Bragi silenciou, suas canções não mais eram ouvidas, pois sem a sua amada a vida não tinha mais alegria.
Um paralelo pode ser estabelecido com a estória de Orfeu e Eurídice, quando ela foi levada para o reino de Hades. Orfeu foi resgatá-la da escuridão, tocando a sua flauta. Idunna personifica a primavera e a juventude (semelhante a Adônis e Eurídice) e foi raptada por Thiazzi,o gigante de gelo, que representa o javali que matou Adônis, ou a serpente que envenenou Eurídice. Idunna foi retida pelo gigante no mundo de gelo de Jötunheim (equivalente ao reino de Hades, para onde Perséfone foi levada após o seu rapto) e, sem poder retornar sozinha para Asgard, se tornou pálida, enfraquecida e triste. Apenas quando Loki, representando o sopro do vento do Sul, vem resgatá-la transformado em pássaro, é que ela consegue escapar, metamorfoseada em uma noz. Essa imagem lembra a volta de Perséfone, conduzida pela tocha de Hécate e escoltada por Hermes, de Adônis acompanhado por Hermes, ou de Eurídice, atraída pelo som doce da flauta de Orfeu, que lembrava o sussurro do vento.
A deusa arqueira Skadhi se assemelha com a caçadora Ártemis, ambas usam arco, flechas e túnicas curtas para se movimentarem livremente, são acompanhadas por cães ou outros animais, amam o seu habitat selvagem que defendem dos invasores, demonstram independência, altivez e segurança nas suas escolhas.
Frey, o regente nordico do calor do verão e das chuvas fortes e repentinas, tem características comuns com Apolo, ambos são belos e bondosos, o primeiro cavalga um javali com pelos dourados, equivalentes aos raios solares, enquanto a carruagem solar de Apolo brilha no seu traslado pelo céu. Frey tem também algumas características de Zéfiro, pois ele espalha flores no seu caminho e rege principalmente a fertilidade da terra. Frey, assim como Odin e Zeus, foi considerado como sendo um rei humano; acredita-se que o seu túmulo está perto do de Odin eThor em Uppsala. O reino de Frey como monarca foi tão feliz e próspero, que foi denominado de Idade de Ouro, fato que lembra Cronos, que tendo sido exilado para a Terra, governou o povo da Itália, garantindo uma prosperidade semelhante.
Freyja, a linda deusa nórdica, filha do deus marinho Njord é semelhante a Afrodite, que também nasce do mar no seu aspecto de Anadiômena. Ambas regiam a juventude, o amor e a beleza, tiveram vários amantes, recebiam oferendas de frutas e flores e podiam atender os pedidos dos namorados e fiéis. Mas Freyja se assemelha tambem com Atena, tendo os mesmos olhos azuis, usando elmo e armadura e intervindo nos combates dos guerreiros como condutora das Valquírias, enquanto Afrodite entregou sua afeição a Ares, o deus da guerra e a outros heróis. As lágrimas vertidas por Freyja durante a ausência do seu amado Odh se transformaram em ambar e ouro, as de Afrodite em anémonas, pela ausência do seu amado Adônis,
Odh, o marido enigmático de Freyja, se assemelha a Adônis e, assim como Afrodite se alegra com a volta do seu amado Adônis, fazendo toda a natureza brotar e florescer, Freyja festeja o encontro com Odh em baixo das árvores floridas das terras do Sul. Freyja ama a beleza e se recusa a se casar com o feio gigante Thrym, enquanto Afrodite teve que aceitar como marido o aleijado Hefesto, mas o abandona ou trai por ter sido obrigada a se casar com ele. Enquanto a carruagem de Afrodite é puxada por pombas brancas, a de Freyja é por gatos, as pombas sendo símbolos do amor terno e os gatos do amor sexual.
Gerda se assemelha a Atalanta, difícil de conquistar, mas ambas acabam cedendo a perseguição e a pressão dos seus pretendentes e se tornam esposas felizes. As maçãs douradas, com as quais o mensageiro de Frey, Skirnir, tentou convencer Gerda a aceitar Frey como marido, lembram o fruto dourado que Hipômenes jogou no caminho de Atalanta, a linda donzela avessa ao casamento, fazendo-a assim perder a corrida. Atalanta tinha sido avisada que se casasse, seria infeliz e por isso fugia dos homens, dedicando-se a caça e aos esportes. Ela impunha como condição para se casar que o pretendente a vencesse numa corrida, caso contrário fosse morto. Esse feito corajoso foi conseguido por Hipômenes, mas com a ajuda de Afrodite, que lhe entregou os frutos de ouro. Por não ter agradecido a Afrodite pela graça alcançada, o casal foi transformado em leões atrelados ao carro da deusa Cibele, conforme visto nas estátuas e imagens dessa deusa.
A deusa Saga, cuja morada era ao lado do “rio dos tempos e dos eventos” era a guardiã das memórias e dos acontecimentos, conselheira do deus Odin, que a ela recorria diariamente. Saga assemelha-se com a grega Clio, a musa da estória, que ficava perto da fonte Helicon e que o deus Apolo procurava, para dela receber inspiração.
A forma ardilosa em que a deusa Gefjon obteve a terra do rei Gylfi para formar o seu reino de Zeeland (na Dinamarca) reproduz a estória da rainha Dido, que obteve por um estratagema a terra sobre a qual fundou a sua cidade de Cartago.
Os gregos representavam a Justiça como uma deusa vendada, segurando em uma mão a balança e na outra a espada, para indicar a imparcialidade nos julgamentos. O seu equivalente nórdico era Forsetti, que ouvia pacientemente as queixas e questões humanas, promulgando sentenças com imparcialidade e justiça.
A mosca varejeira que impediu Zeus de recuperar a sua amada Io, reaparece no mito nórdico para atormentar o anão ferreiro Brokk e perturbar a confecção do anel mágico Draupnir, do javali dourado de Frey e do martelo Mjollnir, que ficou com um cabo encurtado. O navio mágico de Frey — em que podiam entrar todos os deuses, mas que depois de minimizado cabia no bolso dele —, também confeccionado pelos anões, é semelhante ao navio grego Argo, que personificava o movimento rápido das nuvens e podia levar todos os herois gregos para as distantes terras de Cólquida.
O deus arqueiro Ullr parece com Apolo e também com Orion, pelo amor à caça, atividade que segue permanentemente. O deus Heimdall, assim como Argo, era dotado de uma visão apurada que lhe permitia enxergar de dia e de noite à longa distância. O seu trompete Gjallarhorn podia ser ouvido nos novos mundos, anunciando a passagem das divindades pela ponte Bifrost. Por ser ligado à água pelo lado materno (como filho das Donzelas das Ondas), Heimdall tinha, assim como o deus marinho Proteus, o dom da metamorfose, que ele usou quando impediu o roubo do colar mágico de Freyja por Loki (transformado em lontra), assumindo a mesma forma animal e lutando com ele ate vencer.
A transformação dos olhos do gigante Thiazi em estrelas que brilhavam no firmamento, lembra muitos mitos estelares gregos, principalmente da vigilância permanente dos olhos de Argo, do cinto brilhante de Orion e seu cão Sirius, todos transformados em estrelas por deuses ou deusas enfurecidas.
Hermod era um veloz mensageiro dos deuses nórdicos, que se deslocava com rapidez assim como Hermes, usando, em lugar de sandálias aladas, Sleipnir, o cavalo mágico de Odin (o único autorizado a cavalgá-lo) e em lugar do caduceu, um bastão imbuído de poderes mágicos (Gambãntein). Ele foi perguntar a um mago, depois às próprias Nornas, sobre a sorte do seu irmão Baldur, sabendo assim que outro irmão, Vali, ia suceder a Odin apos o Ragnarök.
Zeus queria se casar com a deusa Métis, mas desistiu depois que as Moiras lhe avisaram que o filho que ele teria com ela ia superá-lo em glória e poder, motivo que o fez engoli-la, grávida de uma filha, a deusa Atena.
Vidar parece com Hércules, que usou apenas um cajado para se defender do leão de Nemeia, enquanto Vidar consegue vencer o lobo Fenris usando seu sapato de ferro.
Odin teve que se empenhar bastante para conquistar Rinda, até “descongelar a frieza dela, assim como Zeus teve que se transformar em chuva de ouro para seduzir Dânae, que também simbolizava a terra. Em ambos os casos, a simbologia é ligada ao degelo da terra pelos raios solares, os filhos desta união - Vali e Perseu - sendo vingadores dos inimigos dos pais. Vali vinga a morte de Baldur matando Hodur, e Perseu mata os inimigos da sua mãe.
Tanto Hebe, quanto as Valquírias, personificavam a juventude e ofereciam a bebida sagrada - néctar, ambrosia e hidromel - aos deuses do Olimpo e Asgard. Hebe foi liberada do seu serviço de “copeira” após o seu casamento com Hércules, e as Valquírias, quando se casavam com heróis como Helgi, Hakon, Völund ou Sigurd,
Völund se parece com Hefesto pelo seu dom de trabalhar com os metais; ele os usa para se vingar do seu captor escapando da prisão após matar os filhos do rei, transformar seus olhos em joias, que envia para a mãe deles, e fabricar para ele mesmo um par de asas de metal, com cuja ajuda escapa da prisão e voa sobre mar e terra. Hefesto, aleijado por uma queda do Olimpo e abandonado por Hera, lhe envia como vinganca um trono dourado contendo garras metálicas para segura-la, sem que ela possa se soltar. Ele também cria uma rede metálica para nela prender Afrodite e seu amante Ares e expo-los depois se debatendo na rede para que todas as divindades de Olimpo caçoassem deles.
O deus Jano era o porteiro romano do céu, tendo duas cabeças para poder olhar para todos os lados e era ele quem abria as portas de cada ano, sendo lembrado até hoje no nome do primeiro mês. O deus nórdico Heimdall era o guardião da ponte do Arco-Íris, controlando a passagem de deuses e humanos, semelhante as Horas, que abriam as portas do ceu para a passagem dos deuses.
A missão de vigilância eterna de Heimdall era favorecida pelo seu olhar apurado (que o aproximava de Argo) e sua audição sobrenatural.
Os Penates eram os deuses romanos que cuidavam do bem-estar e da prosperidade das famílias e a despensa (penus) era a eles consagrada. Encontramos uma semelhança com os protetores nórdicos das moradias e com a deusa Fulla. Os Lares eram também protetores das famílias, mas diferiam dos Penates por serem espíritos deificados de mortais, as almas dos antepassados, uma característica que os aproxima dos espíritos ancestrais nórdicos, das Matronas, Disir e Dokkalfar.
Os nórdicos acreditavam que as tempestades eram provocadas pelos movimentos da Serpente do Mundo ou pela ira de Aegir, que, coroado com algas assim como Posêidon, enviava suas filhas — as Nereidas ou as Oceânides — para brincarem com as ondas. Posêidon tinha sua morada nas ilhas de coral do mar Mediterrâneo, e Aegir, nas grutas forradas de musgo do mar nórdico, onde era cercado pelas Nixies, ondinas, sereias e pelos deuses dos rios Reno, Elba e Neckar (seus equivalentes gregos sendo Alfeu e Peneu).
As sereias gregas têm seu paralelo com Lorelei, a ninfa do rio Reno, cujo canto melodioso atraía os marinheiros para o naufrágio entre os rochedos. Os naufrágios dos navios gregos deviam-se ao temperamento furioso de Posêidon, que era cercado pelas ondinas e sereias, semelhantes às Donzelas das Ondas e às Nixies nórdicas.
O reino subterrâneo de Niflheim reproduz as características do Hades grego; Mordgud, a guardiã da ponte dos mortos Gjallarbru, exigia um tributo para permitir a passagem, da mesma forma como o barqueiro Caronte pedia um pagamento para todos os espíritos que ele transportava para o outro lado do rio da morte, Aqueronte. O feroz cão Garm que vigiava o portão de Hel é muito parecido com Cérbero, o cão tricéfalo grego. Os nove mundos de Niflheim se assemelham as divisões de Hades, Naströnd sendo um adequado substituto para o Tártaro, onde os criminosos eram punidos pelos seus crimes e atos vis com a mesma severidade.
O costume de cremar os heróis mortos junto com as suas armas e acompanhados de sacrifícios de animais (cavalos, cães) era o mesmo no norte e sul da Europa. A representação grega da morte — Tánatos ou Mors — era como um esqueleto carregando uma foice, enquanto a nórdica Hel aparecia meio-morta, meio-viva e usando um ancinho, ou uma vassoura, para recolher as almas. Ragnarök era considerado uma versão do dilúvio e seus sobreviventes em ambas as tradições eram destinados para repovoar o mundo.
O longo inverno Fimbul anunciando o Ragnarök foi comparado às demoradas lutas preliminares sob as paredes da fortaleza Troia e o proprio Ragnarök, com a queima final da famosa cidadela, Thor sendo equiparado com Heitor e Vidar com Eneias. A destruição do palácio do rei Príamo representa o ruir dos palacios dourados dos deuses; os lobos nórdicos que devoraram o sol e a lua são protótipos de Paris e outros seres sombrios, que raptaram a donzela solar Helena. De acordo com outra interpretação, Ragnarök é a submersão posterior do mundo nas ondas do mar, são semelhantes à estória grega do dilúvio; os sobreviventes Lif e Lifthrasir — da mesma maneira como Deucalião e Pirra — foram destinados a repovoar o mundo. Assim como o altar do templo de Delfos permaneceu ileso no meio dos escombros do cataclismo, o palácio dourado Gimli, em Asgard, permaneceu radiante à espera dos filhos dos deuses, que iriam recriar um novo e melhor mundo.
Enquanto os gregos imaginavam que os pesadelos eram os sonhos maléficos que tinham escapado da gruta de Somnos, os nórdicos os atribuíam aos trolls ou gnomos malvados, que tinham saído do seu escuro esconderijo para atormentar os seres humanos.Todos os objetos e armas mágicas dos deuses nórdicos tinham sido obra dos anões ferreiros, enquanto os dos gregos tinham sido confeccionados por Hefesto e os Ciclopes, na sua oficina em baixo do Monte Etna.
Essas semelhanças são as mais relevantes, entre muitas outras, que comprovam as analogias existentes entre a mitologia nórdica e grega, formadas a partir da mesma base indo-europeia, diversificadas no tempo e no espaço pelas características raciais, geográficas, climáticas, sociais e culturais, modificadas ou adaptadas ao longo dos tempos por historiadores, tradutores e escritores.

Cada uma das Idades está "aparentada" com um metal, cujo nome toma e cuja hierarquia se ordena do mais ao menos precioso, do superior ao inferior: Ouro, Prata, Bronze, Ferro. O que surpreende é que em todas as quatro Eras, cujo valor se afere pelos metais, Hesíodo tenha intercalado entre as duas últimas mais uma: a Era dos Heróis, que não possui correspondente metálico algum. Há os que procuram explicar o fato por uma preocupação historicista, já que o poeta sabia que antes dele tinham vivido homens e heróis notáveis, que se imortalizaram em Tróia e em Tebas. Era de Ouro - Os homens mortais da Idade de Ouro foram criados pelos próprios imortais do Olimpo, durante o reinado de Crono. Viviam como deuses e como reis, tranquilos e em paz. O trabalho não existia, porque a terra espontaneamente produzia tudo para eles. Sua raça denomina-se de ouro, porque o ouro é o símbolo da realeza. Jamais envelheciam e sua morte assemelhava-se a um sono profundo. Após deixarem esta vida, recebiam o basíleion guéras, que quer dizer, o privilégio real, tornando-se daímones epikhthónioi,intermediários, aqui mesmo na terra entre os deuses e seus irmãos viventes. Esse basileion gnéras tem uma conotação toda especial, quando se leva em conta que os daimones epikhthónioi, esses grandes intermediários, assumem em "outra vida" as duas funções que, segundo a concepção mágico-religiosa da realeza, definem a virtude benéfica de um bom rei: como phýlakes, como guardiões dos homens, velam pela observância da justiça e, como plutodótai, como dispensadores de riquezas, favorecem a fecundidade do solo e dos rebanhos. Curioso é que Hesíodo emprega as mesmas expressões, que definem os "reis" da Era de Ouro, para qualificar os "reis" justos do seu século. Os homens da Era de Ouro viam hòs theoí, como deuses; os reis justos do tempo do poeta, quando avançam pela assembleia e, por meio de suas palavras mansas e sabias, fazem cessar a hýbris, o descomedimento, são saudados como theòs bós, como um deus. E assim como a terra, à época da Era de Ouro, era fecunda e generosa, igualmente a cidade, sob o governo de um rei justo, floresce em prosperidade sem limites. Ao contrário, o rei que não respeita o que simboliza seu sképtron, o seu cetro, afastando-se pela Hýbris do caminho que conduz à Díke, transforma a cidade em destruição, calamidade e fome. É que, por ordem de Zeus, trinta mil imortais invisíveis (que são os próprios daímones epikhthónioi) vigiam a piedade e a justiça dos reis. Nenhum deles, que se tenha desviado da Díke, deixará de ser castigado mais cedo ou mais tarde pela própria Díke.
Era de Prata - Foram mais uma vez os deuses, os criadores da raça de prata, que é também um metal precioso, mas inferior ao ouro. À soberania piedosa do rei da Era de Ouro fundamentada na Díke opõe-se uma "Hýbris louca". Tal Hýbris, porém, nada tem a ver com a Hýbris guerreira: os homens da idade de prata mantêm-se afastados tanto na guerra, quanto dos labores campestres. Essa Hýbris, esse descomedimento, é uma asébeia, uma impiedade, uma adikía, uma injustiça de caráter puramente religioso e teológico, uma vez que os "reis" da raça de prata se negam a oferecer sacrifícios aos deuses e a reconhecer a soberania de Zeus, senhor da Díke. Exterminados por Zeus, os homens da raça de prata, recebem, no entanto, após o castigo, honras menores é verdade, mas análogas às tributadas aos homens da Era de Ouro: tornam-se daímones hypokhthónioi, intermediários entre os deuses e os homens, mas agindo de baixo para cima, na outra vida. Além do mais, os mortais da raça agêntea apresentam fortes analogias com os Titãs: o mesmo caráter, a mesma função, o mesmo destino.
Orgulhosos e prepotentes, mutilam o seu pai Urano e disputam com Zeus o poder sobre o universo. Reis, pois que Titán em grego, em etimologia popular, aproxima-se de Titaks, rei, e Titéne, rainha, os Titãs têm por vocação o poder. Face a Zeus, todavia, que representa para Hesíodo a soberania da ordem, da Díke, aqueles que simbolizam o mando e a arrogância da desordem e da Hýbris. De um lado, portanto, estão Zeus e os homens da Era de Ouro, projeções do rei justo; de outro, os Titãs e os homens da Era de Prata, símbolos de seu contrário. Na realidade, o que se encontra no relato das duas primeiras eras é a estrutura mesma dos mitos hesiódicos da soberania.
Era de Bronze - Os homens da raça de bronze, consoante Hesíodo, foram criados por Zeus, mas sua matriz são os freixos, símbolo da guerra. Trata-se aqui da Hýbris militar, da violência bélica, que caracteriza o comportamento do homem na guerra. Assim, do plano religioso e jurídico se passou às manifestações da força bruta e do terror. Já não mais se cogita de justiça, do justo ou do injusto, ou de culto aos deuses. Os homens da Era de Bronze pertencem a uma raça que não come pão, quer dizer, são de uma era que não se ocupa com o trabalho da terra. Não são aniquilados por Zeus, mas sucumbem na guerra, uns sob os golpes dos outros, domados "por seus próprios braços", isto é, por sua própria força física. O próprio epíteto da era a que pertencem esses homens violentos tem um sentido simbólico. Ares, o deus da guerra, é chamado por Homero na Ilíada de Khálkeos, isto é, "de bronze". No pensamento grego, o bronze, pelas virtudes que lhe são atribuídas, sobretudo por sua eficácia apotropaica, está vinculado ao poder que ocultam as armas defensivas: couraça, escudo e capacete. Se o brilho metálico do bronze reluzente infunde terror ao inimigo, o som do bronze entrechocado, essa phoné, essa voz, que revela a natureza de um metal animado e vivente, rechaça os sortilégios dos adversários.
A par das armas defensivas, existe uma ofensiva também estreitamente ligada à indole e à origem dos guerreiros da Era do Bronze. Trata-se da lança ou dardo confeccionado de madeira especial, a melia, isto é, o "freixo". E não foi do freixo que nasceram, segundo Hesíodo, os homens da Era do Bronze? As ninfas mélias ou melíades, nascidas do sangue de Urano, estão intimamente unidas a essas árvores "de guerra" que se erguem até o céu como lanças, além de se associarem no mito a seres sobrenaturais que encarnam a figura do guerreiro. Jean-Pierre Vernant faz uma aproximação muito feliz do gigante Talos com os homens da raça de bronze. Esse Talos, guardião incansável da ilha de Creta, nascera de um freixo (melia) e tinha o corpo todo de bronze.
Como Aquiles, era o gigante cretense dotado de uma invulnerabilidade condicional, que somente a magia de Medeia foi capaz de destruir. Os Gigantes, "à cuja família" pertence Talos, representam uma confraria militar, dotada de uma invulnerabilidade condicional e em estreita relação com as ninfas Mélias ou Melíades. Na Teogonia o poeta "gerou os grandes Gigantes de armas faiscantes (porque eram de bronze), que têm em suas mãos compridas lanças (de freixo) e as ninfas que se chamam Mélias".
Assim entre a lança, atributo militar, e o cetro, atributo real da justiça e a paz, há uma diferença grande de valor e de nível. A lança há que submeter-se ao cetro. Quando isso não acontece, quando essa hierarquia é quebrada, a lança confunde-se com a Hýbris. Normalmente para o guerreiro, tributário da violência, a Hýbris dele se apodera, por estar voltado inteiramente para a lança. É o caso típico, entre outros, de Ceneu, o "lápita da lança", dotado como Talos, Aquiles e os Gigantes de uma invulnerabilidade condicional como todos os que passaram pela iniciação guerreira. Ceneu fincava sua lança sobre a praça pública, rendia-lhe um culto e obrigava a todos que por ali passassem a tributar-lhe honras divinas. Filhos da lança, indiferentes à Díke e aos deuses, os homens da raça de bronze, como os Gigantes, após a morte, foram lançados no Hades por Zeus, onde se dissiparam no anonimato da morte.
Era dos Heróis - A quarta era é a dos heróis, criados por Zeus, uma "raça mais justa e mais brava, raça divina dos heróis, que se denominam semideuses". Lendo-se, com atenção o que diz Hesíodo acerca dos heróis, nota-se logo que os mesmos formam dois escalões: os que, como os homens da era de bronze, se deixaram embriagar pela Hýbris, pela violência e pelo desprezo pelos deuses e os que, como guerreiros justos, reconhecendo seus limites, aceitaram submeter-se à ordem superior da Dike. Um exemplo bem claro desses dois escalões antitéticos é a tragédia de Ésquilo. Os sete contra Tebas: em cada uma das sete portas ergue-se um herói mordido pela Hýbris, que, como um gigante, profere contra os imortais e contra Zeus terríveis impropérios; a este se opõe outro herói, "mais justo e bravo", que temperado pela sophrosýne, pela prudência, respeita tudo quanto representa um valor sagrado. O primeiro escalão, os heróis da Hýbris, após a morte, são como os da Era de Bronze, lançados no Hades, onde se tornam nónymoi, mortos anônimos; o segundo, os heróis da Dike, recebem como prêmio, a Ilha dos Bem Aventurados, onde viverão para sempre como deuses imortais.
Era de Ferro - "Oxalá não tivesse eu que viver entre os homens da quinta era: melhor teria sido morrer mais cedo ou ter nascido mais tarde, por agora é a era de ferro..." Hesiodo em Trabalhos e Dias 174 - 176. No mito de Prometeu e Pandora, Hesíodo nos dá um panorama da Era de Ferro: doenças, a velhice e a morte; a ignorância do amanhã e as incertezas do futuro; a existência de Pandora, a mulher fatal, e a necessidade premente do trabalho. Uma junção de elementos tão díspares, mas que o poeta de Ascra distribui num quadro único. As duas Érides, as duas lutas, se constituem na essência da Era de Ferro.
A causa de tudo foi o desafio a Zeus por parte de Prometeu e o envio de Pandora (vide mito de pandora). Desse modo, o mito de Prometeu e Pandora forma as duas faces de uma só moeda: a miséria humana na Era de Ferro. A necessidade de sofrer e batalhar na terra para obter o alimento é igualmente para o homem a necessidade de gerar através da mulher, nascer e morrer, suportar diariamente a angústia e a esperança de um amanhã incerto. É que a Era de Ferro tem uma existência ambivalente e ambígua, em que o bem e o mal não estão somente amalgamados, mas ainda são solidários e indissolúveis. Eis aí por que o homem, rico de misérias nesta vida, não obstante se agarra a Pandora, "o mal amável", que os deuses ironicamente lhe enviaram. Se este "mal tão belo" não houvesse retirado a tampa da jarra, em que estavam encerrados todos os males, os homens continuariam a viver como antes, "livres de sofrimento, do trabalho penoso e das enfermidades dolorosas que trazem a morte". As desgraças, porém despejaram-se pelo mundo; resta, todavia, a Esperança, pois afinal a vida não é apenas infortúnio: compete ao homem escolher entre o bem e o mal. Pandora é, pois, o símbolo dessa ambiguidade em que vivemos.
Em seu duplo aspecto de mulher e de terra, Pandora expressa a função da fecundidade, tal qual se manifesta na Era de Ferro na produção de alimentos e na reprodução da vida. Já não existe mais a abundância espontânea da Era de Ouro; de agora em diante é o homem quem deposita a sua semente (spérma) no seio da mulher, como o agricultor a introduz penosamente nas entranhas da terra. Toda riqueza adquirida tem, em contrapartida, o seu preço. Para a Era de Ferro a terra e a mulher são simultaneamente princípios de fecundidade e potências de destruição: consomem a energia do homem, destruindo-lhe, em conseqüência, os esforços; "esgotam-no, por mais vigoroso que seja", entregando-o à velhice e à morte, "ao depositar no ventre de ambas" o fruto de sua fadiga.

Há quem negue que Prometeu tenha criado os homens, ou que qualquer homem tenha surgido dos dentes de uma serpente. Dizem que a Terra os gerou espontaneamente, como o melhor de seus frutos, especialmente no solo da Atica, e que Alalcomeneus foi o primeiro homem a surgir na Beócia, às margens do lago Copais, antes mesmo da existência da Lua. Ele detinha as funções de conselheiro de Zeus na ocasião de sua briga com Hera, e de tutor de Atena na época em que ela era ainda uma menina. Esses homens constituíam a chamada raça dourada, súditos de Cronos que viviam sem trabalhar nem se preocupar, alimentando-se somente de frutos do carvalho, frutas silvestres e do mel que pingava das árvores, bebendo leite de ovelha e de cabra, jamais envelhecendo, dançando e regozijando-se. A morte, para eles, não era mais terrível que o sono. Todos já se foram, mas os espíritos deles sobrevivem como gênios do feliz refugio musical, doadores de boa sorte e protetores da justiça.
Em seguida, surgiu uma raça prateada de comedores de pão, igualmente criada de maneira divina. Os homens eram totalmente submetidos à autoridade materna, embora pudessem viver cem anos. Eram rudes e belicosos, jamais faziam sacrifícios aos deuses, mas pelo menos não guerreavam entre si. Zeus os destruiu a todos.
Em seguida, surgiu uma raça de bronze, cujos membros caíram dos freixos como frutos, e portavam armas desse mesmo material. Comiam carne e pão e se deliciavam nas guerras. Eram homens insolentes e impiedosos. A peste negra ceifou todos eles.
A quanta raça humana era igualmente de bronze, porém mais nobre e mais generosa, tendo sido gerada por deuses que amaram mulheres mortais. Eles lutaram gloriosamente no cerco de Tebas, na expedição dos argonautas e na Guerra de Troia. Tornaram-se heróis e habitam os Campos Elísios.
A quinta raça é a atual raça de ferro, descendentes indignos da quarta. Eles são degenerados, cruéis, injustos, maliciosos, libidinosos, desonrosos com os pais e traiçoeiros.
---------------
Embora o mito da Idade do Ouro derive consequentemente de uma tradição de subserviência tribal à deusa-abelha, a selvageria de seu reinado na era pré-agrícola já havia sido esquecida à época de Hesíodo e tudo o que restou foi uma convicção idealista de que, no passado, os homens eram unidos e viviam em harmonia, como as abelhas. Hesíodo era um pequeno agricultor. A vida dura que levava tornou-o melancólico e pessimista. O mito da raça de prata também registra condições matriarcais - tais como as que ainda sobreviviam na era clássica entre os pictos, os moesios do mar Negro e algumas tribos nas ilhas Baleares, na Galícia e no golfo de Sirte -, nas quais os homens ainda representavam o sexo desprezado, embora a agricultura já houvesse sido introduzida e as guerras fossem raras. Prata e o metal da deusa-Lua. A terceira raça era constituída pelos primeiros invasores helênicos: pastores da Idade do Bronze, que adotaram o culto do freixo da deusa e de seu filho Poseidon. A quarta raça era formada pelos reis guerreiros da Era Micênica. A quinta, constituída pelos dórios do século XII a.e.c., que utilizavam armas de ferro e destruíram a civilização micênica.
Alalcomeneus ("guardião") é um personagem fictício, uma forma masculina de Alalcomeneïs, título de Atena (Ilíada IV 8) como guardiã da Beocia. Ele serve ao dogma patriarcal, segundo o qual nenhuma mulher, nem mesmo uma deusa, pode ser sábia sem a instrução masculina, e que a deusa-Lua e a própria Lua foram criações tardias de Zeus.

No início, Eurínome, a Deusa de Todas as coisas, ergueu-se nua do Caos, mas, não encontrando nenhum lugar firme onde pudesse descansar os pés, separou o mar do céu, dançando sozinha sobre as ondas. Dançou em direção ao sul, e atrás dela correu um vento novo e incomum, que lhe pareceu apropriado para o inicio de um trabalho de criação. Girado, ela se apoderou desse vento norte, esfregou-o entre as mãos e vejam só: a grande serpente Ofíon! Eurínome dançava para se esquentar, cada vez mais frenética, até que Ofíon, excitada, enrolou-se naqueles membros divinos com a intenção de copular com ela. A partir de então, o Vento Norte, também chamado Bóreas, fertiliza. Por isso as éguas frequentemente voltam as ancas para o vento e ficam prenhas sem a ajuda do garanhão. Da mesma maneira, Eurínome engravidou.
Em seguida, ela assumiu a forma de uma pomba e pôs o Ovo Universal, chocando-o por cima das ondas durante algum tempo. Ao seu comando, Ofíon enrolou-se sete vezes em torno desse ovo, completando a incubação, até ele se partir em dois. Para fora arremessaram-se todas as coisas que existem, seus filhos: o Sol a Lua, os planetas, as estrelas a Terra com suas montanhas e rios, suas árvores e plantas e todas as criaturas vivas.
Eurínome e Ofíon fizeram do topo do monte Olimpo seu lar, onde a serpente enfureceu a deusa ao reivindicar para si a autoria do Universo. Imediatamente, Eurínome esmagou-lhe a cabeça com o calcanhar, arrancou seus dentes e baniu-a para as cavernas escuras sob a Terra.
Em seguida, a deusa criou sete poderes planetários, designando uma titânida e um titã pra cada um deles: Téia e Hipérion para o Sol; Febe e Atlas para a Lua; Dione e Créos para o planeta Marte; Métis e Ceo para o planeta Mercúrio; Têmis e Eurínome para o planeta Júpiter; Tétis e Oceano para Vênus; Réia e Cronos para Saturno. Mas o primeiro homem foi Pelasgo, ancestral dos Pelasgos. Ele emergiu sob solo da Arcádia, seguido por alguns outros, a quem ensinou a construir cabanas, alimentar-se de frutos do carvalho e coser túnicas de couro de porco, como as usadas ainda hoje pelos mais pobres na Eubéia e na Fócida.
---------------
Nesse sistema religioso arcaico não havia, até agora, deuses nem sacerdotes, mas apenas uma deusa universal e suas sacerdotisas, a mulher sendo o sexo dominante e o homem, sua vítima assustada. A paternidade não era honrada, e a concepção era atribuída ao vento, à ingestão de feijão ou, acidentalmente, de um inseto. A herança era matrilinear, e as cobras eram consideradas encarnações dos mortos. A deusa, como a Lua visível, tinha o título de Eurínome (vasta perambulação). Seu nome sumério era Iahu (pombo exaltada), título transferido mais tarde a Jeová, como o Criador. Foi uma pomba o animal que Marduk simbolicamente cortou em dois pedaços no Festival da Primavera Babilônica, ao inaugurar a nova ordem mundial.
Ofíon, ou Bóreas, é a serpente-demiurgo do mito hebraico e egípcio - na arte mediterrânea primitiva, a deusa aparece constantemente em sua companhia. Os pelasgos nascidos da terra, que parecem alegar terem surgido dos dentes de Ofíon, talvez tenham sido, originalmente, o povo neolítico das "Mercadorias Pintadas". Partindo da Palestina, eles chegaram à Grécia continental por volta de 3500 a.e.c. Setecentos anos mais tarde, os primeiros Helênicos - imigrantes da Ásia Menor vindos das Cíclades - encontraram-nos ocupando o Peloponeso. Mas o termo "Pelasgo" tornou-se aplicável livremente a todos os habitantes pré-helênicos da Grécia. Nesse sentido, Eurípides (citado por Estrabão V. 2.4) registra que os pelasgos adotaram o nome "dânaos" por ocasião da chegada de Dânao e suas cinquenta filhas a Argos. Severas críticas á sua conduta licenciosa (Heródoto: VI. 137) referem-se provavelmente ao costume pré-helênico de orgias eróticas. Estrabão diz, na mesma passagem, que aqueles que viviam perto de Atenas eram conhecidos como pelargi "cegonhas". Talvez fosse o pássaro totêmico dos pelasgos.
Os titãs "senhores" e as titânides tiveram suas contrapartes nas astrologias primitivas da Babilônia e da Palestina, onde constituíram divindades que governavam os sete dias da semana sagrada planetária. Talvez tenham sido introduzidos pela colônia cananéia, ou hitita, estabelecida no istmo de Corinto no início do segundo milênio a.e.c., ou até mesmo pelos primeiros helênicos. Mas, assim que oculto aos titãs foi abolido na Grécia e a semana de sete dias deixou de figurar no calendário oficial, seu número foi citado por alguns autores como sendo 12, provavelmente para fazê-los corresponder aos signos do Zodíaco. Hesíodo, Apolodoro, Estêvão de Bizâncio, Pausânias e outros autores oferecem listas inconsistentes de seus nomes. No mito babilônico, os governadores planetários da semana - Samas, Sin, Nergal, Bel, Beltis e Ninib - eram todos masculinos, exceto Beltis, a deusa do amor. Mas na semana germânica, que os celtas tomaram emprestada do mediterrâneo oriental, o domingo, a terça-feira e a sexta-feira eram governados por titânidas, e não por titãs. A julgar pelo estatuto divino das filhas e filhos emparelhados de Éolo e pelo mito de Níobe, quando o sistema chegou da Palestina á Grécia pré-helênica, decidiu-se por emparelhar uma titânida a cada um dos titãs, de maneira a salvaguardar os interesses da deusa. Mas, muito antes, os 14 eram reduzidos a uma companhia mista de sete. Os poderes planetários eram os seguintes: o Sol para iluminação; a Lua para encantamento; marte para crescimento; Mercúrio para sabedoria; Júpiter para justiça; Vênus para amor; Saturno para paz. Os astrólogos clássicos gregos ajustaram-se aos babilônios, atribuindo respectivamente os planetas a Hélio, Selene, Ares, Hermes (ou Apolo), Zeus Afrodite, Cronos - cujos equivalentes latinos supramencionados ainda nomeiam os dias das semanas francesa, italiana e espanhola.
No fim, miticamente falando, Zeus engoliu os titãs, inclusive uma representação primitiva de si mesmo - visto que os judeus de Jerusalém veneravam um Deus transcendente, composto por todos os poderes planetários da semana: teoria simbolizada pelo candelabro de sete braços e pelos sete Pilares da Sabedoria. Os sete pilares planetários instalados próximos á Tumba do Cavalo, em Esparta, eram, segundo Pausânias (II. 20.9), decorados á moda antiga, ligados possivelmente aos ritos egípcios trazidos pelos pelasgos (Heródoto II. 57). Não se sabe ao certo se os judeus tomaram essa teoria emprestada aos egípcios, ou vice-versa. Entretanto, o assim chamado Zeus heliopolitano, analisado por A. B. Cook em sua obra Zeus, tinha um caráter egípcio e ostentava bustos dos sete poderes planetários como ornamentos frontais e sua vestimenta e, com frequência, também bustos dos deuses olímpicos remanescentes como ornamentos da parte de trás. Uma estatueta de bronze desse deus foi encontrada em Tortos, na Espanha, e outra em Bibelôs, na Fenícia. Uma estela de mármore de Marselha exibe seis bustos planetários e uma figura completa de Hermes - revestido da maior importância nas estatuetas - presumivelmente como inventor da astronomia. Em Roma, Quintis Valerias Soramos alegava, de modo semelhante, que Júpiter era um deus transcendente, embora lá a semana não fosse respeitada como em Marselha, Bibelôs e provavelmente Tortos. Mas os poderes planetários foram limitados a jamais influenciar o culto olímpico oficial, pois eram vistos como não-gregos e portanto, não patrióticos: Aristófanes faz Trygalus dizer que a Lua e "aquele velho patife, o Sol" estão tramando um complô para trair a Grécia e fazê-la cair nas mãos dos bárbaros persas.
A afirmação de Pausânias de que os pelasgos foram os primeiros homens registra a continuidade de uma cultura neolítica na Arcádia até a época clássica.

Alquimia, consoante Corominas[1], procede do árabe kïmyâ, "pedra filosofal" e, quanto à origem da palavra árabe, há duas hipóteses: a base seria o grego (khyméia), "mistura de diversos líquidos", derivada de (khymós), "suco, sumo", ou o copta chame, "negro", nome aplicado aos egípcios e às artes que se lhes atribuem.
Uma breve mas claríssima exposição sobre alquimia, como introdução à interpretação de Jung, encontra-se em Monique Augras, em um livro precioso. Vamos procurar seguir Monique, sintetizando aquilo que nos parece mais importante para a finalidade que temos em mira. -199-
A alquimia é uma ciência, ou melhor, uma filosofia ainda mal conhecida. Baseava-se na teoria segundo a qual tudo no mundo obedece às mesmas leis, e todos os objetos da natureza contêm a energia vital. (...) Para o alquimista, toda matéria contém a vida.
Na expressão mais alta, a 'arte régia' tendia a reconstituir o processo pelo qual essa vida adulterada na terra, depois da queda de Adão, perdeu sua pureza, mas pode reencontrá-la. A pureza, para o homem moral, é a redenção ou regeneração, para a natureza é a purificação ou perfeição. Trata-se, portanto, de participar da obra do Demiurgo, do Criador, ajudando a Terra a reencontrar a sua integração em Deus. (...) Mas alquimia é, antes de tudo, mística. Professam (os alquimistas) a crença de que, para realizar a grande obra, a regeneração da matéria, devem procurar a regeneração de sua alma. Já que se trata de processos análogos e até do mesmo processo, o alquimista vai realizar a sua redenção espiritual paralelamente à procura da 'pedra filosofal'. (...) A pedra representa a materialização da energia, mas também a purificação da alma. Os alquimistas que procuravam apenas fabricar ouro não eram verdadeiros adeptos, pois, diz Hermes, O meu ouro não é ouro vulgar".[2]
Claro está que, sendo para iniciados, toda a terminologia que descreve a obra, a busca da "pedra filosofal", é vazada em uma linguagem criptográfica, cifrada, esotérica, hermética enfim. A célebre Tabula Smaragdina, "Tábula de Esmeralda", cuja tradução para o latim data do século XII e cujo texto teria sido gravado pelo próprio Hermes em uma esmeralda, contém a base simbólica dessa busca. O fundamento simbólico é a separação dos sexos e a "re-união" dos mesmos, patenteando a oposição e o equilíbrio dos dois grandes princípios do universo. Consoante a Tabula, a distribuição simbólica masculino-feminino é a seguinte: masculino: o sol, ouro, o fogo, o ar, o rei, o espírito de enxofre. feminino: a luz, a prata, a terra, a água, a rainha, o espírito de mercúrio.
Diga-se logo que o mercúrio dos alquimistas, quer dizer, Hermes, é hermafrodito, porque é feminino, por ser branco e líquido, e é masculino, por ser um metal seco. Esse hermafroditismo provém exatamente do fato de simbolizar a complexio oppositorum, a "união dos contrários". -200-
O occultus lapis, a pedra oculta, a pedra filosofal, que renascerá das cinzas, será o homo nouus, o homem novo, a Fênix, a Rosa. Sendo o universo formado de quatro elementos, ar, fogo, água e terra, sob o aspecto de quatro estados, gasosa, sutil, líquido e sólido, a "pedra", que representa a unificação dos quatro, através do isolamento da energia represada nos quatro elementos, é, por conseguinte, a quintessência, simbolizada pelo número cinco ou pela Rosa que possui cinco pétalas.
A unidade do cosmo é configurada pelo Uróboro[3], a serpente que "morde a própria cauda".
Da complexio oppositorum, da união dos contrários, sairá a energia vital, a pedra. Já que os metais procedem dessa união, com graus diferentes de maturação, é necessário recriar a matéria-prima, a fim de fazê-la amadurecer até se obter o occultus lapis, a pedra oculta. A matéria irá passar por uma experiência dramática, análoga às "paixões" de determinados deuses dos Mistérios Greco-Orientais: sofrimentos, morte e ressurreição. O opus magnum, "a grande operação", ou opus philosophicum, a "operação filosófica", fará com que a matéria sofra, morra e ressuscite, como se fora o drama místico do deus (paixão, morte e ressurreição), o qual se vê projetado sobre a matéria, a fim de transmutá-la. O alquimista, portanto, tratará a matéria tal qual o deus era tratado nos Mistérios: os minerais padecem, morrem e renascem em uma outra forma, isto é, são transmutados.
Essa transmutação, efetuada pelo opus magnum, e que tem por objetivo único, simbolicamente, a Pedra Filosofal, faz a matéria passar por quatro fases (segundo outro por cinco), que são designadas segundo as cores que tomam os ingredientes na operação: nigredo (preto), albedo (branco), rubedo (vermelho), citrinitas (amarelo).
Após alguns ritos preliminares, como a construção do fogão adequado, do atanor (vaso especial) e de todos os ingredientes e instrumentos que irão servir às manipulações, dava-se início à -201- operação: recriar a matéria-prima. Os contrários são encerrados no atanor ou ovo filosófico. Estes contrários são o princípio enxofre masculino, cujo símbolo é um rei vestido de vermelho, e o princípio mercúrio feminino, configurado por uma rainha vestida de branco. Desse "matrimônio filosófico" nascerá a matéria-prima.
Em seguida, procede-se ao cozimento: a matéria-prima é submetida a uma série de operações dentro do ovo e passa por várias etapas e transformações, representadas sucessivamente pelas cores preta, branca, vermelha e amarela.
A nigredo, o "preto", é a regressão ao estado fluido da matéria: é a putrefação, a morte do alquimista, e como escreve o cabalista Paracelso (1493- 1541), "aquele que deseja entrar no Reino de Deus deve entrar primeiramente com seu corpo em sua mãe e ali morrer". A "mãe", no caso, é a primeira matéria, a massa confusa, o caos, o abismo.
O acróstico, formado por Basile Valentin, é sugestivo a esse respeito, VITRIOL: Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem, quer dizer, "Desce às entranhas da Terra e, purificando-te, encontrarás a pedra secreta".
O albedo, o "branco," é o mercúrio, a iluminação, uma vez que a pedra branca transforma todos os metais em prata; o rubedo, o "vermelho," é o enxofre, o sangue, a paixão, a sublimação; citrinitas, o "amarelo," é o Ouro, a Pedra, o Azoth (primeira e última letras do alfabeto hebraico), o princípio e o fim de todas as coisas. O alfa e o ômega.
Projetando sobre a matéria a função iniciática do sofrimento e graças às operações alquímicas assimiladas aos tormentos e dores, à morte e à ressurreição do iniciado, opera-se a transmutação, pois a "substância" converte-se em Ouro. Sendo o Ouro o símbolo da eternidade, essa transmutação alquímica é o grau máximo de perfeição da matéria e, para o alquimista, corresponde ao término de sua iniciação.

Ártemis estava estreitamente ligada a Hécate e a Selene, personificação antiga da Lua, cujo culto a filha de Leto suplantou inteiramente, tanto quanto Apolo fez esquecer a Hélio, a personificação do Sol. Pois bem, desde muito cedo, Ártemis foi identificada com a Lua e, dado o caráter ambivalente de nosso satélite, mercê de suas fases, segundo se verá mais abaixo, a Lua-Ártemis surge na mitologia com um tríplice desdobramento, o que se poderia denominar a dea triformis, deusa triforme. De início, ao menos na Grécia, a Lua era representada por (Selene)[1], "Lua". Mas, dada a índole pouco determinada de Selene e as fases diversas da lua, foi a Deusa-Lua desdobrada em Selene, que corresponderia mais ou menos à Lua Cheia; Ártemis, ao Quarto Crescente; e Hécate[2], ao Quarto Minguante e à Lua Nova, ou seja, à Lua Negra. Cada uma age de acordo com as circunstâncias, favorável ou desfavoravelmente. Assim, a Lua, por seu próprio cunho cambiante, é dispensadora, à noite, de fertilidade e de energia vital, mas, ao mesmo tempo, é senhora de poderes terríveis e destruidores. Percorrendo várias fases, manifesta as qualidades próprias de cada uma delas. No Quarto Crescente e Lua Cheia é normalmente boa, dadivosa e propícia; no Quarto Minguante e Lua Nova é cruel, destruidora e malévola. Plutarco nos lembra que a Lua "no Quarto Crescente é cheia de boas intenções, mas no Minguante traz a doença e a morte".
Dada a extensão do assunto, vamos sintetizá-lo, abordando primeiramente a Lua, seus poderes e efeitos, em geral, e depois focalizaremos brevemente a Lua Negra, Hécate.
Os raios da Lua, a qual sempre se identificou com a mulher, via de regra foram tidos como elementos grandemente fertilizantes e fecundantes. Em muitas culturas primitivas, o papel do homem, por isso mesmo, era secundário: quem trabalhava o campo era a mulher, mercê da proteção da Lua sobre ela e as sementes. O homem apenas arroteava, preparava o terreno: plantar, cultivar e colher eram tarefas femininas. Nós sabemos que o gérmen da vida se encontra na semente e que o papel do sol é tão-somente fazê-la desenvolver-se. Para os primitivos, todavia, as coisas eram bem diferentes: a semente não passava de massa inerte, absolutamente desprovida do poder de germinar. Esse poder lhe era conferido por uma potência fertilizante, isto é, por uma divindade da fecundação, que era sempre a Lua, como descreve Briffault em sua obra monumental sobre o mito de Selene.[3] Somente as mulheres podiam fazer prosperar as colheitas, porque somente elas estavam sob a proteção direta da Lua, que lhes delegava a faculdade de fazer crescer e amadurecer. Os povos primitivos acreditavam que as mulheres eram dotadas de uma natureza semelhante à da Lua, não apenas porque elas "incham" como esta, mas porque têm um ciclo mensal com a mesma duração que o do astro noturno. O fato de que o ciclo mensal feminino depende da Lua era para os antigos prova evidente de sua semelhança com o corpo celeste. A palavra menstruação e a palavra lua são semelhantes ou, por vezes, estreitamente aparentadas em várias línguas. Em grego, só para citar uma delas, (mén, menós) é mês e (émmenon) é "o que volta todos os meses", cujo plural e (émmena) significa particularmente menstruação, ao passo que (méne) e (menás) designam a lua, como astro e como divindade. Ao que ficou dito poder-se-ia acrescentar o grego (kataménia), que, em Hipócrates e Aristóteles, tem o mesmo sentido que possui catamênio em português, isto é, mênstruo. Diga-se, de passagem, que em nossa linguagem popular mênstruo se diz também lua. Os camponeses alemães chamam simplesmente o período menstrual de der Mond, "a lua", e, em francês, é comum denominá-lo le moment de la lune, "o período da lua".
O sol, fonte constante de calor e luz, brilha enquanto dura o trabalho: é o macho, o homem; a lua, inconstante e mutável, é fonte de umidade e brilha à noite: sua luz é doce e terna, é a fêmea, a mulher. O sol, princípio masculino, reina sobre o dia, a luz; a lua, princípio feminino, reina sobre a noite, as trevas. O sol é lógos, a -71- razão; a lua é éros, o amor. E só o amor faz germinar! Não foi em vão que Deus criou duas luzes: a mais forte, para preponderar durante o dia, a mais frágil e terna, para governar a noite:
Fez Deus pois dois grandes luzeiros, um maior, que presidisse ao dia, outro menor, que presidisse à noite.
E mais uma vez Ouçamos Plutarco:
"A Lua, por sua luz úmida e geradora, é favorável à propagação dos animais e das plantas". (Gn 1,16)
No Antigo Testamento, as lúnulas (pequenas luas) faziam parte dos enfeites femininos (Is 3,18) ou eram penduradas no pescoço dos animais (Jz 8,21): em ambos os casos configuravam a fertilidade. A lua, aliás, sempre teve um poder especial de umedecer, por isso era chamada a dispensadora da água. Tal epíteto honroso não lhe cabe apenas porque ela exerce controle sobre as chuvas, mas ainda porque o nosso satélite "provoca" o orvalho. Este era símbolo da fertilidade e na alta Idade Média prescrevia-se um banho de orvalho como "magia amorosa".
A lua estava de tal modo ligada à mulher, e, portanto, à fertilidade, que, em muitas culturas primitivas, se acreditava piamente que o homem não desempenhava papel algum na reprodução. A função do homem era tão-somente romper o hímen, para que os raios da lua pudessem penetrar, uma vez que ela era o único agente fertilizante. Os meninos gerados pela lua estavam, além do mais, destinados a ser reis ou a desempenhar uma função de grande relevância, como convém a um rebento divino. Ora, como os "raios da lua" tinham o poder de fecundar, a própria Lua, não raro, era considerada como um "homem", o Homem- Lua, que, por vezes, se encarnava, sobre a terra, em um rei muito poderoso. Partindo dessa crença os reis de certas linhagens ou dinastias foram considerados como encarnações desse Homem-Lua. Muitos desses reis e soberanos antigos tinham uma cabeleira ornamentada com chifres, emblema da luna cornuta (lua cornuda), no quarto crescente, e, por uma transição natural, o rei portador de semelhante adorno tornava-se não somente a lua, mas também o touro, uma vez que os animais corníferos, como o touro e a vaca, estão entre aqueles associados à lua. Em determinadas cerimônias, por isso mesmo, reis celtas, egípcios e assírios usavam cornos, uma vez que seus súditos os tinham na conta de encarnações de uma divindade lunar. Mais tarde se passou a dizer que o rei não era a lua, mas um seu representante ou -72- certamente um ilustre descendente. Gengis-Khan, o poderoso imperador mongol, em pleno século treze de nossa era, fazia remontar seus ancestrais a um rei, cuja mãe havia sido fecundada por um raio da lua...
Os raios da lua eram tão poderosos, que bastava a mulher se deitar sob os raios da mesma no quarto crescente para ficar grávida. A criança, no tempo devido, seria trazida pelo Pássaro-Lua. A nossa cegonha tem raízes milenares. Ao contrário, aquela que não desejava ser fecundada, era bastante não olhar para a lua e friccionar o ventre com saliva, poderoso elemento apotropaico, e certamente o primeiro anticoncepcional que o homem conheceu.
A lua, que está sempre cm mutação, assemelha-se ao que se passa na terra com os seres humanos. Desse modo, teve ela também direito a uma antropomorfização. Assim, no Quarto Crescente e no Minguante, a lua se torna, por antropomorfismo, o homem-lua, uma espécie de herói que vive na lua e é a própria lua. Esse homem-lua inicia suas atividades no Crescente, em luta contra o demônio das trevas, uma espécie de dragão, que devorou seu pai, a lua velha, isto é, a lua nova. O homem-lua vence o dragão na lua cheia e reina, triunfante, sobre a terra. Trata-se de um rei sábio e justo. Traz a paz e a ordem para as tribos e organiza a agricultura. Mas o reinado do herói dura pouco: o velho inimigo, terminado o plenilúnio, volta ao combate. Vencido no novilúnio, o homem-lua é tragado pelo dragão. A lua se apaga e julga-se que o herói morreu de maneira estranha: despedaçado, como a lua que veio decrescendo até desaparecer. Esse mesmo tema pode ser observado no mito de Osíris, o deus-lua egípcio, que, como a Lua, pereceu despedaçado, para logo ser recomposto. O homem-lua, que desceu às trevas do inferno, lá permanece durante o novilúnio e depois a luta recomeça... O herói consegue nova vitória e a lua cheia descansa, porque, nessa fase, ela não cresce nem decresce. Parece ter sido essa a origem do sábado e sobretudo dos tabus que incidiam sobre o mesmo. É que em culturas primitivas e até "avançadas" como na hindu antiga e na babilônica, para não citar outras, se fazia estreita analogia entre a menstruação e a lua cheia. Na índia antiga via-se no catamênio uma prova de que a mulher estava particularmente sob a influência da lua e mesmo possuída pela divindade lunar. Diz um texto védico: "O sangue da mulher é uma das formas de Agni, portanto não deve ser o mesmo desprezado". Tem-se aí uma relação entre menstruação e fogo, já que Agni, deus do fogo, está inteiramente vinculado à luz da lua. Na Babilônia acreditava-se de modo idêntico que Ishtar, -73- a deusa lua, ficava indisposta durante o plenilúnio, quando então se observava o sabattu, ou melhor, sapattu, donde o hebraico sabbat, que se poderia interpretar, ao menos poeticamente, como "repouso do coração".[4] Durante a "indisposição" de Ishtar, no período da lua cheia, guardava-se, pois, o sábado, que era, nesse caso, mensal, tornando-se depois semanal, de acordo com as quatro fases da lua. Esse dia era considerado nefasto, não se podendo executar qualquer trabalho, viajar ou comer alimentos cozidos. Ora, nesses mesmos interditos, incorriam as mulheres menstruadas. No dia da menstruação da lua, todos, homens e mulheres, estavam sujeitos a idênticas restrições, porque o tabu da mulher indisposta pesava sobre todos.
No judaísmo, sabbat era normalmente o nome do sétimo dia da semana, embora pudesse ser aplicado a festas que não caíam necessariamente no sétimo dia da mesma, como o dia da expiação (Lv 16,31; 23,32), a festa das trombetas (23,24) e o primeiro e oitavo dias da festa dos tabernáculos (23,39). De qualquer forma, o sábado judaico, que na Bíblia é usado para indicar somente uma obrigação religiosa e social, estava também cercado de tabus, cuja origem talvez remonte à época em que "os semitas ainda eram pastores nômades, cujas andanças eram determinadas pelas fases da lua. Esses dados parecem justificar a conclusão de que o sábado, como modo concreto de satisfazer à necessidade humana de descanso periódico, deve sua origem ao fato de que se começou a dar um valor absoluto ao caráter periódico da celebração das quatro fases da lua, à custa da coincidência do dia da celebração com as fases da mesma. Ao se sedentarizarem, as tribos semitas de nômades estenderam os seus tabus, originariamente ligados à celebração das fases da lua, às suas novas ocupações agrícolas".[5]
Entre esses tabus "herdados" certamente se devem inserir aqueles que cercam como impura a mulher menstruada (Gn 31,35; 2Sm 11,4; Lv 20,18 e certas determinações em Lv 15,19-24;25-30).[6] -74
Voltando a Selene, Ártemis e Hécate, ou melhor, à deusa triforme, vamos ver mais de perto o seu androginismo, cifrado nos raios fecundantes da lua e no homem-lua, que é a própria lua.
A lua é, portanto, andrógina. Plutarco está novamente conosco: "Chama-se a Lua (Ártemis) a mãe do universo cósmico; ela possui uma natureza andrógina". Na Babilônia, o deus-Lua Sin é andrógino e quando foi substituído por Ishtar, esta conservou seu caráter de androginismo. Igualmente no Egito, Ísis é denominada Ísis-Neit, enquanto andrógina.
Pelo fato mesmo de a lua ser andrógina, o homem-Lua, cujo representante na terra era o rei ou o chefe tribal, passava a primeira noite de núpcias com a noiva, a fim de provocar a fertilização dela, da tribo e da terra. Tal hábito, como já se assinalou, permaneceu na França até a Idade Média com o nome de Le Droit du cuissage du Seigneur.
O fato de todos dependerem dos préstimos da lua para a propagação da espécie, da fertilização dos animais e das plantas, enfim, da boa colheita anual, em todos os sentidos, é que provocou, desde a mais remota antiguidade, um tipo especial de hieròs gámos, de -75- casamento sagrado, uma união sagrada, de caráter impessoal. Trata-se das chamadas hierodulas, literalmente, "escravas sagradas", porque adjudicadas, em princípio, a um templo, ou ainda denominadas "prostitutas sagradas", mas sem nenhum sentido pejorativo.
Em determinadas épocas do ano, sacerdotisas e mulheres de todas as classes sociais uniam-se sexualmente a reis, sacerdotes ou a estranhos, todos simbolizando o homem-Lua, com o único fito de provocar a fertilização das mulheres e da terra, bem como de angariar bens materiais para o templo da deusa (Lua) a que serviam. Tudo isso parece muito estranho para nossa mentalidade ou para nossa ignorância das religiões antigas. Vamos, assim, pela "delicadeza" do assunto, restringi-lo ao mínimo necessário.
Puta, em latim, era uma deusa muito antiga e muito importante. Provém do v. putare, "podar", cortar os ramos de uma árvore, pôr em ordem, "pensar", contar, calcular, julgar, donde Puta era a deusa que presidia à podadura. Com o sentido de cortar, calcular, julgar, ordenar, pensar, discutir, muitos são os derivados de putare em nossa língua, como deputado, amputar, putativo, computar, computador, reputação. O sentido pejorativo, ao que parece, surgiu pela primeira vez num texto escrito entre 1180-1230 de nossa era. Não é difícil explicar a deturpação do vocábulo. É que do verbo latino mereri, receber em pagamento, merecer uma quantia, proveio meretrix, "a que recebe seu soldo", de cujo acusativo meretrice nos veio meretriz, que também, a princípio, não tinha sentido erótico. Mas, como putas e meretrizes, que se tornaram sinônimos, se entregavam não só para obter a fecundação da tribo, da terra, das plantas e dos animais, mas também recebiam dinheiro para o templo, ambas as palavras, muito mais tarde, tomaram o sentido que hoje possuem.
Não eram, todavia, apenas mulheres que "trabalhavam" para a deusa-Lua. Homens igualmente, embora fosse mais raro, após se emascularem, entregavam-se ao serviço da deusa. Na Índia, segundo W. H. Keating, os homens de Winnipeck consideram o sol como propício ao homem, mas julgam que a lua lhes é hostil e se alegra quando pode armar ciladas contra o sexo masculino. Desse modo, os homens de Winnipeck, se sonhassem com a lua, sentiam-se no dever de tornar-se cinaedi, quer dizer, homossexuais. Vestiam-se imediatamente de mulher e colocavam-se ao serviço da lua. Em 2 Reis 23,7, Josias mandou derrubar os aposentos dos efeminados, consagrados a Astarte. -76-
Cibele era a grande deusa frígia, trazida solenemente para Roma entre 205 e 204 a.e.c, durante a segunda Guerra Púnica. Identificada com a lua, protetora inconteste da mulher, seus sacerdotes, chamados Coribantes, Curetes ou Gaios e muitos de seus adoradores, durante as festas orgiásticas da Bona Mater, Boa Mãe, como era chamada em Roma, se emasculavam e cobriam-se com indumentária feminina e passavam a servir à deusa-Lua Cibele.
No Egito e na Mesopotâmia as deusas-Lua Ísis e Ishtar sempre tiveram um grande número de hierodulas, que, para obter a fertilidade da terra e dinheiro para os templos, para elas trabalhavam infatigavelmente.
No judaísmo, as hierodulas causaram problemas sérios. Para Astarte, deusa-Lua semítica da vegetação e do amor (a Afrodite do Oriente), as hierodulas, sobretudo em Canaã, operavam, quer ao longo das estradas (Gn 38,15-21; Jr 3,2), quer nos próprios santuários (Os 4,14) da deusa. O dinheiro arrecadado, a que se dava o nome de "salário de meretriz" ou "de cachorro", era entregue aos santuários. Sob a influência cananéia, o abuso penetrou também no culto israelítico (Nm 25,1-16), embora a Lei se opusesse energicamente a isso e proibisse que o dinheiro fosse aceito pelo Templo (Dt 23,18). Sob Manassés e Amon (sec. VII a.e.c.), as prostitutas sagradas instalaram-se no próprio Templo de Jerusalém. Foi necessário que Josias mandasse demolir suas habitações. Mais tarde, à época da desordem total, até não cristãos as procuravam no Templo da Cidade Santa (2Mc 8).
Na Grécia, à época histórica, em lugar de oferecer seu corpo e sua virgindade em honra da deusa-Lua, as mulheres ofereciam sua cabeleira.
Ainda uma palavra sobre a Lua, suas servidoras e seus préstimos. Em todas as culturas primitivas eram as mulheres que serviam à Lua, pois tinham a incumbência de assegurar, entre outras coisas, o abastecimento de água à tribo, à cidade e ao campo, velando, ao mesmo tempo, sobre a chama sagrada, que representava a luz da Lua e que jamais poderia extinguir-se. Além do mais, essas mulheres, essas sacerdotisas deviam receber em sua própria pessoa a "energia fertilizante" da Lua, em seu e em benefício de todos. Na -77- civilização inca, no Peru, as sacerdotisas de Mana-Quillas e, na Roma antiga, as Virgens Vestais não tinham somente o dever de manter acesa a chama sagrada da deusa Lua-Vesta, mas ainda de prover ao abastecimento de água. Nos idos de março, por ocasião da Lua Cheia, realizavam-se sacrifícios ad pendendam pluuiam, sendo lançados pelas Vestais no rio Tibre vinte e quatro manequins, substitutos de antigos sacrifícios humanos, para provocar a chuva. A deusa-Lua Ártemis, divindade dos bosques, onde ficavam muitos de seus santuários, via de regra os tinha junto a uma nascente ou gruta, onde a água brotasse de uma pedra. No Egito, um copo de água era levado em procissão diante de um falo de Osíris. Por magia simpática, em grandes secas, derramava-se água sobre a terra seca para provocar chuva. A deusa Cibele, de que se falou linhas atrás, levada para Roma, entre 205-204 a.e.c. era apenas uma pedra negra, simulacro da Bona Dea, Boa Deusa. Essa pedra era banhada nas águas do Tibre, quando havia estiagem prolongada.
No dia quinze de agosto, em Roma, para homenagear a grande deusa-Lua, celebrava-se a Festa das Tochas, que a Igreja substituiu pela Assunção de Maria. Desmitificando e dessacralizando o mito, a Igreja o sublimou, revestindo-o com nova indumentária. O conselho é do Papa Inocêncio III: "É para a Lua que deve olhar todo aquele que se acha enterrado na sombra do pecado e da iniqüidade. Tendo perdido a graça divina, o dia desaparece. Não há mais sol. Que se dirija a Maria: sob sua influência, milhares encontram diariamente seu caminho para Deus". A simbologia é perfeita: Cristo é o sol; Maria, a lua. É comum, aliás, ver- se a estátua da Mãe de Deus sobre um Crescente Lunar.
Curioso é que para os antigos gregos o real poder da Lua não estava na Lua Cheia, na Lua Brilhante, no seu aspecto positivo, que para nós surge como o mais importante, mas na Lua Nova, a Lua Negra, isto é, na poderosa deusa-Lua Hécate. Aparentada com Ártemis não tem um mito propriamente dito. Independente dos deuses olímpicos, foi de princípio uma deusa benévola e dadivosa, mas, à medida em que se tornou hipóstase da Lua Negra, tornou-se a deusa da magia e dos sortilégios. Com semelhantes atributos, Hécate passou a simbolizar igualmente, com seu cortejo de cães, amigos dos cemitérios, a cadela, a mãe perversa, devoradora e fálica, e, através da mesma, o inconsciente devorador.
Essa polaridade de Hécate explica-se pela própria ambivalência da Lua. Deusa da prosperidade e da abundância no mundo exterior, -78- no mundo interior, a Lua, se é dispensadora da magia, da inspiração e da clarividência, o é igualmente do terror e até da loucura. É bom lembrar que desde o século III a.e.c, como atesta o historiador e poeta didático egípcio de língua grega Mâneton, 4,81 (cerca de 263 a.e.c.), o verbo (seleniádzein), derivado de (Seléne), Lua, significa "ser epiléptico", de onde "ser adivinho ou feiticeiro", uma vez que a epilepsia era considerada morbus sacer, uma "doença sagrada": é que as convulsões do epiléptico se assemelhavam às agitações e "distúrbios" por que eram tomados os que entravam em êxtase e entusiasmo, isto é, "na posse do divino", sobretudo nos ritos dionisíacos. No Novo Testamento, Mt 17,15, um pai aflito procurou Jesus, para que lhe curasse o filho. A doença era lunar: Domine, miserere filio meo, quia lunaticus est. "Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático".

É pelo Centro, local sagrado, que o divino se manifesta, por hierofania, isto é, camuflado, disfarçado, metamorfoseado, ou por epifania, quer dizer, de forma direta. Esse Centro do mundo é, as mais das vezes, figurado por uma elevação: montanha, colina, pilar, pedra, árvore, omphalós (umbigo). Observe-se, porém, que se trata de um centro mítico e não geográfico; se ele é único no céu, é múltiplo na terra. Cada nação, cada cidade, cada povo, cada casa, cada família e até mesmo cada homem tem o seu centro do mundo, seu "ponto de vista", seu ponto imantado, que é concebido como o ponto de junção entre o desejo coletivo ou individual do homem e o poder sobrenatural de satisfazer a esse desejo, quer se trate de um desejo de saber ou de um desejo de amar e agir. Lá onde se congregam esse desejo e esse poder, lá é o centro do mundo. Esta noção de centro está vinculada à ideia de canal de comunicação e é, por isso mesmo, que o centro é marcado por um pilar, uma árvore cósmica, uma pedra...
Nas culturas que distinguem três níveis cósmicos, Céu, Terra, Inferno, o centro constitui o ponto de interseção desses três níveis. Assim sendo, só pelo centro se atinge o divino, porque se torna possível uma ruptura de nível e uma conseqüente comunicação entre as três regiões. O Templo de Jerusalém estava construído sobre o tehôn, isto é, sobre as águas primordiais do Caos, antes da criação. Em Roma, o mundus, por significar "o limpo, o puro", era o grande centro através do qual era possível comunicar-se com as almas dos mortos no Inferno. Em geral, cidades e locais importantes nas culturas antigas estavam localizados no centro do mundo, demarcado, como já se assinalou, por uma pedra, pilar, montanha, árvore... Na Índia, o grande centro era o Monte Meru; entre os germanos, o Hemingbjör e o freixo gigantesco yggdrasil, cuja copada tocava o Céu e cujas raízes desciam até os Infernos; na Palestina, o Tabor (que talvez signifique tabbur, isto é, "umbigo"); o Monte Garizim é expressamente chamado "umbigo da terra"; -59- o Gólgota, para os cristãos, é o verdadeiro centro do mundo: lá estaria o Éden, onde Adão foi criado e pecou, e depois redimido pelo sangue de Cristo. É exatamente pelo fato de o território, a cidade, o templo, o palácio real se encontrarem no Centro do Mundo, a saber, no píncaro da Montanha Cósmica, eram considerados como os pontos mais elevados do Cosmo e, por isso, não foram submergidos pelo dilúvio. "A terra de Israel não foi inundada pelo dilúvio", reza um texto rabínico. E, segundo uma tradição islâmica, o local mais elevado da terra é a Kâ' aba, porque "a estrela polar testemunha que a mesma se encontra voltada para o centro do Céu". O cume da Montanha Cósmica não é apenas o local mais elevado do mundo, mas também se notabiliza sobretudo por ser o (ompha-lòs tês guês), "o umbigo da terra", porque o muito santo criou o cosmo como se fora um embrião, e este cresce a partir do umbigo e depois se desenvolve e se espalha. Em determinadas estatuetas africanas a dimensão dada ao umbigo é bem mais importante que a atribuída ao membro viril, porque é do centro que provém a vida.
Na Grécia o centro do mundo era marcado pelo omphalós de Delfos.
Mas, já que os deuses, em função das culpas e erros dos homens se retiraram mais e mais para alturas inacessíveis, o único meio de atingi-los é através do Centro, e o instrumento mágico que nos conduz até eles é a escada, símbolo da ascensão para se chegar ao divino. A escada, vista em sonhos por Jacó, tocava os céus e por ela desciam os Anjos: e viu em sonhos uma escada posta sobre a terra, e a sua parte mais alta tocava no céu: e viu também os anjos de Deus subindo e descendo por ela. E o Senhor firmado na escada, que lhe dizia: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac (Gn 28,12sq.). Diga-se, de passagem, que a subida pela escada até a residência do sagrado fazia parte, possivelmente, de um rito iniciático órfico. De qualquer forma essa ascensão fazia parte do rito mitraico. Nos mistérios de Mitra, a escada possuía sete degraus, cada qual confeccionado com metal diferente. O primeiro era de chumbo e correspondia "ao céu" do planeta Saturno; o segundo, de estanho, correspondia a Vênus; o terceiro, de bronze, era de Júpiter; o quarto, de ferro, consagrado a Mercúrio; o quinto, de uma liga de metais, correspondia "ao céu" de Marte; o sexto, de prata, consagrado à Lua e o sétimo de ouro, era o do Sol. Subindo essa escada cerimonial, o iniciado percorria efetivamente os sete céus, elevando-se, desta forma, até o Empíreo sagrado. -60-
A escada é vista, assim, como o caminho para a realidade absoluta, representando um rompimento de nível ontológico.
Nos textos funerários egípcios conservou-se a expressão asket pet, em que asket, "marcha", indica a escada de que dispõe Ra, uma escada real, que liga a Terra ao Céu. No Livro dos Mortos, as expressões consagradas "Uma escada me foi instalada para ver os deuses" e "Os deuses lhe dão uma escada, para que, servindo-se dela, ele suba ao Céu", patenteiam o simbolismo da escada como ponte entre a terra e o céu; uma figura plástica que marca a ruptura de nível e torna possível a passagem de um modo de ser a outro.
Além do simbolismo do Centro, há dois outros, no mito do nascimento de Apolo e Ártemis que merecem atenção. Trata-se da atitude de Ilítia em não permitir que Leto desse à luz os gêmeos e do presente que dobrou a obstinação de Hera.
A postura de Ilítia, cruzando a perna esquerda sobre a direita e impedindo, destarte, o parto de Leto, nos encaminha diretamente à crença tão difundida em todas as culturas do poder do mana. Mana é uma palavra melanésia e corresponde mais ou menos ao que os gregos denominavam (enérgueia), uma "força em ação". Pode-se conceituar mana como uma energia, uma força impessoal cósmica circulante e suscetível de ser captada e utilizada pelo homem. Deve-se levar em conta, no entanto, que desse poder oculto (é este o significado etimológico do vocábulo) dispõem cada indivíduo e cada objeto. Um ser humano é tanto mais forte e um objeto é tanto mais energético quanto maior for sua carga de mana. Monique Augras[1], desejando mostrar que a finalidade básica do canibalismo é "absorver o mana do inimigo, com o objetivo de lhe assimilar as forças, os dotes e as virtudes guerreiras", cita uma observação deveras interessante de Montaigne[2] a respeito dos hábitos dos índios do Rio de Janeiro. Diz o autor dos Ensaios que esses indígenas "assavam e comiam em comum as carnes do inimigo, enviando pedaços do mesmo aos amigos ausentes". E acrescenta Montaigne que não se tratava, "como se pensa, de alimentação". Ou seja: tratava- se de uma "função mágica e não alimentar do festim canibal". Donde se conclui que, para esses selvagens, devorar os inimigos era apossar-se de seu mana, de suas energias.
Essa energia, porém, como agudamente observa Monique, não é apenas física, mas tem ainda um caráter essencialmente anímico. -61-
Desse modo, o mana se manifesta tanto sob forma física quanto sob forma anímica, "já que no sistema animista o mundo físico é parte e símbolo do mundo espiritual".
A arquitetura dos templos egípcios é um dos exemplos escolhidos por Monique para patentear o poder e o perigo que oferece o mana.
Com efeito, esses templos obedecem a uma disposição arquitetônica tal, que o contato com o ícone do deus, a quem o templo estava consagrado, somente podia ser feito pelos sacerdotes: há primeiro um pátio ou galeria exterior para o povo; segue-se uma espécie de ante-sala para os dignitários e, por último, uma seqüência de salas cada vez mais escuras até que se atinge o santuário, onde ficava a estátua esculpida do deus, encerrada num tabernáculo. O acesso ao santuário, ao santo dos santos, era privativo dos sacerdotes, porque somente eles estavam preparados para o contato direto com a divindade. Quando Medéia, enlouquecida pelo cinismo, ingratidão e infidelidade de Jasão, quis destruir sua rival Glauce ou Creúsa, filha do rei de Corinto, Creonte, enviou-lhe como "presente de núpcias" um manto; outras versões dizem ter sido um véu e uma coroa, impregnados de um "mana tão venenoso", que bastou Creúsa colocá-los sobre o corpo para transformar-se numa tocha humana.
No Antigo Testamento há o relato de um episódio que mostra com muita clareza a força e o perigo do mana de determinados objetos, quando consagrados a uma divindade. Por ocasião da transladação da Arca da Aliança, da casa de Abinadab para Jerusalém, os bois, que a conduziam sobre um carro novo, escoiceavam e a fizeram pender. Com receio de que o precioso fardo caísse, Oza, que era guarda da Arca, tocou-a e a susteve. Por este gesto imprudente, o Senhor o feriu e Oza caiu morto. Eis o texto:
Mas, logo que chegaram à eira de Nacon, lançou Oza a mão à arca de Deus e a susteve, porque os bois escoicearam e a tinham jeito pender. E o Senhor se indignou grandemente contra Oza e o feriu pela sua temeridade e caiu morto ali mesmo, junto à arca de Deus. (2Sm 6,6-7)
Se todos os objetos do mundo físico possuem, em grau maior ou menor, sua parcela de mana, certas pessoas privilegiadas e sobretudo algumas divindades o detêm em grau superlativo. Conhecedores da força de seu mana, os deuses apareciam aos homens em sonhos -62- ou mais normalmente em forma hierofânica, disfarçando-se de todas as maneiras. Sêmele, a mãe de Dioniso, caiu fulminada e pereceu carbonizada, porque fez que seu amante, Zeus, preso por um juramento, se lhe apresentasse em forma epifânica, isto é, em toda sua majestade de deus dos raios e dos trovões.
Os exemplos poderiam multiplicar-se, mas bastam os citados, para mostrar que, fechado o mana por Ilítia, o parto de Leto seria impossível.

TÁRTARO é o grego (Tártaros), "abismo subterrâneo, local de suplícios". Orco é o latim Orcus, "morada subterrânea dos mortos, os infernos". Talvez provenha do indo-europeu areq, "trancar, enclausurar". Neste caso, de areq, areg proviriam também o latim arca, "cofre, caixão", e arcera, "carro coberto". Inferno ou "Os Infernos" é palavra latina infernus. Etimologicamente infernus é uma forma segunda de inferus, "que se encontra embaixo", por oposição a superus, "que se encontra em cima", donde a oposição Di Inferi, deuses do Inferno, do Hades, e Di Superi, deuses do Olimpo. Observe-se, ainda, em latim, os comparativos inferior, que está mais embaixo, "inferior", por oposição a superior, que está mais acima, "superior".
Substantivado, o neutro plural inferna, -orum, significa as habitações dos deuses de baixo e também dos mortos, quer dizer, o Inferno, abstração feita, em princípio, de local de sofrimento ou de castigo, já que todos na Grécia e em Roma iam para o "Inferno", como parece ter sido no Antigo Testamento, o sentido de Sheol, onde é documentado sessenta e cinco vezes, como por exemplo em Jó 17,16: in profundissimum infernum descendent omnia mea: "todas as minhas coisas descerão ao mais profundo dos infernos". E era, precisamente, com esta acepção que ainda se rezava, no Credo, não faz muito tempo, (que Jesus Cristo) desceu aos infernos, expressão que, para evitar equívoco, foi substituída por desceu à mansão dos mortos. É a partir do Novo Testamento, todavia, que o Inferno é identificado com a Geena, local de sofrimento eterno e a parte mais profunda do Sheol, como está em Lc 16,22-23: Factum est autem ut moreretur mendicus et portaretur ab angelis in sinum Abrahae. Mortuus est autem et diues et sepultus est in inferno: "Ora sucedeu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos -314- para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado no inferno".
A seqüência da parábola diz que Lázaro, o mendigo, estava lá em cima e o rico, lá embaixo, havendo entre ambos um abismo intransponível.
Na Grécia, ao que tudo indica, somente a partir do Orfismo, lá pelo século VII-VI a.e.c, é que o Hades, o Além, foi dividido em três compartimentos: Tártaro, Érebo e Campos Elísios. O fato facilmente se explica: é que o Orfismo rompeu com a secular tradição da chamada maldição familiar, segundo a qual não havia culpa individual, mas cada membro do guénos era co-responsável e herdeiro das faltas de cada um de seus membros, e tudo se quitava por aqui mesmo. Para os Órficos a culpa é sempre de responsabilidade individual e por ela se paga aqui; e quem não se purgar nesta vida, pagará na outra ou nas outras. Havendo uma retribuição, forçosamente terá que existir, no além, um prêmio para os bons e um castigo para os maus e, em conseqüência, local de prêmio e de punição. Veremos um pouco mais adiante que, desses três compartimentos, somente um era permanente, na concepção popular.
Quanto à localização, o Hades era um abismo encravado nas entranhas da Terra, e cuja entrada se situava no Cabo Tênaro (sul do Peloponeso) ou numa caverna existente perto de Cumas, na Magna Graecia (sul da Itália).
Também na literatura babilônica, na epopéia de Gilgamesh, nos mitos de Nergal e Ereskigal, a descida de Ishtar para os Infernos, estes são um lugar debaixo da Terra, além do oceano cósmico. Há dois caminhos para se chegar lá: descendo na terra ou viajando para o extremo ocidente; mas antes de atingir o Além, é necessário transpor o rio dos mortos, "as águas da morte". Também as concepções ugarítica e bíblica localizam o Inferno nas profundezas da terra (Sl 63,10). Abrindo-se esta, Coré, o levita, que se opôs a Moisés, bem como Datã e Abirão, com os seus, desceram vivos para os infernos (Nm 16,30-33). Jó, que considera os infernos como o lugar mais baixo da criação (11,8), imagina os acessos à outra vida no fundo do oceano primordial, em que a terra bóia (Jó 38,16sq.; 26,5).
O universo, por conseguinte, é dividido em três partes: "acima da terra, na terra e debaixo da terra" ou céu, terra e inferno (Ex 20,4; Fl 2,10). -315- Para que se possa compreender o destino da alma no Hades, vamos acompanhá-la em sua longa viagem, do túmulo ao reino de Hades. A obrigação mais grave de um grego é a que concerne ao sepultamento de seus mortos: os filhos, ou, na carência destes, os parentes mais próximos devem sepultar seus pais segundo os ritos, sob pena de lhes deixar a alma volitando no ar por cem anos (o cômputo é puramente fictício), sem direito a julgamento, e, por conseguinte, à paz do Além. Lembremo-nos do já citado verso da Ilíada (XXIII, 71) no Capítulo VII, em que a psique de Pátroclo pede angustiadamente a Aquiles que lhe sepulte o corpo, ou as cinzas, após a cremação, não importa.
Sepulta-me o mais depressa possível, para que eu cruze as portas do Hades.
O sepultamento, todavia, depende de certos ritos preliminares: o cadáver, após ser ritualmente lavado, é perfumado com essências e vestido normalmente de branco, para simbolizar-lhe a pureza. Em seguida, é envolvido com faixas e colocado numa mortalha, mas com o rosto descoberto, para que a alma possa ver o caminho que leva à outra vida. Certos objetos de valor são enterrados com o morto: colares, braceletes, anéis, punhais. Os arqueólogos, escavando túmulos, encontraram grande quantidade desses objetos. Em certas épocas se colocava na boca do morto uma moeda, óbolo destinado a pagar ao barqueiro Caronte, para atravessar a alma pelos quatro rios infernais. Essa ideia de pagamento da passagem, diga-se logo, não é um simples mecanismo da imaginação popular. Toda moeda é um símbolo: representa o valor pelo qual o objeto é trocado. Mas, além de seu valor próprio de dinheiro, de símbolo de troca, as moedas, consoante Cirlot, "desde a antiguidade tiveram certo sentido talismânico"[1], uma vez que nelas a conjunção do quadrado e do círculo não é incomum. Além do mais, a moeda, em grego nómisma, é o símbolo da imagem da alma, porque esta traz impressa a marca de Deus, como a moeda o traz do soberano, segundo opina Angelus Silesius. A moeda chinesa, denominada "sapeca", é um círculo com um furo quadrado no centro; vê-se aí claramente a coniunctio oppositorum: a conjunção do Céu (redondo) e da Terra (quadrada), o animus e a anima, formando uma totalidade. Por vezes se colocava junto ao morto um bolo de mel, que lhe permitia agradar o cão Cérbero, guardião da porta única de entrada e saída -326- do Hades. O cadáver é exposto sobre um leito, durante um ou dois dias, no vestíbulo da casa, com os pés voltados para a porta, ao contrário de como entrou na vida. A cabeça do morto, coroada de flores, repousa sobre uma pequena almofada. Todo e qualquer homem podia velar o morto, acompanhar-lhe o féretro e assistir-lhe ao sepultamento ou à cremação, mas a lei era extremamente rígida com a mulher: na ilha de Ceos só podiam entrar na casa, onde houvesse um morto, aquelas que estivessem "manchadas" (a morte sempre contamina) pela proximidade de parentesco com o mesmo, a saber, a mãe, a esposa, as irmãs, as filhas e mais cinco mulheres casadas e duas jovens solteiras, cujo grau de parentesco fosse no mínimo de primas em segundo grau.
Em Atenas, igualmente, a legislação de Sólon era severa a esse respeito: só podiam entrar na casa do morto e acompanhar-lhe o enterro aquelas que fossem parentes até o grau de primas. Os presentes vestiam-se de luto, cuja cor podia ser preta, cinza e, por vezes, branca, e cortavam o cabelo em sinal de dor. Carpideiras acompanhavam o féretro para cantar o treno. Diante da porta da casa se colocava um vaso (ardánion) cheio de uma água lustrai, que se pedia ao vizinho, porque a da casa estava contaminada pela morte. Todos que se retiravam, se aspergiam com essa água, com o fito de se purificar. O enterro se realizava na manhã seguinte à exposição do corpo. A lei de Sólon prescrevia que todo enterro se deveria realizar pela manhã, antes do nascimento do sol. Desse modo, os enterros em Atenas se faziam pela madrugada e por um motivo religioso: até os raios de sol se manchavam com a morte! No cemitério, sempre fora dos muros da cidade, o corpo era inumado ou cremado sobre uma fogueira: neste último caso, as cinzas e os ossos eram cuidadosamente recolhidos e colocados numa urna, que era sepultada. Após se fazerem libações ao morto, voltava-se para casa e se iniciava o minucioso trabalho de purificação da mesma, porque, para os Gregos, o maior dos "miasmas" era o contato com a morte. Após um banho de cunho rigorosamente catártico, normalmente com água do mar, os parentes do morto participavam de um banquete fúnebre; este banquete se renovava, em Atenas, ao menos, no terceiro, nono e trigésimo dia e na data natalícia do falecido.
Sepultado ou cremado o corpo, a psique era conduzida por Hermes, deus psicopompo, até a barca de Caronte. Recebido o -327- óbolo, o robusto demônio da morte permitia a entrada da alma em sua barca, que a transportava para além dos quatro temíveis rios infernais, Aqueronte, Cocito, Estige e Piriflegetonte. Já do outro lado, após passar pelo cão Cérbero, o que não oferecia grandes dificuldades, pois o que o monstro de três cabeças realmente vigiava era a saída, a psiqué enfrentava o julgamento. O tribunal era formado por três juizes integérrimos: Éaco, Radamento e Minos. Esse tribunal, no entanto, é bem recente. Homero só conhece como juiz dos mortos a Radamanto. Éaco aparece pela primeira vez em Platão.
Radamanto julgava os Asiáticos e Africanos; Éaco, os Europeus. Em caso de dúvida, Minos intervinha e seu veredicto era inapelável.
Infelizmente quase nada se sabe acerca do conteúdo desse julgamento e a maneira como era conduzido, embora na Eneida, VI, 566-569, Vergílio nos fale, de passagem, que Radamanto supliciava as almas, obrigando-as a confessar seus crimes ocultos.
Julgada, a alma passava a ocupar um dos três compartimentos: Campos Elísios, Érebo ou Tártaro. Neste último eram lançados os grandes criminosos, mortais e imortais. Era o único local permanente do Hades: lá, supliciados pelas Erínias, ficavam para sempre os condenados, os irrecuperáveis. O mesmo Vergílio, ainda no canto VI, 595-627, nos dá uma visão dantesca dos suplícios a que eram submetidos os réprobos e a natureza dos crimes por eles perpetrados. O grande poeta, todavia, no que se refere às faltas graves cometidas, mistura habilmente "aos que espancaram os pais, aos avarentos, aos adúlteros, aos incestuosos, aos que desprezam os deuses", os condenados por crimes políticos. Estão no Tártaro os que "fizeram guerras civis, os desleais, os traidores, os que venderam a pátria por ouro e impuseram-lhe um senhor despótico..." É bom não perder de vista que, a par de ser um poema tardio (século I a.e.c.), a Eneida é também uma obra assumidamente engajada e comprometida com a ideologia política do imperador Augusto, cuja pessoa, cuja família, que era de -318- origem divina[2], cujo governo e cujas reformas o poeta canta, exalta e defende. No Tártaro vergiliano, os assassinos principais de César, Cássio e Bruto, e seus grandes inimigos políticos, como Marco Antônio e a egípcia Cleópatra, entre muitos outros, sem omitir os heróis gregos, inimigos do troiano Pai Enéias, fundador da raça latina, certamente formariam um inferninho à parte, com suplícios adequados... Talvez mais violentos do que os do Inferno político da Divina Comédia de Dante!
Mas a Sibila de Cumas, que acompanhara Enéias à outra vida, diz-lhe que, embora tivesse cem bocas, seria impossível nomear todas as sortes de crimes e relatar as espécies de castigos.
O Érebo e os Campos Elísios são impermanentes: trata-se mais de compartimentos de prova do que de purgação. As provações aí realizadas servem de parâmetro de regressão ou de evolução e aperfeiçoamento, cuja natureza nos escapa. Quer dizer, a descida definitiva ao Tártaro ou a próxima (ensomátosis), "reencarnação", ou ainda a próxima (metempsýkhosis), "metempsicose", que são coisas muito diferentes[3], dependeriam intrinsecamente do "comportamento" da psiquê durante sua permanência no Érebo ou nos Campos Elísios. No Érebo estão aqueles que comentaram certas "faltas". Seria conveniente deixar claro que alguns habitantes temporários do Érebo, que Vergílio denomina lugentes campi, Campos das Lágrimas, não têm suas faltas especificadas e outros lá estão sem que possamos compreender o motivo. Recorrendo mais uma vez à Eneida, VI, 426-450, vamos ver que nos Campos das Lágrimas estão criancinhas que morreram prematuramente; as vítimas de falso julgamento; as suicidas (o poema só fala em mulheres) por amor, como Fedra, Prócris, Evadne, Dido.
Alguns heróis troianos (mirabile dictu!) também lá estão e heróis gregos igualmente.
O poeta latino, no entanto, deixa bem claro que essas almas não estão no Érebo por acaso, "sem o aresto de juizes, uma vez que Minos indagou de sua vida e de seus crimes". Donde se conclui que cometeram "faltas". -319-
Do Érebo, que é temporário, elas ou mergulharão no Tártaro ou subirão para outra impermanência, os Campos Elísios, único local de onde poderiam partir os candidatos à reencarnação ou à metempsicose.
Em se tratando do último nível ctônio, em que estão os poucos que lá conseguiram chegar, os Campos Elísios, em grego (Elýsia pedía) são descritos, ao menos na Eneida, VI, 637sqq., como um paraíso terrestre em plena idade de ouro. Lá residem os melhores, em opulentos banquetes nos gramados, cantando em coro alegres canções, nos perfumados bosques de loureiros. Lá estão os que já passaram por uma série de provas e purgações. Mas, decorridos mil anos, após se libertarem totalmente das "impurezas materiais", as almas serão levadas por um deus às águas do rio Lete[4] e, esquecidas do passado, voltarão para reencarnar-se.
Em nove versos, o grande poeta latino sintetiza toda a doutrina da reencarnação emanada da doutrina órfico-pitagórica:
Quisque suos patimur manis; exinde per amplum mittimur Elysium et pauci laeta arua tenemus, donec longa dies perfecto temporis orbe concretam exemit labem, purumque relinquit aetherium sensum atque aurai simplicis ignem. Has omnis, ubi mille rotam uoluere per annos, Lethaeum ad fluuium deus euocat agmine magno, scilicet immemores supera ut conuexa reuisant rursus, et incipiant in corpora uelle reuerti.
(Aen. VI, 743-751)
"Todos sofremos em nossos manes os merecidos castigos. Em seguida somos enviados para o vasto Elísio e são poucos os que ocupam estes prados alegres, enquanto o escoar dos anos destrói a impureza material, deixando puro o etéreo espírito, no estado primeiro de fulgor ígneo. Um deus então, decorridos mil anos, leva às águas do Lete as almas purificadas, para que, esquecidas do passado, tornem a ver a face da terra e queiram voltar a novos corpos".
Poderia causar estranheza aos menos avisados o fato de nos termos apoiado, em alguns pontos, num poema latino, para explicar a escatologia popular grega. A explicação é fácil: toda a parte doutrinária do c. VI da Eneida é órfico-pitagórico-platônica. Boyancé fez um estudo extraordinário da religião vergiliana e no capítulo VII, intitulado Inferi (Os Infernos), sintetizou não apenas quanto o poeta latino deve à Grécia no c. VI, mas quanto também Vergílio é original no mesmo canto sexto, que é considerado, com justas razões, como o termômetro da Eneida: "Observando-se as concepções religiosas (do canto VI), tudo é grego, quer se trate de mitos infernais ou de doutrinas filosóficas. Mas que o Pai (Anquises) seja o hierofante e que Enéias, por sua pietas, tenha sido conduzido a ele, que o cívico e o cósmico estejam estreitamente associados, tudo isto faz que o espírito, que dá vida às concepções, aos mitos e à doutrina, se torne profundamente romano".[5]
Eis aí uma visão da escatologia grega popular em suas linhas gerais, mas poder-se-ia perguntar: a quantas reencarnações se tinha direito? E depois de totalmente purificada das misérias do cárcere do corpo, qual o destino final da psiqué? À primeira pergunta talvez se pudesse responder evasivamente que o número de reencarnações se mediria pela paciência dos deuses (que certamente não era muito grande!); e à segunda, dizendo-se que, via de regra, o céu grego era platonicamente a Via Láctea. Ao menos, que se saiba, a cabeleira de Berenice e os imperadores romanos, que morriam benquistos do povo, eram transformados em astros.

ATLÂNTIDA, em grego (Atlantís), prende-se a Atlas, em grego (Átlas), "que sustém a abóbada celeste", vocábulo formado, ao que tudo indica, de um prefixo intensivo a- e de tlä, em grego (tlênai), indo-europeu telä, "suportar". Em dois de seus diálogos, Timeu e Crítias, conta Platão que Sólon, quando de sua viagem ao Egito, interrogara alguns sacerdotes e um deles, que vivia em Saís, no Delta do Nilo, lhe relatou tradições muito antigas relativas a uma guerra entre Atenas e os habitantes da Atlântida. Esse relato do filósofo ateniense se inicia no Timeu e é retomado e ampliado num fragmento que nos chegou do Crítias. Os Atlantes, segundo o sacerdote de Saís, habitavam uma ilha, que se estendia diante das Colunas de Héracles, quando se deixa o Mediterrâneo e se penetra no Oceano. Quando da disputa, já conhecida por nós, entre Atena e Posídon pelo domínio de Atenas, o deus do mar, tendo-a perdido, recebeu como prêmio de consolação a Atlântida. Lá vivia Clito, uma jovem de extrema beleza, que havia perdido os pais, chamados, respectivamente, Evenor e Leucipe. -326-
Por ela, que habitava uma montanha central da Ilha, se apaixonou o deus, que, de imediato, lhe cercou a residência com altas muralhas e fossos cheios de água.
Dos amores de Posídon com Clito nasceram cinco vezes gêmeos. O mais velho deles chamava-se Atlas. A ele o deus concedeu a supremacia, tornando-se o mesmo o rei suserano, uma vez que a Ilha fora dividida em dez pequenos reinos, cujo centro era ocupado por Atlas. A Atlântida era riquíssima por sua flora, fauna e por seus inesgotáveis tesouros minerais: ouro, cobre, ferro e sobretudo oricalco, um metal que brilhava como fogo. A Ilha foi embelezada com cidades magníficas, cheias de pontes, canais, passagens subterrâneas e verdadeiros labirintos, tudo com o objetivo de lhe facilitar a defesa e incrementar o comércio. Anualmente, os dez reis se reuniam e o primeiro ato que praticavam em comum era a caçada ritual ao touro. Essa caçada e captura do animal sagrado se faziam no próprio témenos do deus, isto é, porção de território com um altar ou templo consagrado à divindade. Após garrotearem o animal, decapitavam-no, o que faz lembrar o tauróbolo da Creta minóica, cerimônia em que a perseguição precede à oblação final da vítima. O sangue do touro era cuidadosamente recolhido e com ele os dez reis se aspergiam, porque o animal é identificado com a divindade (Plat. Crit. 119 d-120 c). Após esse rito inicial, os reis, revestidos de uma túnica azul-escuro, sentavam-se sobre as cinzas ainda quentes do sacrifício e devam início à segunda parte da reunião sagrada. Apagados todos os archotes, mergulhados em trevas profundas, os reis faziam sua autocrítica e julgavam-se reciprocamente durante uma noite inteira. Aqui, infelizmente, termina o relato do filósofo. Sabe-se ainda que tentando subjugar o mundo, os Atlantes foram vencidos pelos Atenienses, e isto nove mil anos antes de Platão. Os Atlantes e sua ilha, consoante ainda o Autor de Crítias, desapareceram completamente, tragados por um cataclismo.
Existe, no entanto, uma variante muito significativa de Diodoro Sículo (século I a.e.c.), acerca da Atlântida e seus habitantes.
Segundo o Autor da Biblioteca Histórica, a Amazona Mirina declarou guerra aos Atlantes que habitavam um país vizinho da Líbia, à beira do Oceano, onde os deuses, dizia-se, haviam nascido. À frente de uma cavalaria de vinte mil Amazonas e de uma infantaria de três mil, conquistou primeiro o território de um dos dez reinos da Atlântida, cuja capital se chamava Cerne. Em seguida, avançou sobre a capital, destruiu-a e passou todos os homens válidos a fio de espada, -327- levando em cativeiro as mulheres e as crianças. Os outros nove reinos da Atlântida, apavorados, capitularam imediatamente. Mirina os tratou generosamente e fez aliança com eles. Construiu uma cidade, a que deu o nome de Mirina, em lugar da que havia destruído, e franqueou-a a todos os prisioneiros e a quantos desejassem habitá-la. Os Atlantes pediram então à denodada Amazona que os ajudasse na luta contra as Górgonas. Depois de sangrenta batalha, Mirina conseguiu brilhante vitória, mas muitas das inimigas conseguiram escapar. Certa noite, porém, as Górgonas prisioneiras no acampamento das vencedoras lograram apoderar-se das armas das sentinelas e mataram grande número de Amazonas. Recompondo-se logo, as comandadas de Mirina massacraram as rebeldes. Às mortas foram prestadas honras de heroínas e, para perpetuar-lhes a memória, foi erguido um túmulo suntuoso, que, à época histórica, ainda era conhecido com o nome de Túmulo das Amazonas.
As gestas atribuídas a Mirina, todavia, não se esgotam com estas duas guerras. Mais tarde, após conquistar, talvez com auxílio dos Atlantes, grande parte da Líbia, dirigiu-se para o Egito, onde reinava Hórus, filho de Ísis, e com ele concluiu um tratado de paz. Organizou, em seguida, uma gigantesca expedição contra a Arábia; devastou a Síria e, subindo para o norte, encontrou uma delegação de Cilícios, que, voluntariamente, se renderam. Atravessou, sempre lutando, o maciço do Tauro e atingiu a região do Caíque, término de sua longa expedição. Já bem mais idosa, Mirina foi assassinada pelo rei Mopso, um trácio expulso de sua pátria pelo rei Licurgo.
A lenda desta Amazona é mais uma "construção histórica" e não constitui propriamente um mito, mas uma interpretação de elementos míticos combinados de modo a formar uma narrativa mais ou menos coerente, nos moldes das interpretações "racionalistas" dos mitógrafos evemeristas.
Mirina, rainha das Amazonas, é seu nome na Ilíada, mas este é seu nome "junto aos deuses"; entre os homens ela é chamada Batiia.
A Atlântida, o continente submerso, seja qual for a origem do mito, permanece no espírito de todos, à luz dos textos inspirados a Platão pelos sacerdotes egípcios, como o símbolo de uma espécie de paraíso perdido ou de cidade ideal. Domínio de Posídon, aí instalou ele os dez filhos que tivera de uma simples mortal. O próprio deus organizou e adornou sua ilha, fazendo dela um reino de sonhos: -328- "Seus habitantes se enriqueciam de tal maneira, que jamais se ouviu dizer que um palácio real possuísse ou viesse algum dia a possuir tantos bens. Tinham duas colheitas por ano: no inverno utilizavam as águas do céu; no verão, aquelas que lhes dava a terra, com a técnica da irrigação" (Crit. 114 d, 118 e).
Quer se trate de reminiscências de antigas tradições, quer a narrativa platônica não passe de uma utopia, o fato é que, tudo leva a crer, Platão projetou na Atlântida seus sonhos de uma perfeita organização político-social: "Quando as trevas desciam e as chamas dos sacrifícios se extinguiam, os reis, cobertos com lindas indumentárias de um azul-cinza, sentavam-se por terra, nas cinzas do holocausto sacramentai. Então, em plena escuridão da noite, apagados todos os archotes em torno do santuário, os reis julgam e são julgados, se houver sido cometida por qualquer deles alguma falta. Terminado o julgamento, as sentenças são gravadas, já em pleno dia, sobre uma mesa de ouro, que era consagrada como recordação do feito" (Crit. 120 b c).
Mas quando neles se "enfraquecia o elemento divino e o humano passava a dominar", eram alvo do castigo de Zeus.
A Atlântida reúne, assim, o tema do Paraíso e da Idade do Ouro, que se encontra em todas as culturas, seja no início da humanidade, seja no seu término. A originalidade simbólica da Atlântida está na ideia de que o Paraíso reside na predominância em cada um de nós de um elemento divino. -329-

MISTÉRIO, em grego (mystérion) significa, etimologicamente, "coisa secreta", "ação de calar a boca", uma vez que (mystérion) provém do verbo (mýein), "fechar, se fechar, calar a boca", daí (mýstes), "o que se fecha, o que guarda segredo, o iniciado", (mystikós), "que concerne aos mistérios, que penetra os mistérios, místico" e (mystagogós), de (mýstes), "iniciado" e o verbo ̈gein (águein), "conduzir, sacerdote encarregado de iniciar nos mistérios, mistagogo".
Os Mistérios de Elêusis não foram os únicos a existir na Hélade. Mas Deméter era a mais venerada e a mais popular das deusas gregas, diz com razão Mircea Eliade, e a mais antiga também. De certa forma, a deusa de Elêusis prolonga o culto das Grandes Mães do Neolítico, e, por isso mesmo, outros grandes mistérios lhe eram consagrados, como os da Arcádia e da Messênia, sem excluir sua participação nos de Flia, na Ática. Além destes, dedicados à Grande Mãe de Elêusis, havia os famosos Mistérios dos Cabiros na Samotrácia e, em Atenas, a partir do século V a.e.c., os Mistérios do deus tracofrígio Sabázio[1], considerado como o primeiro culto de origem oriental a penetrar e ter bastante aceitação no Ocidente. -295-
Dentre todos esses mistérios, todavia, os universalmente famosos foram os Mistérios de Elêusis e isso, em boa parte, se deve ao apoio decisivo que lhes de Atenas. Um apoio, por certo, muito inteligente e bem de acordo com a atmosfera política que a cidade de Atena sempre defendeu. Na medida em que os Mistérios de Elêusis não formavam uma seita, nem tampouco uma associação secreta, como os Mistérios da época helenística, os Iniciados, ao retornarem a seus lares, continuavam tranqüilamente a participar, e até com mais empenho e desenvoltura religiosa, dos cultos públicos. Só após a morte é que eles passavam novamente (como durante as cerimônias em Elêusis) a formar um grupo à parte, inteiramente separados dos não-iniciados, como nos mostra, entre outros, Aristófanes na comédia As Rãs. É claro que Dioniso e Demeter, por motivos de ordem política e social, ficaram por longos séculos confinados no campo, mas, a partir de Pisístrato e logo depois, com a democracia, os Mistério de Elêusis podem ser considerados como uma complementação da religião olímpica e dos cultos públicos, sem nenhuma oposição às instituições religiosas da pólis. E foi certamente a atmosfera política de Atenas que deu aos Mistérios de Elêusis um caráter incrivelmente democrático para a época. Do governante ao escravo, da mãe-de-família à prostituta, do ancião à criança, todos podiam ser Iniciados, desde que falassem grego, para que pudessem compreender e repetir certas fórmulas secretas; não tivessem as mãos manchadas por crime de sangue e nem fossem réus de impureza sacrílega. A isto acrescentava-se, bem de acordo com o valor ritualístico que se atribuía à palavra, o interdito aos (phonèm asýnetoi), "os deficientes de linguagem", quer dizer, os que, por qualquer problema, não conseguissem pronunciar corretamente as fórmulas rituais.
Mas já é tempo de tentarmos também penetrar um pouco no augusto Santuário de Elêusis.
Consoante a tradição, os primeiros habitantes e colonizadores de Elêusis, localidade que fica a pouco mais de vinte quilômetros do centro de Atenas, foram Trácios. Recentes escavações arqueológicas permitem afirmar que Elêusis deve ter sido colonizada entre 1580 e 1500 a.e.c., mas o primeiro santuário, composto de uma câmara com duas colunas internas que sustentavam o teto, foi construído no século XV a.e.c. e, nesse mesmo século, se inauguraram os Mistérios. Foram vinte séculos de glória. Nos fins do século IV e.c, Teodósio, o Grande (346-395 e.c.), fechou por decreto e -296- destruiu a picareta os templos ancestrais. Era o fim das tradições ancestrais, no papel, porque, sobre as ruínas de seus templos Zeus, Demeter e Dioniso ainda reinaram por muito tempo.
Foi, sem dúvida, a união política de Elêusis com Atenas, no último quartel do século VII a.e.c, que proporcionou a seu culto todo o esplendor e majestade, que perduraram por dois mil anos. Os Mistérios se tornaram, desde então, uma festa religiosa oficial do Estado ateniense, que lhe confiou a organização e a direção ao Arconte-Rei e a um colega seu, um epimelétes, isto é, um intendente especialmente designado para esse mister. A esses se juntavam mais dois delegados, eleitos pelo povo. Os verdadeiros dignitários e oficiantes do culto, porém, pertenciam a três antiquíssimas famílias sacerdotais de Eleusis: os Eumólpidas, os Querices e os Filidas. Os Eumólpidas tinham a preeminência, porque pretendiam descender de Eumolpo[2], e que, etimologicamente, significa "o que canta bem e harmoniosamente", o que modula corretamente as palavras rituais e as encantações. Dos Eumólpidas saía, escolhido pela sorte, mas cujo cargo era vitalício, o sacerdote principal dos Mistérios, o Hierofante, etimologicamente "o que mostra, o que patenteia o sagrado".
Em termos religiosos, era o sacerdote que explicava os mistérios sagrados e conferia o grau iniciático. Designado entre os Querices pelo mesmo método que o Hierofante, o Daduco, que significa "o portador de tocha", o segundo em dignidade, tinha a função sagrada de carregar os dois fachos de Demeter. Também da mesma família e escolhido de maneira semelhante, o Hieroquérix, o Arauto Sagrado, anunciava os Mistérios. Na família dos Filidas era escolhida vitaliciamente a Sacerdotisa de Demeter, igual ou ainda maior em dignidade que o Hierofante e que com o mesmo celebrava o rito do hieròs gámos, o casamento sagrado.
As grandes cerimônias de Elêusis tinham como prólogo os Pequenos Mistérios, que se realizavam uma vez por ano, de 19 a 21 -297- do mês Antestérion (fins de fevereiro e começo de março), em Agra, subúrbio de Atenas, localizado na margem esquerda do rio Ilisso. Os ritos dos Pequenos Mistérios, que se celebravam no templo de Demeter e Core, compreendiam, segundo se crê, jejuns, purificações e sacrifícios, orientados pelo mistagogo.
Acredita-se que nessa mýesis, uma espécie de pré-iniciação, alguns aspectos do mitologema de Demeter e Perséfone fossem mimados, reatualizados e ritualizados. Seis meses depois, no mês Boedrómion (mais ou menos 15 de setembro a 15 de outubro), realizavam-se os prelúdios em Atenas e a parte principal em Elêusis, os Grandes Mistérios, para os que houvessem cumprido em Agra os ritos preliminares. Somente no Santuário de Elêusis é que se podia obter a iniciação em primeiro e segundo graus. O primeiro grau denominava-se (teleté), vocábulo cuja origem é o verbo teleîn (telêin), "executar, realizar, cumprir", de onde teleté vem a ser "cumprimento, realização". A maioria, acredita-se, parava no primeiro grau. O segundo, o grau completo, supremo, acessível tão-somente aos já iniciados há um ano, chamava-se (epopteía), do verbo (epopteúein), "observar, contemplar", de onde epoptéia seria a visão suprema, a revelação completa. Poucos conseguiram atingir esse grau.
O prelúdio dos Grandes Mistérios ainda se passava no Eleusínion, o templo de Demeter e Core em Atenas. No dia 13 de Boedrómion, os Efebos (jovens de 16 a 18 anos) partiam para Elêusis e de lá traziam, no dia 14, sobre um carro, cuidadosamente guardados em pequenos cestos, os hierá, os objetos sagrados, que a sacerdotisa de Atena recolhia e guardava temporariamente no Eleusínion. No dia 15, os Iniciados se reuniam e, após as instruções do mistagogo, o hieroquérix, o arauto sagrado, relembrava as interdições que impediam a iniciação. O dia 16 era consagrado à ilustração geral: ao grito repetido do mistagogo, ”alade, (hálade, mystai), "ao mar, os iniciados", todos corriam a purificar-se nas águas salgadas de Posídon. Cada um mergulhava, segurando um leitão que era, logo após, imolado às Duas Deusas como oferenda propiciatória. É importante lembrar que tal sacrifício visava, antes do mais, à fecundidade, porquanto a palavra grega (khoîros) significa tanto porco quanto órgão genital feminino. Nos dias 17 e 18 havia uma interrupção nos ritos preliminares, pelo menos desde o século V a.e.c. porque, nessas datas, se celebrava a grande festa de Asclépio. O dia 19 assinalava o término das cerimônias públicas: ao alvorecer, uma enorme procissão partia de Atenas. Iniciados, neófitos e um grande público acompanhavam as sacerdotisas que -298- reconduziam a Elêusis os hierá, os objetos sagrados, trazidos pelos efebos no dia 14.
Encabeçando a alegre e barulhenta procissão, ia um carro com a estátua de Iaco, com seu respectivo sacerdote, entre exclamações entusiastas de (Íakkhe, ó Íakkhe), "Iaco, ó Iaco!"[3] Personificando misticamente a Baco, Iaco é o avatar eleusínio de Dioniso, aquele que, em As Rãs[4], os iniciados convidam a dirigir seus coros, o companheiro e o guia que conduz até Demeter, aquele que perfaz e ajuda a perfazer a longa caminhada de aproximadamente vinte quilômetros. Estrabão (66 a.e.c-24 e.c.) chama-o o daímon da deusa e o cabeça dos Mistérios. Ao cair da tarde, a procissão atravessava uma ponte, (guéphyra), sobre o rio Cefiso, e alguns mascarados diziam os piores insultos contra as autoridades, contra pessoas importantes de Atenas e contra os próprios Iniciados. Tais injúrias na ponte denominavam-se (guephyrismoí).[5] Já, à noite, empunhando archotes, os mystai atingiam Elêusis. É bem possível que consumissem uma parte da noite dançando e cantando em homenagem às Duas Deusas. O dia 20 era consagrado a rigoroso jejum e a sacrifícios, mas o que se passava no interio do recinto sagrado e no (telestérion), local do santuário, onde se consumavam os mistérios, quase nada se conhece. Sabe-se, apenas, que a teleté, a iniciação em primeiro grau, que ocupava o dia 21, comportava possivelmente três elementos: (drómena), (legómena) e (deiknýmena). O primeiro, drómena, era uma ação, talvez uma encenação do mitologema das deusas: de archotes em punho, os Iniciados mimavam a busca de Core por Demeter. Há uma passagem muito significativa conservada por Estobeu (450-500 e.c.), na qual se diz que as experiências por que passam as almas, logo após a morte, se comparam às provações dos Iniciados nos Grandes Mistérios. De princípio, a alma erra nas trevas e é presa de inúmeros terrores. Repentinamente, porém, é atingida pelo impacto de uma luz extraordinariamente bela e descortina sítios maravilhosos, ouve vozes melodiosas e assiste a danças cadenciadas, como nos versos há pouco citados de As Rãs. Aliás, tudo bem parecido com o Bardo Thödol.
O Iniciado com uma coroa sobre a fronte junta-se aos homens puros e justos e contempla os não-iniciados mergulhados na lama e -299- nas trevas, apegados às próprias misérias pelo medo da morte e suspeita da felicidade que os aguarda na outra vida! Nos drómena, na ação mimética da busca desesperada da filha por Demeter, os Iniciados, segundo se crê, tinham igualmente uma caminhada pelas trevas com encontro de fantasmas aterradores e monstros, mas subitamente descia sobre eles um facho de luz e vastas campinas se abriam ante seus olhos.
Comentando esse fato, o grande conhecedor da história das religiões antigas, Mircea Eliade, argumenta que esse "iluminismo" e essas planícies inundadas de luz são reflexos tardios de "concepções órficas" e reforça seu ponto de vista, citando o Fédon, 69c, onde Platão afirma que as punições dos culpados no Hades e a imagem da campina procedem de Orfeu, "que se inspirara nos costumes funerários egípcios". Vai mais longe o Autor de Mito e Realidade, mostrando que, se nas escavações que se fizeram no Santuário de Demeter e no Telestérion, não se encontraram câmaras subterrâneas, é sinal de que os Iniciados não desciam ritualmente ao Hades. Na nota de rodapé, no entanto, como que em dúvida, o Autor explica que "isso não exclui a presença do simbolismo infernal", porque, se não havia "câmaras subterrâneas, existia o Plutónion, isto é, uma gruta de Plutão, que assinalava a entrada para o outro mundo".[6]
Dada a autoridade do romeno Mircea Eliade, esperamos que o juízo por ele emitido não seja definitivo. É que, se a citação conservada por Estobeu, que, em última análise, procede de Temístio (século IV e.c.), é realmente tardia, embora Platão (430-348 a.e.c.) já fale da "campina de Orfeu", é bom deixar claro que os Mistérios de Elêusis não se mantiveram imunes a influências, no decurso de dois mil anos, e que a presença do Órfico-Dionisismo é fato consumado no Santuário de Deméter, ao menos a partir do século VI a.e.c., o que não é tão tardio assim! De outro lado, para se descer à outra vida e da mesma retornar não há necessidade, em iniciação, de câmaras subterrâneas materiais. Afinal, a escada de Jacó estava armada apenas com degraus oníricos... E havia o Plutónion!
O segundo aspecto diz respeito aos legómena, a saber, determinadas fórmulas litúrgicas e palavras reservadas aos Iniciados, fórmulas e palavras que eles certamente repetiriam, daí a necessidade de saber grego. -300-
Não se pode e nem se deve interpretar legómena como um ensinamento catequético, doutrinal, mas antes como o despertar de certos sentimentos e a criação de um certo estado anímico. A este respeito, Aristóteles nos deixou um fragmento precioso (Rose, fr. 15): "não é necessário que aqueles que se iniciam aprendam algo, mas que experimentem e criem certas disposições internas".
O terceiro e último componente da teleté são os deiknýmena, vocábulo que só se pode traduzir por "ação de mostrar ou o que é mostrado". Trata-se, segundo se crê, de uma contemplação por parte dos Iniciados, dos hierá, dos objetos sagrados. O Hierofante penetrava no Telestérion e de lá trazia os hierá, envoltos num nimbo de luz e que eram mostrados aos mystai. Dentre esses objetos sagrados destacava-se, conforme se relata, um ksóanon, uma pequena estátua de Demeter, confeccionada de madeira, e ricamente ornamentada. Mas existe ainda uma passagem muito discutida de São Clemente de Alexandria (século III e.c.), que possivelmente se referia aos deiknýmena. Eis o texto, que está em Protréptico, II, 21, 2: "Fiz jejum, bebi o cíceon, tomei o cesto e, depois de havê-lo manuseado, coloquei-o dentro do cestinho; em seguida, pegando novamente o cestinho, recoloquei-o no cesto". Esta referência de São Clemente de Alexandria tem recebido inúmeras interpretações. Vamos sintetizá-las e reduzi-las a seis. O cestinho conteria a réplica de uma kteís, de uma vulva: tocando-a, o Iniciado acreditava renascer como filho de Demeter. Esse tirar do cesto para o cestinho e vice-versa simbolizariam a união sexual do Iniciado com a deusa: o mýstes unia-se a Demeter, tocando o kteís com seu órgão sexual. O objeto sagrado guardado na cesta seria um falo: apertando-o contra o peito, o mýstes unia-se à deusa e se tornava seu filho. Para outros, o cestinho conteria um falo e o cesto uma vulva: ao manuseá-los, o Iniciado consumava sua união com as deusas. Tanto o cesto quanto o cestinho guardariam uma serpente, uma romã e bolos em forma de falo e vulva, como representações supremas da fecundidade. Manuseando-os, provocava-se a fertilidade. Qual a correta? Talvez a melhor resposta seria dizer que se trata de uma excelente exegese histórico-religiosa, digna das tertúlias dos frades de Bizâncio!
Uma interpretação mais moderna, independentemente dos hierá tão cuidadosamente guardados nos cestos, é que eles seriam objeto de uma apresentação, de mostra (deiknýmena) e não de manipulação. -301- Finalmente, o dia 22 era consagrado à epoptéia, à visão suprema, à consumação dos Mistérios. A grande cerimônia se iniciava com o hieròs gámos, o casamento sagrado, material ou simbolicamente consumado pelo hierofante e a sacerdotisa de Demeter. Astério, bispo que viveu no século V e.c., nos deixou uma informação valiosa a esse respeito. Astério volta a falar de uma câmara subterrânea mergulhada nas trevas, onde, após se apagarem as tochas, se consumava o hieròs gámos entre o hierofonte e a sacerdotisa e acrescenta que "uma enorme multidão acreditava que sua salvação dependia daquilo que os dois faziam nas trevas". É claro que, sendo os Mistérios de Elêusis solidários de uma mística agrícola, a sacralidade da atividade sexual simbolizava a fecundidade.
Seria após esse hieròs gámos que os Iniciados, olhando para o céu, diziam em altas vozes: "Chova" e, olhando para a terra, exclamavam: "conceba". A mensagem da fertilidade é tão clara, que dispensa comentários.
Seria ainda como extensão e conseqüência do consórcio sagrado, que, consoante Santo Hipólito (século II-III e.c.), em sua obra monumental, Philosophúmena ou Omnium haereseum refutatio (V, 38-41), "durante a noite, no meio de um clarão deslumbrante, que comemora os solenes e inefáveismMistérios, o hierofante gritava: a venerável Brimo gerou Brimos, o menino sagrado: a Poderosa gerou o Poderoso".
Embora Brimo e Brimos sejam certamente vocábulos de origem trácia, Brimo, no caso em pauta, designaria Perséfone, e Brimos, o Iniciado. Kerényi opina que a proclamação do hierofante significa que a deusa da morte gerou um filho no fogo.[7] Esse filho "nascido" ou "renascido" em meio às chamas dos archotes, que iluminavam o Telestérion, seria o mýstes, após sua morte iniciática.
Fechando os Grandes Mistérios, em meio a um mar de luz de milhares de archotes, que davam ao Santuário de Demeter uma imagem antecipada das campinas celestes, se efetuava a epoptéia propriamente dita, a grande visão. O hierofante apresentava à multidão como que embevecida e extática, mergulhada em profundo silêncio, uma espiga de trigo. Este talvez seja o símbolo da grand,mensagem eleusínia, símbolo que se fundamenta no liame entre o seio materno e as entranhas profundas da Terra-Mãe. A significação religiosa da espiga de trigo reside certamente no sentimento natural de uma -302- harmonia entre a existência humana e a vida vegetal, ambas submetidas a vicissitudes semelhantes: a terra que sozinha tudo gera, nutre e novamente tudo recebe de volta, diz Ésquilo na Oréstia, 127sq. Morrendo no seio da terra, os grãos de trigo, por sua própria dissolução, configuram uma promessa de novas espigas. O trigo, como qualquer cereal, tem uma morte fértil, como diz Kerényi.
Talvez se pudesse fazer um cotejo com as palavras de Cristo a respeito desse mesmo grão de trigo:
Amen, amen dico uobis, nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet: si autem mortuum fuerit, multum fructum adfert (Jo 12,24):
"Em verdade, em verdade, vos digo que, se o grão de trigo, que cai da terra, não morrer, fica infecundo; mas, se morrer, produz muito fruto".
A mesma idéia é repetida por São Paulo, 1Cor 15,36.
Ao terminar uma síntese como esta sobre os Mistérios de Elêusis, fica-se, melancolicamente, num grande vazio. Muita história e estória; mitologia abundante; uma pletora de nomes e de etimologias; citações e mais citações; hipóteses e só hipóteses. Sobre o rito, nem uma palavra. Os Mistérios de Elêusis foram, realmente, um grande mistério. O verbo mýein, fonte de mystérion significa "calar a boca" e também "fechar os olhos": o grande segredo foi certamente sepultado no silêncio e nas trevas de cada Iniciado.
Talvez a razão esteja com Plutarco: "O segredo por si só aumenta o valor daquilo que se aprende".
Por seu relacionamento com a filha Perséfone, deusa ctônia, e com Triptólemo, o mensageiro da cultura do trigo, Demeter se revela a grande deusa das alternâncias de vida e de morte, que regularizam o ciclo da vegetação e de toda a existência. A deusa de Elêusis simboliza uma fase capital na organização da terra: a passagem da natureza bruta à cultura, da selvageria à civilização. Os símbolos sexuais que intervêm no curso da iniciação evocam não só a fecundidade da união sexual, mas sobretudo uma garantia para o mýstes de uma regeneração numa outra vida de luz e de felicidade.
Para Paul Diel, Perséfone seria o símbolo supremo da repressão e o sentido secreto dos Mistérios de Elêusis consistiria na descida ao inconsciente, com o propósito de liberar o desejo reprimido e procurar a verdade com vistas a si mesmo, o que pode ser a mais bela das conquistas. Demeter, que deu aos homens o pão, símbolo do alimento espiritual, lhes dará igualmente o sentido verdadeiro da vida: a liberação com respeito a toda exaltação, bem como a -303- qualquer repressão. A deusa se afirmaria, desse modo, como símbolo dos desejos terrestres justificados, encontrando satisfação graças ao esforço engenhoso do intelecto-servidor, o qual, cultivando a terra, permanece acessível ao apelo do espírito.[8]
De qualquer forma, o nume tutelar de Elêusis, matriz espiritual e material, é bem diferente de Hera, esposa de Zeus. Demeter não é a luz, mas o caminho para a luz, o archote que ilumina o caminho.
Perséfone é o grão que morre, para renascer mais jovem, forte e belo e, por isso mesmo, ela é Core, a Jovem. Poderia simbolizar o próprio neófito, que morre na iniciação, para renascer para uma vida que não terá fim.
A permanência de Perséfone no Hades, que seria para sempre, foi reduzida para quatro meses, por concessão especial de Hades. É que a jovem esposa, embora a contragosto e forçada, comera lá embaixo uma semente de romã. Vamos ouvi-la:
Hades colocou dissimuladamente em minha mão um alimento doce e açucarado, uma semente de romã, e, contra a minha vontade, usando de força, ele me obrigou a comê-la. (Hh D. 411-413)
O simbolismo da romã se insere em outro de caráter mais geral, o dos frutos com muitas sementes, como a laranja, abóbora e cidra... Trata-se, essencialmente, de um símbolo de fecundidade, de posteridade numerosa. Na Grécia, a romã era um atributo da deusa Hera e de Afrodite e, em Roma, o penteado das mulheres casadas era feito com entrelaçamento de ramos tenros de romãzeira. Na Ásia, a imagem de uma semente aberta de romã expressa o desejo, quando não a própria vulva. Daí o dizer-se por lá que a semente se abre e deixa vir cem filhos. Na Índia, as mulheres bebiam o suco de sementes de romã para combater a esterilidade. Perséfone foi coagida a comer a semente doce da romã, que Hades astutamente lhe colocara na mão: é que esta semente, consagrando quem a come aos deuses infernais, é símbolo de uma doçura maléfica. Tendo-a comido, Perséfone passará, e assim mesmo por "generosa anuência" de Zeus e de Hades, um terço do ano nas trevas brumosas do Hades e os outros dois em companhia dos Imortais. No contexto do mito, a semente de romã poderia significar que Perséfone deixou-se -304- sucumbir pela sedução e mereceu o castigo de passar quatro meses nas trevas.
De outro lado, comendo a semente da romã, ela quebrou o o jejum, que era a grande lei do Hades. Quem aí comesse fosse o que fosse não mais poderia regressar ao mundo dos vivos.
Os sacerdotes e sacerdotisas de Demeter, em Elêusis, se coroavam com ramos de romãzeira, mas nenhum Iniciado podia, em hipótese alguma, comer-lhe o fruto, porque, símbolo da fecundidade, possui a faculdade de fazer com que as almas mergulhem no cárcere do corpo.
A semente de romã, que condenou Perséfone às trevas, por uma contradição aparente do símbolo, condenou-a também à esterilidade. Paradoxo realmente aparente, porque a lei permanente do Hades prevalece sobre o prazer efêmero de haver ela saboreado uma doce semente de romã.
Dois pontos se devem destacar nessa desdita de Perséfone, que comeu, e à força, uma semente de romã. O primeiro é o poder de fixação que possuem, em muitas culturas, determinados alimentos e o segundo, a repressão exercida pelo homem sobre a mulher, através da alimentação.
É conhecida a força mística do alimento como fixação ou retorno obrigatório a determinado lugar. Câmara Cascudo diz que o ato de comer desliga de um país para outro, "como documento de naturalização indiscutido" e acrescenta que a iguaria tem uma potência mágica detentora. "Quem come e bebe certos alimentos ou líquidos não pode esquecer ou deixar de regressar aos lugares onde os consumiu".[9] O folclore universal, incluindo o brasileiro, nos fornece uma lista deveras extensa de alimentos e bebidas com alto poder de retenção. Entre estes se alinham o cabrito assado do Cáucaso, o "puchero" da Argentina, a "olla podrida" da Espanha, o "porridge" da Escócia, o iogurte da Bulgária, o pato de Rouen, o "Coq au vin du Languedoc", o vatapá e o caruru da Bahia. . . A água da fonte Trevi em Roma é um convite a que se retorne à Cidade Eterna. O assai de Belém do Pará retém por lá a quem dele bebeu: -305-
Quem vai ao Pará, parou. Bebeu assaí, ficou.
Francisco A. Pereira da Costa assinala com muita precisão o liame estabelecido pelo alimento entre esta e a outra vida: "O recém-nascido que não foi amamentado e morre batizado, não participando, portanto, de coisa alguma deste mundo, é um serafim, anjo da primeira hierarquia celestial, e vai imediatamente para as suas regiões ocupar um lugar entre seus iguais; o que receber amamentação e as águas do batismo é simplesmente um anjo, porém antes de entrar no céu passa pelo Purgatório para purificar-se dos vestígios da sua efêmera passagem pela terra, expelindo o leite com que se amamentou".[10]
Nas cerimônias religiosas do casamento na Grécia e em Roma, a fixação do casal no novo lar dependia, entre outros ritos, da degustação do bolo nupcial. O fecho da cerimônia, (tò télos), "término, fim", simbolizava a mudança de lar e a fixação da noiva em seu novo domicílio, mas o ato representativo dessa transferência era comer com o noivo um pedaço de um bolo especial feito de gergelim e mel, bem como um marmelo ou tâmara, símbolos estes últimos da fecundidade.
Na velha Roma, após as duas primeiras partes da cerimônia, que se denominavam, respectivamente, traditio, que é a entrega da noiva ao marido, e deductio in domum mariti, ida da noiva para a casa do esposo, seguia-se a confarreatio, que os dicionários traduzem por "forma solene de casamento romano", mas que, por extensão, se constituía na cerimônia básica do mesmo: consistia em se comer um bolo de farinha de trigo (far, farris) em comum, como símbolo de permanência. É claro que os bolos de casamento ainda continuam como símbolo do primeiro ato da vida em comum e doméstica da noiva, que, doravante, passaria a mostrar suas aptidões também culinárias...
Os banquetes fúnebres, falamos sobretudo de Roma, possuíam, igualmente, entre outros, esse aspecto de fixação e permanência do morto no seio da família, uma vez que este se transformava em deus Lar. Os di Lares, ou simplesmente Lares, eram espíritos tutelares, as almas dos mortos, encarregados de proteger a casa, donde sua permanência na mesma era absolutamente indispensável. A refeição fúnebre, para que a fixação fosse realmente efetiva, se repetia no nono dia, no trigésimo e, ao que parece, um ano após o óbito. -306-
Na Idade Média havia um costume, pelo menos em Florença, extremamente curioso e que atesta o poder do alimento como vínculo social. Se o assassino conseguisse tomar uma sopa de pão e vinho sobre o túmulo de sua vítima no decorrer dos nove primeiros dias após o crime, a família do morto não poderia mais exercer o direito da clássica vendetta, segundo a alusão de Dante: [11]
Sappi che' l vaso che' l serpente ruppe fu e non è; ma chi n ha colpa creda che vendetta di Dio non teme suppe:
"Principia por saber que o carro profanado há pouco pelo dragão já não está como foi, e se convença o malfeitor de que à justiça divina nenhuma sopa se antepõe".
Perséfone foi obrigada a comer a semente de romã e, com isso, sendo esta símbolo da fertilidade, a jovem ficou presa ao marido.
Fizemos um esboço de pesquisa sobre alimentação e sexualidade e não julgamos fora de propósito aproveitá-la aqui, uma vez que a semente de romã, como alimento e como símbolo, está estreitamente ligada à sexualidade e à repressão, no caso em tela, de Hades sobre Perséfone.
Deve existir uma ligação biológica e real entre alimentação e sexualidade. Logo de saída, o ser, durante os nove meses de gestação, vive no seio materno, alimentando-se de sua substância e, uma vez nascido, nutre-se do leite materno. A analogia da mama com o ato sexual parece clara: "Trata-se, em ambos os casos, de um fenômeno de tumescência"; e, como acentua Havelock Ellis: "A mama inchada corresponde ao pênis em ereção; a boca ávida e úmida da criança corresponde à vagina palpitante e úmida; o leite, vital e albuminoso, representa o sêmen, igualmente vital e albuminoso. A satisfação mútua, completa, física e psíquica da mãe e da criança, pela passagem de um para o outro de um líquido orgânico e precioso, é uma analogia fisiológica verdadeira com a relação entre um homem e uma mulher no ponto culminante do ato sexual".[12]
"A semelhança de conformação entre as extremidades orais e vaginais, como observa Roger Caillois, numa parte do mundo -307- animal, é um fato devidamente estudado".[13] Eis por que, muitas vezes, o desejo sexual é encarado como um aspecto da necessidade de alimentação. O próprio comportamento normal do ser humano atesta uma característica que representa o liame entre alimentação e sexualidade: "a dentada de amor", por parte da mulher, no momento do coito. Refere-se o fato, ao que tudo indica, a um comportamento instintivo, sem nenhum caráter sádico. Tratar-se-ia, apenas, e inconscientemente, de um ato simbólico de devorar o macho.
Essa ligação biológica, primária, entre alimentação e sexualidade explica, num certo número de espécies animais, o fato de o macho ser devorado pela fêmea, como o louva-a-deus e a borboleta, por exemplo, logo após o coito.
No ser humano subsistem traços acentuados dessa convergência de instintos. No fundo, o homem receia ser devorado pela mulher. É o interior da vagina dentada, identificada com a boca, suscetível, por isso mesmo, de cortar o membro viril, no momento da penetração. O desenho da coletânea de poemas de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, que estampa uma mulher com a epígrafe Ouaerens quem devoret, "buscando a quem devorar", é muito sugestivo a esse respeito.
Trata-se, ao que parece, do complexo de castração. E é tal esse temor, que, na primeira noite de núpcias, nas culturas primitivas, o noivo era ou ainda é substituído por um estrangeiro, um prisioneiro de guerra ou por uma personagem importante, como o sacerdote ou o rei. As duas primeiras classes eram escolhidas em função de seu pouco ou nenhum apreço e as duas últimas pelo fato de o sacerdote e o rei serem portadores da aura sagrada, não correndo, por isso mesmo, nenhum risco.
Explica-se, desse modo, o hábito que perdurou na França, até o século XIII, do célebre Le Droit de la cuissage du Seigneur, ou seja, o direito da coxa do senhor, em que o rei, deflorando a noiva, dizia-se, prodigalizava às mulheres a fertilidade, bem como contribuía poderosamente para a prosperidade do rebanho e para colheitas abundantes. Como se vê, sexualidade ligada à alimentação. Aliás, o verbo comer em nossa língua tem, além de seu sentido normal, uma conotação chula.
Os maridos romanos, no ato do defloramento, invocavam aos gritos a deusa protetora Pertunda (nome proveniente de pertundere, -308- varar de um lado a outro), conforme atesta, entre outros, Santo Agostinho, De Ciuitate Dei, 6, 9, 3,[14] Por que tanta precaução e medo? Primeiramente, o claro temor do fracasso, o complexo de castração, daí a presença de tantos "ajudantes", e depois o perigo que representava o sangue do hímen, que era tido como perigoso e nefasto.
O Rigveda, X, 85, 28, 34, considera como venenosa qualquer peça ensangüentada da noite de núpcias. O sangue do hímen é identificado com o catamênio, que afasta a mulher menstruada do convívio social, tornando-se a mesma tabu. Sempre presente o complexo de castração.
No mito são muitas as figuras femininas devoradoras, cuja projeção é a Giftmädchen, quer dizer, a donzela venenosa: Lâmia, as Harpias, Empusa, Esfinge, as Danaides, as Sereias... E não é este também, em última análise, o sentido do mito de Pandora, que trouxe como presente de núpcias a Prometeu uma jarra ou uma caixinha, que, aberta, deu origem a todas as desgraças que pesam sobre os homens?
Ora, caixa, caixinha, em grego diz-se pyksís, pyksídos que o latim clássico simplesmente transcreveu por pyxis, -idis. Do acusativo singular do latim popular buxida, de buxis, simples alteração de psyxis, -idis, temos o francês boiste e depois boîte, caixa, cofre pequeno e trabalhado e também cavidade de um osso, bem como o português arcaico boeta e o clássico boceta, caixinha redonda, oval ou oblonga que, na linguagem chula, passou a ter também o sentido de vulva.
Para ficarmos apenas na Grécia, poder-se-ia ainda citar o nascimento do segundo Dioniso: Sêmele ficou grávida "de Zeus", porque devorou o coração de Zagreu, o primeiro Dioniso, consoante o mito órfico.
Parece realmente que o mito da fêmea devoradora é um mecanismo de defesa arquitetado pelo homem. É a "liquidação de um -309- complexo por um mecanismo semelhante": similia similibus curantur, os semelhantes curam-se pelos semelhantes. Trata-se de uma autodefesa do macho.
Talvez a atividade sexual da mulher castre o homem. "O medo de ser enfraquecido pela mulher e sua estratégia sexual", a lassidão e uma certa fadiga que se seguem após o coito impediriam a realização de atos viris e até mesmo o sucesso nos empreendimentos e negócios a que se dedica o homem.
Luís da Câmara Cascudo colheu nos sertões nordestinos dois tabus muito apropriados ao que vimos expondo: "cangaceiro andou com mulher, abriu o corpo"[15], quer dizer, perdeu sua proteção mágica, enfraqueceu-se. E o segundo: "visita de mulher em manhã de segunda-feira dá liliu", ou seja, dá azar, "provoca desastres"... [16]
Otto Rank sintetizou bem o problema: "O desprezo que o homem afeta pela mulher é um sentimento que tem sua fonte na consciência, mas, no inconsciente, o homem teme a mulher".[17]
"O sistema patriarcal tende então a 'eliminar a mulher', transformando em tabu qualquer tipo de aproximação. Nesse sentido, a nutrição é ligada inconscientemente à mãe".[18]
Afinal, a mulher é hipóstase da Terra-Mãe, matriz dos alimentos e é da "carne e sangue" da mulher que se nutre o feto durante nove longos meses. Tudo isso explicaria as restrições alimentares que incidem como tabu sobre a mesma, principalmente quando gestante, de resguardo ou menstruada.
"Um levantamento realizado no Espírito Santo, de 1957 a 1962, mostra que a gestante não deve comer: carne-seca com polenta, fígado de boi ou vaca, feijão com arroz, 'papa' de polenta, aipim, inhame, pimenta, repolho, abacaxi, jaca, melancia, manga quente do sol, além do mais, não pode comer fora de hora".[19] Ovo é expressamente proibido à mulher de resguardo: a alimentação ideal, nestas circunstâncias, é carne de galinha, com pouco tempero. Queijo é perigoso: faz que a mãe ou a criança, ainda em período de mama, fique "esquecida"...
No fundo, o patriarcado "vinga-se" do complexo de castração. Uma simples semente de romã torna-se, destarte, um símbolo bastante sugestivo. -310-

Tem razão Mircea Eliade, ao afirmar que “parece impossível escrever sobre Orfeu e o Orfismo sem irritar certa categoria de estudiosos: quer os céticos e os ‘racionalistas’, que minimizam a importância do Orfismo na história da espiritualidade grega, quer os admiradores e os ‘entusiastas’, que nele vêem um movimento de enorme alcance”.
Falar de Orfismo é, no fundo, descontentar a gregos e troianos. Apesar dos pesares, vamos nós também entrar na guerra… Na realidade, o Orfismo é um movimento religioso complexo, em cujo bojo, ao menos a partir dos séculos VI-V a.e.c., se pode detectar uma série de influências (dionisíacas principalmente, pitagóricas, apolíneas e certamente orientais), mas que, ao mesmo tempo, sob múltiplos aspectos, se coloca numa postura francamente hostil a muitos postulados dos movimentos também religiosos supracitados. Embora de maneira sintética, porque voltaremos obrigatoriamente ao assunto mais abaixo, vamos esquematizar as linhas básicas de oposição entre Orfeu e os princípios religiosos preconizados por Dioniso, Apolo e Pitágoras.
Se bem que o profeta da Trácia se considere um sacerdote de Dioniso e uma espécie de propagador de suas idéias básicas, de modo particular no que se refere ao aspecto orgiástico, bem como ao êxtase e ao entusiasmo, quer dizer, à posse do divino, o Orfismo se opõe ao Dionisismo, não apenas pela rejeição total do diasparagmós e da omofagia, porquanto os órficos eram vegetarianos, mas sobretudo pela concepção “nova” da outra vida, pois, ainda que a religião dionisíaca tente expressar a unidade paradoxal da vida e da morte, não existem na mesma referências precisas à esperança escatológica, enquanto a essência do Orfismo é exatamente a soteriologia. Acrescente-se a tudo isto que, enquanto o êxtase dionisíaco se manifestava de modo coletivo, o órfico era, por princípio, individual.
Curioso é que Orfeu era conhecido como “o fiel por excelência de Apolo” e até mesmo, numa variante do mito, passava por filho de Apolo e de Calíope. Sua lira teria sido um presente paterno e a grande importância que os órficos atribuíam à kátharsis, à purificação, se devia ao deus de Delfos, uma vez que esta é uma técnica especificamente apolínea. A bem da verdade, somente a última afirmação é exata: os órficos realmente se apossaram da kátharsis apolínea, ampliando-a, no entanto, aperfeiçoando-a e sobretudo “purificando-a” de suas conotações políticas. No tocante “à fidelidade e à filiação” de Orfeu, ambas expressam a investida dos sacerdotes de Delfos de se “apossarem” também de Orfeu, como, em grande parte, já o haviam feito com Dioniso, ” apolinizando-o” e levando-o para o Olimpo.
A catequese apolínea, todavia, não surtiu efeito com o filho de Calíope, porque nada mais antagônico que Orfeu e Apolo. Este, “exegeta nacional”, comandou a religião estatal com mão-de-ferro, freando qualquer inovação com base no métron traduzido no conhece-te a ti mesmo e no nada em demasia! Uma quase liturgia sem fé, a religião da pólis se resumia, em última análise, num festival sócio-político-religioso. Que prometia Apolo para o post mortem? Quais as exigências éticas e morais da religião oficial? Que se celebrassem condigna e solenemente as festas religiosas… E depois? Talvez a resposta tenha sido dada bem mais tarde por Quinto Horácio Flaco: puluis et umhra sumus, somos pó e sombra! Pó e sombra, nada além da triste escatologia homérica, que a religião estatal, opressora e despótica teimava em manter sob a égide de Apolo. E até mesmo a kátharsis apolínea visava primariamente à purificação do homicídio, ao passo que os órficos purificavam-se nesta e na outra vida com vistas a libertar-se do ciclo das existências.
A religião apolínea era o bem viver; a órfica, o bem morrer. Fundamentando-se numa singular antropologia, numa inovadora teogonia e em novíssima escatologia, o Orfismo aprendeu a reservar as lágrimas para os que nasciam e o sorriso para os que morriam… Entre o Pitagoricismo e o Orfismo, do ponto de vista religioso, há, efetivamente, semelhanças muito grandes: o dualismo corpo-alma; a crença na imortalidade da mesma e na metempsicose; punição no Hades e glorificação final da psiqué no Elísion; vegetarismo, ascetismo e a importância das purificações. Todas essas semelhanças levaram muitos a considerar erradamente o Orfismo como mero apêndice do Pitagoricismo, mas tantas analogias não provam, como acentua Mircea Eliade, “a inexistência do Orfismo como movimento autônomo”. É muito possível, isto sim, que certos escritos religiosos órficos sejam de cunho, inspiração ou até mesmo obra de pitagóricos, mas não teria sentido pensar ou defender que a antropologia, a teogonia, a escatologia e os rituais órficos procedam de Pitágoras ou de seus discípulos. Os dois movimentos certamente se desenvolveram paralela e independentemente. Mas, se existem tantas semelhanças entre ambos, as diferenças são também acentuadas, sobretudo no que tange ao social, à política, ao modus vivendi e ao aspecto cultural.
Os pitagóricos organizavam-se em seitas fechadas, de tipo esotérico. Movimento religioso de elite, talvez não fosse impertinente lembrar a obrigatoriedade Pitagórica do silêncio e da abdicação, por parte de seus seguidores, da própria razão em favor da autoridade do mestre. Consideravam a sentença de seu fundador como a última palavra, uma espécie “de aresto inapelável e expressão indiscutível da verdade”.
Depois (autòs éphe), ipse dixit, “ele falou”, não havia mais o que discutir. De outro lado, os pitagóricos eram homens cultos e dedicavam-se a um sistema de “educação completa”: complementavam suas normas éticas, morais e ascéticas com o estudo em profundidade da música, da matemática e da astronomia, embora todas essas disciplinas e normas visassem, em última análise, a uma ordem mística. Mircea Eliade sintetiza essa ciência Pitagórica de finalidade religiosa: “Entretanto, o grande mérito de Pitágoras foi ter assentado as bases de uma ‘ciência total’, de estrutura holística, na qual o conhecimento científico estava integrado num conjunto de princípios éticos, metafísicos e religiosos, acompanhado de diversas ‘técnicas do corpo’.
Em suma, o conhecimento tinha uma função ao mesmo tempo gnosiológica, existencial e soteriológica. É a ‘ciência total’, do tipo tradicional, que se pode reconhecer tanto no pensamento de Platão como entre os humanistas do Renascimento italiano, em Paracelso ou nos alquimistas do século XVI. O Pitagoricismo estava, ademais disso, voltado para a política. É sabido que “sábios pitagóricos” detiveram o poder, durante algum tempo, em várias cidades do sul da Itália, a Magna Graecia.
O Orfismo, ao contrário do Pitagoricismo, era um movimento religioso aberto, de cunho democrático, ao menos na época clássica, e, embora contasse em seu grêmio com elementos da elite, jamais se imiscuiu em política e tampouco se fechou em conventículos de tipo esotérico. Se bem que o Papiro Derveni, datado do século IV a.e.c. e descoberto em 1962, perto da cidade de Derveni, na Tessalonica, dê a entender que, em época remota, já que o papiro é um comentário de um texto órfico arcaico, os seguidores de Orfeu se reuniam ou se fechavam em verdadeiras comunidades, não se pode, no período histórico, afirmar a existência de seitas órficas, no sentido de “conventos” em que se trancassem.
Talvez o Orfismo fosse mais uma “escola”, uma comunidade, com seus mestres, que explicavam as doutrinas e orientavam os discípulos e iniciados na leitura da vasta literatura religiosa que o movimento possuía. Claro está que, com exceção do Papiro Derveni e das lamelas, de que se falará mais abaixo, os textos órficos de caráter “literário” que chegaram até nós são poucos e alguns de época bem recente, mas é necessário distinguir “a data da redação de um documento com a idade de seu conteúdo” e alguns dos escritos órficos pertencem inegavelmente a épocas bem tardias: uns pela data da redação, outros pelo conteúdo.
Feito esse ligeiro balanço das convergências e divergências entre dionisismo, apolinismo, orfismo e pitagoricismo, vamos, agora, dar uma idéia das datas de Orfeu, da antigüidade do Orfismo e de algumas possíveis influências sobre ele exercidas pelo Oriente.
Se Orfeu é uma figura integralmente lendária, o Orfismo é rigorosamente histórico. Enquanto Homero e Hesíodo iam dando forma poética às concepções religiosas do povo, havia na Hélade, desde o século VI a.e.c. ao menos, uma escola de poetas místicos que se autodenominavam órficos, e à doutrina que professavam davam-lhe o nome de Orfismo. Seu patrono e mestre era Orfeu. Organizavam-se, ao que tudo indica, em comunidades, para ouvir a “doutrina”, efetuar as iniciações e celebrar seu grande deus, o primeiro Dioniso, denominado Zagreu.
Abstendo-se de comer carne e ovos (princípios da vida), praticando a ascese (devoção, meditação, mortificação) e uma catarse rigorosa (purificação do corpo e sobretudo da vontade, por meio de cantos, hinos, litanias), defendendo a metempsicose (a transmigração das almas) e negando os postulados básicos da religião estatal, o Orfismo provocou sérias dúvidas e até transformações no espírito da religião oficial e popular da Grécia. Quando se diz, que Orfeu é um herói muito antigo, não se está exagerando. Se bem que o nome do poeta e cantor surja pela vez primeira no século VI a.e.c., mencionado pelo poeta Íbico, de Régio, (Onomaklytòs Orphén), “Orfeu de nome ilustre”, e ainda no mesmo século, o citaredo tenha seu nome, sob a forma (Orphas), gravado numa métopa do Tesouro dos Siciônios em Delfos, seus adeptos o consideravam anterior a Homero. Pouco importa que o profeta de Zagreu tenha “vivido” antes ou depois do poeta da Ilíada. Se seus seguidores assim o proclamavam, é porque acreditavam no fato ou porque desejavam enfatizar e também aumentar-lhe a autoridade, fazendo-o ancestral do próprio símbolo da religião oficial, e salientar a importância de sua mensagem religiosa, cujo conteúdo contrasta radicalmente com a religião olímpica. Uma coisa, porém, é inegável: certos traços da “biografia” de Orfeu e o conteúdo de sua mensagem possuem inegavelmente um caráter arcaizante e o que se conhece de uns e de outro bastaria para localizar o esposo de Eurídice bem antes de Homero. Como os xamãs, Orfeu é curandeiro, músico e profeta; tem poderes de encantar e dominar os animais selvagens; através de uma catábase do tipo xamânico desce ao Hades à procura de Eurídice; é despedaçado pelas Mênades e sua cabeça se conserva intacta, passando a servir de oráculo; e, mais que tudo, é sempre apresentado como fundador de iniciações e de mistérios. Mais ainda: embora se conheçam apenas “os atos preliminares” dos mistérios e das iniciações tidas como fundadas por Orfeu, como o vegetarismo, a ascese, a catarse, os (hieroì lógoi), ou seja, “os livros sagrados” que continham a instrução religiosa e particularmente as posições teológicas cifradas na antropogonia, na teogonia, na escatologia e na metempsicose, duas conclusões se impõem: primeiro, se bem que se desconheçam a origem e a pré-história de Orfeu e do Orfismo, ambos estão muito longe da tradição homérica e da herança mediterrânea; segundo, as características xamânticas de sua biografia e o conteúdo de sua mensagem, que se contrapõem por inteiro à mentalidade grega do século VI a.e.c. e à religião olímpica de Apolo, postulam para Orfeu e para o Orfismo uma época bem arcaica. R. Pettazzoni defende, se não a origem, pelo menos uma influência marcante da Trácia sobre o Orfismo: “Quaisquer que sejam suas mais remotas origens, um fato não se discute: o Orfismo se alimentou, desde cedo, de uma seiva religiosa proveniente da Trácia, e esta, por ter mantido o orgiasmo em sua espontaneidade natural, continuará a nutri-lo, graças às relações mais estreitas que, a partir do século VI a.e.c., Atenas começou a manter com o mundo bárbaro do Norte”. Não há dúvida de que não se podem negar certas influências traco-dionisíacas e sobretudo orientais sobre todo o Orfismo, mas alguns de seus ângulos, de modo especial a escatologia, parecem remontar a “uma herança comum imemorial, resultado de especulações milenares sobre os êxtases, as visões e os arrebatamentos, as aventuras oníricas e as viagens imaginárias, herança, por certo, diferentemente valorizada pelas diversas tradições”. No fundo, um arquétipo. Na Grécia, o mais notável representante do Orfismo e da poesia órfica foi o hábil versificador e imitador medíocre de Homero e Hesíodo, o célebre Onomácrito (século VI a.e.c.), sobre quem dizia Aristóteles, que “a doutrina era de Orfeu, mas a expressão métrica pertencia a Onomácrito”. Antes de passarmos aos três pontos altos da doutrina órfica, vamos estampar, a título de conclusão de quanto se disse até agora, a admirável síntese do sábio e seguro professor sueco, Martin P. Nilsson, acerca do Orfismo e de sua significação religiosa: “O Orfismo é o compêndio e, ao mesmo tempo, o coroamento dos agitados e complexos movimentos religiosos da época arcaica. A constituição de uma cosmogonia em sentido especulativo, com o encaixe de uma antropogonia que, antes do mais, pretende explicar a dupla natureza do homem, composta de bem e de mal; o ritualismo nas cerimônias e na vida; o misticismo na doutrina e no culto; a elaboração de idéias acerca de uma vida no além, plástica e concreta, bem como a transformação do inferno em um lugar de castigo por influxo da exigência de reparação, segundo a idéia antiga de que a vida no outro mundo é uma repetição da existência sobre a terra. Tudo isto se pode constatar em outras partes, ao menos em esboço, mas a grandeza do Orfismo reside em ter combinado o todo numa estrutura harmônica. Sua realização genial foi situar o indivíduo e sua relação com a culpa e com a reparação da mesma no próprio âmago da religião.
Desde o início, o Orfismo se apresentou como uma religião de minorias seletas e, por isso mesmo, muitos se sentiram repelidos por seus ritos primitivos e pela grotesca e fantástica indumentária mitológica de suas idéias. A evolução seguiu depois outro caminho: o ar claro e fresco do grande auge nacional, que se seguiu à vitória sobre os persas, dissipou as trevas e fez que se tornasse vitoriosa a tendência do espírito grego para a claridade e beleza sensível.
O Orfismo mergulhou, então, como seita desprezada, nos estratos inferiores da população, onde continuou a vicejar até que os tempos novamente se transformassem e viesse abaixo a supremacia do espírito grego após meio milênio. Foi, então, que, mais uma vez, saiu à tona e contribuiu para a derradeira crise religiosa da antiguidade”
Os três pontos altos do Orfismo e sua mais séria contribuição para a religiosidade grega foram a cosmogonia, a antropogonia e a escatologia. Três inovações que hão de abalar os nervos da intocável religião olímpica.
Cosmogonia Órfica
A cosmogonia órfica que, sob alguns aspectos, segue o modelo da de Hesíodo, introduz novo motivo, aliás de caráter arcaico, já que se repete em várias culturas: o cosmo surgiu de um ovo. Mas não existe apenas este paradigma.., pois são três as tradições cosmogônicas transmitidas pelo Orfismo. A primeira delas está nas chamadas Rapsódias Órficas: Crono, o Tempo, gera no Éter, por ele criado juntamente com o Caos, o Ovo primordial, onde tem origem o primeiro dos deuses, Eros, também chamado Fanes, deus-criador, andrógino. Daí por diante a seqüência é a mencionada por Hesíodo, ao menos até Zeus. Fanes (Eros) é, pois, o princípio da criação, que gerou os outros deuses. Zeus, no entanto, engoliu a Fanes e toda a geração anterior, criando um novo mundo.
Observe-se que o tema da absorção é um fato comum em várias culturas. Crono devorara os filhos e o próprio Zeus engoliu sua esposa Métis, antes do nascimento de Atena.
O gesto de Zeus, no caso em pauta, é significativo na cosmogonia órfica: de um lado, patenteia a tentativa de fazer de um deus cosmocrata, isto é, de uma divindade, que conquistou o governo do mundo pela força, um deus-criador; de outro, reflete uma séria indagação o filosófica do século VI a.C, pois, como é sabido, o pensamento filosófico e religioso desta época preocupou-se muito com o problema do Um e do Múltiplo. Guthrie sintetiza bem essa indagação. Os espíritos religiosos do século VI a.e.c. se perguntavam com certa ansiedade: “Qual a relação existente entre cada indivíduo e o deus a que se sente aparentado? Como se pode realizar a unidade potencial implícita tanto no homem quanto no deus”? Por outra: “Qual a relação existente entre a realidade múltipla do mundo em que vivemos e a substância única e original de onde tudo procede”?
O ato prepotente de Zeus, por conseguinte, engolindo a Fanes e a todos os seres, simboliza a tentativa de explicar a criação de um universo múltiplo a partir da Unidade. O mito de Fanes, apesar dos retoques, tem uma estrutura arcaica e reflete certas analogias com a cosmogonia oriental, principalmente com a egípcio-fenícia. Como esta versão teogônica órfica é a mais conhecida e, talvez, a mais importante na história do Orfismo, vamos esquematizá-la:
A segunda tradição cosmogônica órfica é difusa e admite várias alternativas. Em resumo, reduz-se ao seguinte: Nix (Noite) gerou Urano (Céu) e Géia (Terra), o primeiro casal primordial, donde procede, como em Hesíodo, o restante da criação; ou Oceano, de que emergiu Crono (Tempo), que, mais tarde, gerou Éter e Caos; ou ainda Monás (UM) que gerou Éris (Discórdia), que, por sua vez, separou Géia de Oceano (Águas) e de Urano (Céu). A terceira e última tentativa órfica de explicar a origem do mundo foi recentemente revelada pelo já citado Papiro Derveni, em que tudo está centrado em Zeus.
Um verso de “Orfeu” (col. 13,12) afirma categoricamente que “Zeus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas”. Para Orfeu, Moîra (Destino) é o próprio pensamento de Zeus (col. 15, 5-7): “Quando os homens dizem: Moîra teceu, entendem que o pensamento de Zeus estipulou o que é e o que será, bem como o que deixará de ser”. Oceano (col. 18, 7-11) não é mais que uma hipóstase de Zeus, tanto quanto Géia (Deméter), Réia e Hera não passam de nomes diferentes de uma única deusa, quer dizer, de uma Grande Mãe.
Para explicar o ato criador do pai dos deuses e dos homens, o texto afirma, sem mencionar a parceira, que Zeus fez amor “no ar”, literalmente, “no alto, por cima”, nascendo então o mundo. A unidade da existência (col. 15, 1-3) é igualmente proclamada: “o lógos do mundo é idêntico ao lógos de Zeus”, donde se pode concluir com Heráclito que o nome que designa o “mundo” é “Zeus”. Como se pode observar, a cosmogonia órfica, particularmente a revelada pelo Papiro Derveni, caminhou a passos largos para uma tendência monista. Em conclusão: tomada em conjunto, a teogonia órfica possui elementos provenientes da Teogonia de Hesíodo, que influenciou quase todo o pensamento mitológico posterior respeitante ao assunto.
É assim que a Noite e o Caos tiveram importância considerável nos contextos órficos. Estes elementos circularam por meio de variantes arcaicas e tardias e acabaram sendo engastadas num complexo mitológico órfico e individual. Outras facetas da cosmogonia órfica, como o Tempo (Khrónos) e o Ovo dão mostras de que se conheciam pormenores do culto e da iconografia orientais. O Tempo, particularmente, trai sua proveniência oriental nos relatos órficos pela forma concreta com que se apresenta: uma serpente alada e policéfala. Tais monstros multidivididos são orientalizantes nas suas características, principalmente de origem semítica, e começam a surgir na arte grega por volta do século VIII a.e.c.
Antropogonia Órfica
A antropologia, ou melhor, a antropogonia órfica, tem como conseqüência o crime dos Titãs contra Zagreu, o primeiro Dioniso. Segundo se mostrou mais atrás, à p. 117-118, após raptarem Zagreu, por ordem de Hera, os Titãs fizeram-no em pedaços, cozinharam-lhe as carnes num caldeirão e as devoraram. Zeus, irritado, fulminou-os, transformando-os em cinzas e destas nasceram os homens, o que explica que o ser humano participa simultaneamente da natureza titânica (o mal) e da natureza divina (o bem), já que as cinzas dos Titãs, por terem devorado a Dioniso-Zagreu, continham igualmente o corpo do menino Dioniso.
O mito do nascimento do homem, a antropogonia, é muito mais importante no Orfismo do que a Cosmogonia. Platão (Leis, 3, 701 B) refere-se à antropogonia órfica, ao dizer que todos aqueles que não querem obedecer à autoridade constituída, aos pais e aos deuses, patenteiam sua natureza titânica, herança do mal. Mas cada ser humano, diz o filósofo ateniense, carrega dentro de si uma faísca de eternidade, uma chispa do divino, uma parcela de Dioniso, ou seja, uma alma imortal, sinônimo do bem. Em outra passagem (Crátilo, 400 C), alude à doutrina, segundo a qual o corpo é uma sepultura da alma durante a vida e acrescenta que os órficos chamam assim ao corpo, porque a alma está encerrada nele como num cárcere, até que pague as penas pelas culpas cometidas. A psiqué é a parte divina do homem; o corpo, sua prisão.
Apagava-se, destarte, no mapa religioso órfico, a tradicional concepção homérica que considerava o corpo como o homem mesmo e a alma como uma sombra pálida e abúlica, segundo se mostrou no Vol. I, p. 144-146. Uma passagem importante de Píndaro (Frg. 131 Bergk) permite-nos compreender melhor como foi possível essa mutação completa de valores. O corpo, diz o poeta tebano, segue a poderosa morte; a alma, porém, que procede apenas dos deuses, permanece. A alma, acrescenta, dorme, enquanto nossos membros estão em movimento, mas aquele, que a faz dormir, mostra-lhe em sonhos o futuro. Desse modo, se os sonhos são enviados pelos deuses e a alma é divina, é preciso libertá-la do cárcere do corpo, para que possa participar do divino, dos sonhos.
O homem, pois, tendo saído das cinzas dos Titãs, carrega, desde suas origens, um elemento do mal, ao mesmo tempo que um elemento divino, do bem. Em suma, uma natureza divina original e uma falta original e, a um só tempo, um dualismo e um conflito interior radical. Nos intervalos do êxtase e do entusiasmo, o dualismo parece desaparecer, o divino predomina e libera o homem de suas angústias. Essa bem-aventurança, todavia, passada a embriaguez do êxtase e do entusiasmo, se evapora na triste realidade do dia-a-dia. É bem verdade que a morte põe termo às tribulações, mas, pela doutrina órfica da metempsicose, de que se falará logo a seguir, o elemento divino terá obrigatoriamente que se “re-unir” a seu antagonista titânico, para recomeçar nova existência sob uma outra forma, que pode ser até mesmo a de um animal. Assim, em um ciclo, cujo término se ignora, cada existência é uma morte, cada corpo é um túmulo. Tem-se aí a célebre doutrina do sùma -sÃma (soma – sêma), do corpo (sôma) como cárcere (sêma) da alma. Assim, em punição de um crime primordial, a alma é encerrada no corpo tal como no túmulo. A existência, aqui neste mundo, assemelha-se antes à morte e a morte pode se constituir no começo de uma verdadeira vida. Esta verdadeira vida, que é a libertação final da alma do cárcere do corpo, quer dizer, a posse do “paraíso”, sobre cuja localização se falará também, não é automática, uma vez que, “numa só existência e numa só morte”, dificilmente se conseguem quitar a falta original e as cometidas aqui e lá.
Talvez, e assim mesmo o fato é passível de discussão, só os “grandes iniciados órficos” conseguiriam desvincular-se da “estranha túnica da carne”, para usar da expressão do órfico, filósofo e poeta Empédocles (Frg. B. 155 e 126), após uma só existência. A alma é julgada e, consoante suas faltas e méritos, depois de uma permanência no além, retorna ao cárcere de novo corpo humano, animal ou, até mesmo, pode mergulhar num vegetal.
Sendo o Orfismo, no entanto, uma doutrina essencialmente soteriológica, oferece a seus seguidores meios eficazes para que essa liberação se faça de um modo mais rápido possível, com os menores sofrimentos possíveis, porquanto as maiores dores neste vale de lágrimas são tão-somente um pálido reflexo dos tormentos no além… Para um sério preparo com vistas a libertar-se do ciclo das existências, o Orfismo, além da parte iniciática, mística e ritualística, que nos escapa, dava uma ênfase particular à instrução religiosa, através dos “hieroì lógoi”, “dos livros sagrados”, bem como obrigava seus adeptos à prática do ascetismo, do vegetarianismo e de rigorosa catarse.
Mortificações austeras, como jejuns, abstenção de carne e de ovos, ou, por vezes, de qualquer alimento, castidade no casamento ou até mesmo castidade absoluta, como a do jovem vegetariano Hipólito na tragédia euripidiana que tem o nome do herói consagrado à deusa virgem Ártemis, meditação, cânticos, austeridade no vestir e no falar são alguns dos tópicos que compõem o verdadeiro catálogo do ascetismo órfico. Vegetarianos, os órficos não apenas se abstinham de carne, mas também eram proibidos de sacrificar qualquer animal, o que, sem dúvida, suscitava escândalo e indignação, por isso que o sacrifício animal e o banquete sacrificai eram precisamente os ritos mais característicos da religião grega. O fundamento de tal proibição há de ser buscado primeiramente na doutrina da metempsicose74, uma vez que todo animal podia ser a encarnação de uma alma, de um elemento dionisíaco e divino e, por isso, virtualmente sagrado. Além do mais, poderia estar animado pela psiqué de um parente, até muito próximo… De outro lado, abstendo-se de carne e dos sacrifícios cruentos, obrigatórios no culto oficial, os seguidores do profeta da
Trácia estavam, sem dúvida, contestando a religião oficial do Estado e proclamando sua renúncia às coisas deste mundo, onde se consideravam estrangeiros e hóspedes temporários.
Com o sacrifício cruento em Mecone, assunto de que se tratou no Vol. I, p. 167, Prometeu, tendo abatido um boi e reservado astutamente para os deuses os ossos cobertos de gordura e para os homens as carnes, desencadeou a cólera de Zeus. Profundamente irritado com o logro do primeiro sacrifício que os mortais faziam aos deuses por meio de Prometeu, o senhor do Olimpo privou aqueles do fogo e pôs termo ao estado paradisíaco, quando os homens viviam em perfeita harmonia com os imortais. Ora, com sua recusa em comer carne, decisão de não participar de sacrifícios cruentos e prática do vegetarianismo, os órficos visavam também, de algum modo, a purgar a falta ancestral e recuperar a felicidade perdida.
Não bastam, no entanto, ascetismo e vegetarianismo para libertar a alma do cárcere da matéria. Se a salvação era obtida sobretudo através da iniciação, quer dizer, de revelações de cunho cósmico e teosófico, a catarse, a purificação desempenhava um papel decisivo em todo o processo soteriológico do Orfismo. É bem verdade que nas Órgia (órgia), nos orgiasmos dionisíacos, provocados pelo êxtase e entusiasmo, se realizava uma comunhão entre o divino e o humano, mas essa união, segundo se mostrou, era efêmera e “obtida pelo aviltamento da consciência”. Os órficos aceitaram o processo dionisíaco e dele não só arrancaram uma conclusão óbvia, a imortalidade, donde a divindade da alma, mas ainda o enriqueceram com a k£θarsi$ (kátharsis), a catarse, que, embora de origem apolínea, foi empregada em outro sentido pelos seguidores de Orfeu. Ainda que se desconheça a técnica purificatória órfica, além do vegetarianismo, abluções, banhos, jejuns, purificação da vontade por meio de exame de consciência, de cantos, hinos, litanias e, sobretudo, a participação nos ritos iniciáticos, pode-se ter uma idéia do esforço que faziam os órficos no seu afã catártico, através de uma citação cáustica de Platão, que logo se transcreverá. Observe-se, todavia, que nem
todos esses vergastados pelo filósofo são adeptos de Orfeu. Ao lado de homens sérios, verdadeiros purificadores órficos, ascetas e adivinhos, aos quais o filósofo Teofrasto (cerca de 372-287 a.e.c.) dá o nome de ’Orfeotelestai/ (Orpheotelestaí), “iniciadores nos mistérios órficos”, pululavam, desde o século VI a.e.c., os embusteiros, charlatães, vulgares taumaturgos e curandeiros. Usando o nome de Orfeu, conseguiam, as mais das vezes, embair a ignorância e a boa-fé de suas vítimas. Fenômeno, seja dito de passagem, que se repete em todas as épocas, sobretudo nas chamadas
religiões populares. Foi exatamente contra esses impostores que o autor do Fédon deixou em sua República, 364b-365a, uma página mordaz, que, de certa forma, nos ajuda a compreender um pouco mais a técnica purificatória do Orfismo: “… sacrificantes mendigos, adivinhos, que assediam as portas dos ricos, persuadem- nos de que obtiveram dos deuses, por meio de sacrifícios e encantamentos, o poder de perdoar-lhes as injustiças que puderam cometer, ou que foram cometidas pelos seus antepassados (…). Para justificar os ritos, produzem uma multidão de livros, compostos por Museu e por Orfeu, filhos da Lua e das Musas. Com base nessas autoridades, persuadem não só indivíduos, mas também Estados, de que há para os vivos e os mortos absolvições e purificações (…); e essas iniciações, pois é assim que lhes chamam, nos livram dos tormentos dos infernos”.
O terceiro e último ato do drama gigantesco da existência e da morte é precisamente a sorte que aguardava a alma no além e o caminho perigoso que a conduzia até lá e a trazia de volta ao mundo dos vivos, para recomeçar uma nova tragédia. Estamos nos domínios da Escatologia.
Entre algumas obras apócrifas atribuídas a Hesíodo há uma Catábase de Teseu e Pirítoo ao Hades. O Ulisses homérico já descera igualmente até a periferia da outra vida. Pois bem, a catábase homérica e hesiódica se enriqueceu com uma terceira, órfica, dessa feita, a (Katábasis eis Haidu), “a Descida ao Hades”. Pouco interessa a autoria desse poema, o que importa é salientar que a escatologia é o ponto capital do Orfismo. Com a mântica, a escatologia representa um segundo elemento decisivo nas novas tendências religiosas do século VI a.e.c. Como Orfeu foi um dos raros mortais a descer em vida à região das trevas, é muito natural que seus seguidores construíssem, dentro dos novos padrões religiosos órficos, uma nova escatologia, reestruturando inclusive toda a topografia do além.
Se em Homero o Hades é um imenso abismo, onde, após a morte, todas as almas são lançadas, sem prêmio nem castigo, e para todo o sempre, segundo comentamos no Vol. I, p. 140-146, e se em Hesíodo, conforme está no Vol. I, p. 179, já existe uma nítida mudança escatológica, se não na topografia infernal, mas no destino de algumas almas privilegiadas, o Orfismo fixará normas topográficas definidas e reestruturará tudo quanto diz respeito ao
destino último das almas.
No tocante à topografia, o Hades foi dividido, orficamente, em três regiões distintas: a parte mais profunda, abissal e trevosa, denomina-se Tártaro; a mediai, Érebo, e a mais alta e nobre, Elísion ou a (Elýsia pedia), os Campos Elísios. Ao que tudo indica, os dois primeiros eram destinados aos tormentos que se infligiam às almas, que lá embaixo purgavam suas penas, havendo, parece, uma clara gradação nos suplícios aplicados: os do Tártaro eram muito mais violentos e cruéis que os do Érebo. Os Campos Elísios seriam destinados aos que, havendo passado pelos horrores dos dois outros compartimentos, aguardavam o retorno. Isto significa que a estada no Hades era impermanente para todos. Duas observações se impõem: será que também os órficos desciam ao Hades e estavam
sujeitos aos castigos e ã metempsicose ou à ensomatose e, em segundo lugar, depois de quitadas todas as penas, onde estaria localizado o “paraíso”? Quanto às almas dos órficos, houve sempre uma certa hesitação a respeito de também elas passarem pelo processo da transmigração ou reencarnação. Talvez, pelo próprio exame das fontes órficas que se possuem, se possa afirmar que o problema estaria na dependência de ser ou não um iniciado perfeito (o que seria muito difícil) nos Mistérios de Orfeu… No que diz respeito à localização do “paraíso”, existem, igualmente, algumas hesitações e contradições, mas, depois dos ensinamentos de Pitágoras, de algumas descobertas astronômicas e das especulações cosmológicas dos filósofos Leucipo e Demócrito, respectivamente dos fins do século VI e fins do V a.e.c, se chegou à conclusão de que a Terra era uma esfera e, em conseqüência, o Hades subterrâneo e a localização da Ilha dos Bem-Aventurados no extremo Ocidente deixaram “cientificamente” de ter sentido. O próprio Pitágoras, numa sentença, afirma que a “Ilha dos Bem-Aventurados eram o Sol e a Lua”, ainda que a própria catábase do grande místico e matemático, porque também ele teria visitado o reino dos mortos, pressupunha um Hades localizado
nas entranhas da Terra. A idéia de se colocar o “céu” lá no alto, na Lua, no Éter, no Sol ou nas Estrelas, tinha sua lógica, uma vez que, ao menos desde o século V a.e.c., se considerava que a substância da alma era aparentada com o Éter ou com a substância das estrelas. A localização homérica do Hades nas entranhas da Terra, entretanto, era tradicional e forte demais para que o povo lhe alterasse a geografia.
Feita esta ligeira introdução ao velho e novo Hades, vamos finalmente acompanhar “um órfico” até lá embaixo e observar o que lhe acontece. Nossa primeira fonte será Platão, que, desprezando a tradição mitológica clássica e “estatal”, fundamentada em Homero e Hesíodo, organizou uma mitologia da alma, com base na doutrina órfico-pitagórica e em certas fontes orientais.
A segunda serão as importantíssimas lamelas, pequenas lâminas ou placas de ouro, descobertas na Itália meridional e na Ilha de Creta.
Essas lamelas foram encontradas em túmulos órficos, nas cidades de Túrio e Petélia, na Magna Graecia, e datam dos séculos IV e III a.e.c., bem como em Eleuterna, na Ilha de Creta, séculos II-I a.e.c., e possivelmente em Roma, século II e.c.
Apesar das diferenças de época e de procedência, as fórmulas nelas gravadas têm, com diferenças mínimas, conteúdo idêntico. É quase certo que procedem de um mesmo texto poético, que deveria ser familiar a todos os órficos, como uma espécie de norma de sua dogmática escatológica, o que os distinguia do comum dos homens e traduzia sua fé na salvação final, a salvação da alma. A obsessão dos iniciados órficos pela salvação os teria levado a depositar nos túmulos de seus mortos não o texto inteiro, mas ao menos fragmentos escolhidos, certas mensagens e preceitos que lhes pareciam mais importantes do cânon escatológico. Tais fórmulas serviam-lhes certamente de bússola, de “guia para sair à luz”, como o impropriamente chamado Livro dos Mortos dos antigos egípcios, como o Bardo Thödol tibetano e o Livro Maia dos Mortos.
Voltemos, porém, à “viagem” órfica.
O ritual “separatista” se iniciava pelo sepultamento: um órfico não se podia inumar com indumentária de lã, porque não se deviam sacrificar os animais.
Realizada a cerimônia fúnebre, com simplicidade e alegria, afinal “as lágrimas se reservavam no Orfismo para os nascimentos”, a alma iniciava seu longo e perigoso itinerário em busca do “seio de Perséfone”. No Fédon (108a) e no Górgias (524a) de Platão se diz queocaminho não é um só nem simples, porque vários são os desvios e muitos os obstáculos: “A mim, todavia, quer me parecer que ele não é simples, nem um só, pois, se houvesse uma só rota para se ir ao Hades, não era necessária a existência de guias, já que ninguém poderia errar a direção. Mas é evidente que esse caminho contém muitas encruzilhadas e voltas: a prova disso são os cultos e costumes religiosos que temos” (Fédon, 108a). A República (614b) deixa claro que os justos tomam a entrada da direita, enquanto os maus são enviados para a esquerda. As lamelas contêm indicações análogas: “Sejas bem- vindo, tu que caminhas pela estrada da direita cm direção às campinas sagradas e ao bosque de Perséfone”. A alma é bem orientada em seu trajeto: “À esquerda da mansão do Hades, depararás com uma fonte a cujo lado se ergue um cipreste branco. Não te aproximes muito dessa fonte. Encontrarás, a seguir, outra fonte: a água fresca jorra da fonte da Memória e lá existem guardas de sentinela. Dize-lhes: ‘Sou filho de Géia e de Urano estrelado, bem o sabeis. Estou, todavia, sedento e sinto que vou morrer. Dai-me, rapidamente, da água fresca que jorra da fonte da Memória’. Os guardas prontamente te darão água da fonte sagrada e, em seguida, reinarás entre os outros heróis”. As almas que se dirigiam ao Hades bebiam das águas do rio Lete, a fim de esquecer suas existências terrenas. Os órficos, todavia, na esperança de escapar da reencarnação, evitavam o Lete e buscavam a fonte da Memória. Uma das lamelas deixa claro esse fato: “Saltei do ciclo dos pesados sofrimentos e das dores e lancei-me com pé ligeiro em direção à coroa almejada. Encontrei refúgio no seio da Senhora, a rainha do Hades”. Perséfone responde-lhe: “Ó feliz e bem-aventurado! Eras homem e te tornaste deus”. No início da lamela há uma passagem significativa. Dirigindo-se aos deuses ctônios, diz o iniciado: “Venho de uma comunidade de puros, ó pura senhora do Hades, Eucles, Eubuleu81 e vós outros, deuses ctônios. Orgulho-me de pertencer à vossa raça bem-aventurada”.
A sede da alma, comum a tantas culturas, configura não apenas refrigério, pelo longo caminhar da mesma em direção à outra vida, mas sobretudo simboliza a ressurreição, no sentido da passagem definitiva para um mundo melhor. Nós conhecemos bem esta sede de água fresca, da água viva, através dos escritos neotestamentários de países de cultura grega (Jo 7,37; Ap 22,17). Evitando beber das águas do rio Lete, o rio do esquecimento, penhor de reencarnações, a alma estava apressando e forçando sua entrada definitiva no “seio de Perséfone”. Mas, se a alma tiver que regressar a novo corpo, terá forçosamente que tomar das águas do rio Lete, para apagar as lembranças do além. Se para os gregos “os mortos são aqueles que perderam a memória”, o esquecimento para os órficos não mais configura a morte, mas o retorno à vida. Desse modo, na doutrina de Orfeu, o rio Lete teve parte de suas funções prejudicadas. Bebendo na fonte da Memória, a alma órfica desejava apenas lembrar-se da bem-aventurança. O encontro de uma árvore, no caso o cipreste branco, símbolo da luz e da pureza, junto a uma fonte, a fonte da Memória, é uma imagem comum do Paraíso, em muitas culturas primitivas. Na Mesopotâmia, o rei, representante dos deuses na Terra, vivera junto aos imortais, em um jardim fabuloso, onde se localizava a Árvore da Vida e a Água da Vida. Seria conveniente não nos esquecermos de que em grego, (parádeisos), fonte primeira de paraíso, significava também jardim. E ao que consta, o Jardim do Éden estava cheio de árvores e de fontes… Esse Jardim do Éden (Gn 13,10; Jl 2,3), simbolizando o máximo de felicidade e sendo equiparado ao Jardim de Deus (Is 51,3; Ez 31,8-9). Semelhante jardim concretiza os ideais da futura restauração (Ez 36,35), da felicidade escatológica, que era considerada como um retorno à bem-aventurança perdida dos tempos primordiais. Passemos, agora, a acompanhar outra alma, que talvez tenha tomado a entrada da esquerda ou tenha vindo muito “carregada” do mundo dos vivos. Os sofrimentos que pesavam sobre aqueles que haviam partido desta vida com muitas faltas são vivamente desenhados por Platão, por uma passagem de Aristófanes, pelo neoplatônico Plotino e até mesmo pela arte figurada. “Mergulhados no lodaçal imundo, ser-lhes-á infligido um suplício apropriado à sua poluição moral” (República, I, 363d; Fédon, 69c); “esvair-se-ão em inúteis esforços para encher um barril sem fundo ou para carregar água numa peneira” 82 (Górgias, 493b; República, 363e); “como porcos agrada-lhes chafurdar na imundície” (Enéadas, I, 6, 6). Aristófanes, num passo da comédia As Rãs, 145sqq., descreve, pelos lábios de Héracles, o que aguarda certos criminosos na outra vida: “Verás, depois, um lodaçal imundo e submersos nele todos os que faltaram ao dever da hospitalidade (…); os que espancaram a própria mãe; os que esbofetearam o próprio pai ou proferiram um falso juramento”.
Um exemplo famoso dos tormentos aplicados no Hades é a pintura do inferno com que o grande artista do século V a.e.c., Polignoto, decorou a (Léskhe), “galera, pórtico”, de Delfos: nela se via, entre outras coisas, um parricida estrangulado pelo próprio pai; um ladrão sacrílego sendo obrigado a beber veneno e Eurínomo (uma espécie de “demônio”, segundo Pausânias, metade negro e metade azul, como um moscardo) está sentado num abutre, mostrando seus dentes enormes em sarcástica gargalhada e roendo “as carnes dos ossos” dos mortos.
Todos esses criminosos e sacrílegos estavam condenados a passar por penosas metempsicoses. Diga-se, logo, que é, até o momento, muito difícil detectar a origem e a fonte de tal crença. Na Grécia, o primeiro a sustentá-la e, possivelmente, a defendê-la foi o mitógrafo e teogonista Ferecides de Siros (séc. VI a.e.c.), que não deve ser confundido com seus homônimos, o genealogista Ferecides de Atenas (séc. V a.e.c.) e Ferecides de Leros, posterior e muito menos famoso que os dois anteriores. Apoiando-se em crenças orientais, o mitógrafo de Siros afirmava que a alma era imortal e que retornava sucessivamente à Terra para reencarnar-se. No século de Ferecides, somente na Índia a crença na metempsicose estava claramente definida. É bem verdade que os egípcios consideravam, desde tempos imemoriais, a alma imortal e suscetível de assumir formas várias de animais vários, mas não se encontra na terra dos faraós uma teoria geral da metempsicose. Caso contrário, por que e para que a mumificação? De qualquer forma, as teorias de Ferecides não surtiram muito efeito no mundo grego. Os verdadeiros defensores, divulgadores e sistematizadores da “ensomatose” e da metempsicose foram o Orfismo, Pitágoras e seus discípulos, e o filósofo Empédocles. A alma, pois, não quite com suas culpas, regressava para reencarnar- se. O homem comum percorria o ciclo reencarnatário dez vezes e o intervalo entre um e outro renascimento era de mil anos, cifras que, no caso em pauta, são meros símbolos, que expressam não quantidades, mas sim idéias e qualidades, o que, aliás, se constitui na essência do número.
Finda a breve ou longa jornada, a alma podia finalmente dizer, como está gravado em uma das lamelas: “Sofri o castigo que mereciam minhas ações injustas (…). Venho, agora, como suplicante, para junto da resplandecente Perséfone, para que, em sua complacência, me envie para a mansão dos bem-aventurados”. A deusa acolhe o suplicante justificado com benevolência: “Bem-vindo sejas, ó tu que sofreste o que nunca havias sofrido anteriormente (…). Bem-vindo, bem-vindo sejas tu! Segue pela estrada da direita, em direção às campinas sagradas e aos bosques de Perséfone”.
Um fragmento da tragédia euripidiana (sempre Eurípides!), Os Cretenses (Frg. 472), atesta a presença na Ilha de Minos, terra das iniciações, da religião de Zagreu e, portanto, do Orfismo. O poeta nos apresenta um coro de adeptos de Zagreu, numa palavra, de iniciados órficos, que “erra na noite” e se alegra “por haver abandonado os repastos cruentos”: “Absolutamente puro em minha indumentária branca, fugi da geração dos mortais; evito os sepulcros e me
abstenho de alimentos animais; santificado, recebi o nome de bákkhos”. Este nome, que é, ao mesmo tempo, o nome do deus, exprime a comunhão mística com a divindade, isto é, o núcleo e a essência da fé órfica. Bákkhos, Baco é, como se sabe, um dos nomes de Dioniso, que era, exatamente, sob seu aspecto orgiástico, a divindade mais importante dos órficos. Nome esotérico e sagrado, bákkhos, “baco”, servirá para distinguir o verdadeiro místico, o verdadeiro órfico, o órfico que conseguiu libertar-se de uma vez dos liames do cárcere do corpo.
O Orfismo tudo fez para impor-se ao espírito grego. De saída, tentou romper com um princípio básico da religião estatal, a secular maldição familiar, segundo a qual, como já se comentou no Vol. I, p. 76-81, cada membro do génos era co- responsável e herdeiro das hamartías, das faltas cometidas por qualquer um de seus membros. Os órficos solucionaram o problema de modo original: a culpa é sempre de responsabilidade individual e por ela (e foi a primeira vez que a idéia surgiu na Grécia) se paga aqui; quem não conseguir purgar-se nesta vida, pagará por suas faltas no além e nas outras reencarnações, até a catarse final. Mas, diante do citaredo trácio erguia-se a pólis com sua religião tradicional, com suas criações artísticas de beleza inexcedível e, mais que tudo, com seu sacerdote e poeta divino,
Homero. É bem verdade que, desde o início, o Orfismo pediu socorro às Musas e Orfeu tentou modelar-se sobre a personagem do criador da epopéia, tornando-se também, em suas rapsódias e hinos, poeta e cantor, mas a distância entre Homero e Orfeu é aquela mesma estabelecida por Hesíodo entre o Olimpo e o Tártaro… E mais uma vez a Ásia curvou-se diante da Hélade! Foi, não há dúvida, mais uma vitória da cultura que da religião, mas, com isso, o Orfismo jamais passaria, na Grécia, de uma “seita”, de uma confraria. Foi uma pena!
Na expressão feliz de Joseph Holzner83, é difícil precisar em seus pormenores em que consiste a missão da Grécia na história da salvação e qual foi a influência providencial dos Mistérios. Talvez essa missão se encontre menos em minúcias precisas do que no todo da mentalidade helênica. K. Prümm não se equivocou ao afirmar que “a história do desenvolvimento espiritual da humanidade, apesar de seus saltos e tropeços, apesar de sua descontinuidade, segue um plano estabelecido por Deus”. No fundo deste plano existe um projeto de salvação. O Cardeal Newman, na história do desenvolvimento da doutrina cristã, insiste no papel providencial dos Mistérios: “As transformações na história são, as mais das vezes, preparadas e facilitadas por uma disposição providencial, pela presença de certas correntes do pensamento e sentimentos humanos, que apontam o rumo da futura transformação (…). Foi isto exatamente o que aconteceu com o cristianismo, como exigia sua alta transcendência. O cristianismo chegou, anunciado, acompanhado e preparado por uma multidão de sombras, impotentes e monstruosas, como são todas as sombras…”. Os que acreditam seriamente na vontade salvífica universal de Deus devem admitir que o Senhor não podia permanecer indiferente aos inúmeros esforços, muitas vezes sinceros, desses gregos que foram educados nos Mistérios. Os gregos, realmente, não tiveram os deuses que mereciam. Esse povo extraordinário teve sede de amor e submeteu-se, por isso mesmo, às exigências arbitrárias de seus deuses. Foi, no entanto, enganado e traído por eles. Desse modo, do ponto de vista religioso, a era helênica terminou profundamente decepcionada. A antigüidade, já em seu declínio, retratou sua própria alma no mito gracioso e profundo de Eros e Psiqué. A Psiqué grega, que buscou por todos os caminhos, no céu, na terra e nos infernos, o único alimento que podia satisfazer sua fome de amor, o amor divino.
Mais um pouco, e as sombras, de que fala o Cardeal Newman, haveriam de dissipar-se com os raios do Novo Sol, que brilharia intensamente também no céu azul da Hélade. No Olimpo, Psiqué celebrará suas núpcias com Eros.
Repetindo, mais uma vez, o pensamento lúcido de Jean Daniélou, S.J., segundo quem uma coisa é a revelação e outra o modo como esta revelação foi transmitida pelos escritores sacros, haurida, em grande parte, nas civilizações antigas (e particularmente na grega, acrescentaríamos) é que se pode avaliar bem os significantes com que o Orfismo contribuiu para a formação do cristianismo nascente.
A lenda grega ornamentou simbolicamente Orfeu com o nimbo da santidade. Nas pinturas das catacumbas romanas ele aparece sob a figura de citaredo e de cantor do amor divino. Nos mosaicos do mausoléu de Gala Placídia, em Ravena, é representado como Bom-Pastor. Uma antiga cena de Crucificação chega mesmo a chamar Cristo de “Orfeu báquico”.
A alma grega, realmente, não podia suportar a ruptura entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses, um mundo que entrega o homem à morte e proclama a imortalidade dos deuses. Eis por que tanto se lutou na Grécia órfico- pitagórico-platônica pela imortalidade da alma. É que, existindo no homem aquele elemento divino, aquela faísca de eternidade, de que tanto se falou, é preciso libertá-la, constituindo-se essa liberação no tema central dos mistérios gregos. Não há dúvida de que a gnose é filha bastarda da antiguidade helênica: a alma, como diz Berdiaev deve forçosamente retornar à sua pátria eterna.
Além da óbvia influência sobre Píndaro e sobretudo, juntamente com o Pitagoricismo, sobre a gigantesca síntese platônica da nova “mitologia da alma”, o Orfismo chegou até os primeiros séculos da era cristã, ainda com muita vitalidade. Em seguida, foi-se apagando lentamente, mas Orfeu, mesmo independente do Orfismo, teve sua figura reinterpretada “pelos teólogos judaicos e cristãos, pelos hermetistas, pelos filósofos do Renascimento, pelos poetas, desde Poliziano até Pope, e desde Novalis até Rilke e Pierre Emmanuel”. Também nós, de língua portuguesa, tivemos a nossa reinterpretação do mito de Orfeu e Eurídice: trata-se da tragédia de Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição.
Em homenagem ao poeta carioca, vamos transcrever, do Segundo Ato, um suspiro do violão de Orfeu em busca de sua bem-amada.
Enlouquecido com a morte de Eurídice, Orfeu desce o morro e chega à Cidade, quer dizer, ao Inferno: era dia de Carnaval. “Plutão”, possivelmente diretor do clube “Os Maiorais do Inferno”, expulsa-o, para que o poeta e cantor não perturbe a folia.
Vejamos uma fala da personagem principal de Vinícius, que bem lhe caracteriza a catábase, do morro para a cidade:
Orfeu:
“Não sou daqui, sou do morro. Sou o músico do morro. No morro sou conhecido — sou a vida do morro. Eurídice morreu. Desci à cidade para buscar Eurídice, a mulher do meu coração. Há muitos dias busco Eurídice. Todo o mundo canta, todo o mundo bebe: ninguém sabe onde Eurídice está. Eu quero Eurídice, a minha noiva morta, a que morreu por amor de mim. Sem Eurídice não posso viver. Sem Eurídice não há Orfeu, não há música, não há nada. O morro parou, tudo se esqueceu. O que resta de vida é a esperança de Orfeu ver Eurídice nem que seja pela última vez!”

O chifre, o corno, tem o sentido de grandeza, de superioridade, de elevação. Simboliza, por isso mesmo, o poder, a autoridade, características básicas de quem o possui, como os deuses Dioniso, Apolo Carnio 171 e o rei Alexandre Magno, que tomou o emblema de Amón, o deus-carneiro, chamado no Livro dos
Mortos, o Senhor dos dois cornos. Reis e guerreiros de culturas diversas, nomeadamente os Gauleses, tinham chifres em seus capacetes. É mister levar em conta, no entanto, que o poder atribuído aos cornos não é apenas de ordem temporal. Os chifres do carneiro são de caráter solar e os do touro, de caráter lunar, dado o poder de fecundar do astro e do satélite, e de ambos os animais que os representam, A associação da lua e do touro é bem atestada entre os Sumérios e os Hindus. A lua é designada no Camboja como um corno perfeito, em sua fase crescente. O Mahabharata fala do corno de Shiva, já que este se identifica com sua montaria, o touro Nandim. Os chifres dos bovinos são atributo da Grande Mãe divina. Onde quer que apareçam, seja nas culturas neolíticas, na iconografia ou ornamentando os ídolos de forma divina, os cornos marcam a presença da Grande Deusa da fertilidade. Evocam os sortilégios da força vital, da criação periódica, da vida inexaurível e da fecundidade, vindo assim a simbolizar, analogicamente, a majestade e os obséquios do poder real. A exemplo de Dioniso, os chifres de Alexandre Magno retratam-lhe a autoridade e o gênio, que são de origem divina, e que deverão assegurar a prosperidade de seu império. Se o chifre, as mais das vezes, é um símbolo lunar e portanto feminino, como o é o do touro, pode tornar-se também um emblema solar, masculino, como o chifre do carneiro. Este último aspecto explica, aliás, que o chifre é um símbolo de virilidade.
O grego (kéras), o sânscrito linga e o latim cornu não significam apenas chifre, mas também força, coragem, potência. 172 É assim que, por sua força e função natural, o chifre retrata o pênis.
Mas, na medida em que o chifre designa o poder, a este se conjuga a agressividade. Agni possui cornos imperecíveis, aguçados pelo próprio Brahma e o chifre acabou por traduzir um poder agressivo do bem ou do mal. Nesta relação de cornos dos animais com chefe político ou religioso existe uma intenção clara de apropriação mágica dos objetos simbólicos. O chifre, o troféu traduzem a exaltação e a posse da força. O soldado romano após uma grande vitória, ornamentava o capacete com um corniculum, isto é, com um chifrinho.
Na mitologia judaica e cristã o chifre simboliza a força e tem o sentido de raio de luz, de clarão, de relâmpago. Quando Moisés desceu do Sinai, seu rosto lançava raios, que a Vulgata traduz em seu sentido próprio por cornos (Ex 34,29-30 e 35). Este é o motivo por que Michelangelo Buonarroti, por exemplo,
representou Moisés com chifres, com aspecto de crescente lunar. Os quatro cornos do altar dos holocaustos colocados no Templo designavam as quatro direções do espaço, isto é, a extensão ilimitada do poder de Deus. Nos Salmos o corno simboliza a força de Deus, que é a mais poderosa defesa daqueles que o invocam:
Eu me abrigo nele, meu rochedo, meu escudo e meu corno de salvação (Sl 17,2-3).
Pode simbolizar igualmente a força altaneira e agressiva dos arrogantes, cuja pretensão é extirpada por Javé:
Não levanteis o chifre, não ergais muito alto vosso chifre, não faleis, esticando a espinha (Sl 74,6).
Aos justos, pelo contrário, Javé dará força:
Ali farei germinar um chifre para Davi (Sl 131,17).
No que se refere à expressão quebrar os cornos a ou de alguém, que, sem nenhuma conotação sexual, se popularizou, já se encontra no Antigo Testamento (Jr 48,25; Lm 2,3; Sl 75,11. . .) com o sentido preciso de destruir o poder, esmagar a soberba, exatamente como na acepção popular de "abater a insolência, humilhar a arrogância".
E já que o corno é o símbolo de "força e poder", por uma simples associação foi transformado em poderoso elemento apotropaico: erguendo-se um chifre ou o esqueleto inteiro da cabeça bovina no alto de uma vara, dominando a plantação, tem-se um excelente amuleto contra a esterilidade e forças invisíveis e
inimigas. O chifre é altamente benéfico à lavoura, afasta as pragas, é portador de chuva e protege contra o mau-olhado. Daí o uso de amuletos, imitando chifres, como defesa contra o mau-olhado.
"Um dos amuletos mais poderosos é uma variante da figa, a chamada mão cornuda, os dedos indicador e mínimo estendidos paralelamente, simulando chifres e os demais dobrados sobre a palma. É de uso imemorial e os modelos, em ouro e prata, reaparecem como alfinetes de gravata, barretes, berloques, com refinamentos de lavor artístico".173
No que diz respeito à Cornucópia ou Corno da Abundância, é a mesma, na tradição greco-latina, o símbolo da fecundidade e da felicidade. Cheia de grãos e de frutos, aberta em cima e não embaixo, como na arte moderna, é o emblema de Baco, Ceres, Rios, Abundância, Constância e Fortuna.
Zeus brincando, quebrou o chifre da cabra Amaltéia, que o aleitava, mas, para compensá-la, prometeu-lhe que este corno se encheria de todos os frutos, quando ela o desejasse. A Cornucópia é, pois, o símbolo da profusão gratuita dos dons divinos. Uma variante, já exposta linhas atrás, faz da Cornucópia o corno da mesma cabra Amaltéia, mas ofertado por Héracles a Aquelôo, cujo chifre fora quebrado pelo herói, na luta pela posse de Dejanira.
Com o correr do tempo, a Cornucópia tornou-se, mais que o símbolo, um atributo de felicidade pública, da diligência e da prudência, que são a fonte da abundância, da esperança e da eqüidade.
Numa visão contemporânea, os cornos podem ser considerados também como uma imagem de divergência, simbolizando, assim, a ambivalência e forças regressivas: o demônio é apresentado com chifres e cascos bifurcados. Em contraposição, todavia, podem representar abertura e iniciação, como no mito do carneiro de velo de ouro.
Jung, com a perspicácia que lhe é peculiar, percebeu uma outra ambivalência no simbolismo dos cornos: representam, de um lado, um princípio ativo e masculino, por sua forma e força de penetração; de outro, um princípio passivo e feminino, por sua abertura, em forma de receptáculo. Reunindo os dois na formação da personalidade, o ser humano se assume integralmente, chegando à maturidade e à harmonia interior, o que não deixa de ter certa relação com a polaridade SOL-LUA, há pouco citada.

Tomados em bloco, os rios têm uma simbologia muito precisa e significativa. O símbolo do rio, do escoamento das águas, é, simultaneamente, o da possibilidade universal e do escoamento das formas, da fertilidade, da morte e da renovação. A corrente figura a vida e a morte. O rolar das águas para o mar, sua cheia ou a travessia de um rio para outro confluem, no fundo, para uma bacia comum. A descida para o Oceano é o reencontro das águas, o retorno à indiferenciação, o acesso ao Nirvana; a cheia é o retorno à fonte divina, ao Princípio; a travessia é a luta contra os obstáculos que separam dois princípios: o mundo fenomenal e o estado incondicionado, o mundo sensível e o estado de desapego. O rio que vem do alto da tradição judaica é o das bênçãos e das influências celestiais. Este rio do alto desce verticalmente, de acordo com o eixo do mundo, o axis mundi; espraia-se depois, horizontalmente, a partir do centro, seguindo as quatro direções cardeais, até as extremidades do mundo: trata-se dos quatro rios do Paraíso terrestre. O rio que desce do alto é também o Ganges, o rio que purifica e catarsiza, porque escorre da cabeleira de Çiva. Símbolo das águas superiores, o Ganges é ainda, enquanto rio purificador, instrumento de liberação. Na iconografia, o Ganges e o Iamuna são atributos de Varuna, como senhor das águas. A corrente do rio sagrado hindu é tão axial, que se denomina a corrente que circula por um tríplice caminho, percorrendo os três níveis, o celestial, o telúrico e o ctônio.
Para os Gregos os rios, filhos de Oceano e, por sua vez, pais das Ninfas, eram semidivinizados e, por isso mesmo, objetos de culto. Ofereciam-se-lhes sacrifícios, lançando-se em sua correnteza touros e cavalos vivos. Dotados de uma grande energia sexual, os rios legaram ao mito uma enciclopédia de amor e uma constelação de filhos. Como qualquer potência fertilizante, cujas decisões e atos são misteriosos, podiam submergir, irrigar, fecundar e inundar; conduzir a barca em seu bojo macio ou fazê-la soçobrar. O piedoso Hesíodo, por isso que os rios inspiravam veneração e medo, aconselhava não atravessá-los, senão após uma prece fervorosa e determinados ritos de purificação:
Não atravessem teus pés as magníficas correntes dos rios eternos; antes, com os olhos cravados em seu curso, faze uma prece e lava tuas mãos nas águas frescas e límpidas. Quem atravessa um rio antes de purificar as mãos e lavar a consciência, atrai sobre si a cólera dos deuses, que, em seguida, o castigarão.
(Trab. 737-741)
Os próprios nomes, diga-se de passagem, por que são designados os rios do Hades, expressam simbolicamente os tormentos que aguardam os condenados:
Aqueronte, o rio das dores; Cocito, o rio dos gemidos e das lamentações; Estige, o gélido rio dos horrores; Piriflegetonte, o rio das chamas inextinguíveis; e Lete, o rio do esquecimento. Em quase todas as culturas sempre existiram rios que simbolizavam e ainda simbolizam o grande rio cósmico, como o Ganges na Índia; o Nilo, no Egito; o Severn, na Inglaterra; o Jordão, na Palestina; o Tibre na Itália...
Descendo das montanhas, serpeando através das planícies e perdendo-se nos mares, os rios configuram a existência humana no seu fluir, na sucessão de ânsias, desejos, sentimentos, paixões e a multiplicidade de seus desvios. A esse respeito é significativo o pensamento de Heráclito: Vara os que entram nos mesmos rios, outras e outras são as águas que correm por eles... Dispersam-se e... reúnem-se... vêm junto e junto fluem... aproximam-se e afastam-se (Fr. 12, Diels).174 Platão interpreta este fragmento de Heráclito como "a absoluta continuidade da mudança em cada uma das coisas": Heráclito diz algures que tudo está em mudança e nada permanece parado e, comparando o que existe à corrente de um rio, diz que não se poderia penetrar duas vezes no mesmo rio (Crátilo, 402a).175
Penetrar num rio é para a alma entrar num corpo. A alma seca é aspirada pelo fogo, a alma úmida é sepultada no corpo. Possuindo uma existência precária, o corpo flui como a água e cada alma possui seu corpo particular, esta parte efêmera de sua existência, o seu rio.
Transpostos os rios, vejamos agora as Oceânidas.

Consoante o I Ching, o fogo corresponde ao sul, à cor vermelha, ao verão, ao coração, uma vez que ele, sob este último aspecto, ora simboliza as paixões, particularmente o amor e o ódio, ora configura o espírito ou o conhecimento intuitivo. A significação -276- O simbolismo das chamas purificadoras e regeneradoras se desdobra do Ocidente aos confins do Oriente. A liturgia católica do fogo novo é celebrada na noite de Páscoa. O divino Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos sob a forma de línguas de fogo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o fogo é elemento que purifica e limpa, tornando-se, destarte, o veículo que separa o puro do impuro, destruindo eventualmente este último. Por isso mesmo, o fogo é apresentado como instrumento de punição e juízo de Deus (Sl 50,3; Mc 9,49; Tg 5,3; Ap 8,9). Cristo fala de um fogo que não se apagará (Mt 5,32; 18,8; 25,41). Deus será como um fogo, distinguindo o bom do menos bom (Sl 17,3; 1Cor 3,15). Sua força, que tudo penetra, purifica também: nesse sentido é que o batismo de Jesus havia de agir como fogo (Mt 3,11).
Os taoístas penetram nas chamas para se liberar do condicionamento humano, uma verdadeira apoteose, como a de Héracles, que, para se despir do invólucro mortal, subiu a uma fogueira no monte Eta. Mas há os que, como os mesmos Taoístas, entram nas chamas sem se queimar, o que faz lembrar o fogo
que não queima do hermetismo ocidental, ablução, purificação alquímica, fogo este que é simbolizado pela Salamandra.[1]
O fogo sacrificai do Hinduísmo é substituído por Buda pelo fogo interior, que é simultaneamente conhecimento penetrante, iluminação e destruição do invólucro carnal. O aspecto destruidor do fogo comporta igualmente uma relação negativa e o domínio do fogo é também uma função diabólica. Observe-se, a propósito, a forja: seu fogo é, ao mesmo tempo, celeste e subterrâneo, instrumento de demiurgo e de demônio. A grande queda de nível é a de Lúcifer, "o que leva a luz celeste", precipitado nas fornalhas do inferno: um fogo que brilha sem consumir, mas exclui para sempre toda e qualquer possibilidade de regeneração.
Em muitas culturas primitivas, os inumeráveis ritos de purificação, as mais das vezes, ritos de passagem, são característicos de culturas agrárias. Configuram certamente os incêndios dos campos, que se revestem, em seguida, de um tapete verde de natureza viva. Entre os Gauleses, os sacerdotes Druidas faziam grandes fogaréus e por eles faziam passar o rebanho para preservá-lo de epidemias. O grande político e excepcional escritor Caio Júlio César (100-44 a.e.c.) nos fala, no B. Gal. 6, 16, 9, de gigantescos manequins, confeccionados de vime, que os mesmos Druidas enchiam de homens e animais e transformavam em fogueira.
O Fogo, nos ritos iniciáticos de morte e renascimento, associa-se a seu princípio contrário, a Água. Os chamados Gêmeos de Popol-Vuh do mito maia, após sua incineração, renascem de um rio, onde suas cinzas foram lançadas.[2]
Mais tarde, os dois heróis tornam-se o novo Sol e a nova Lua, Maia-Quiché, efetuando uma nova diferenciação dos princípios antagônicos, fogo e água, que lhes presidiram à morte e ao renascimento. Desse modo, a purificação pelo fogo é complementar da purificação pela água, tanto num plano microcósmico (ritos iniciáticos), quanto num aspecto macrocósmico (mitos alternados de Dilúvios, Grandes Secas ou Incêndios). Para os Astecas, o fogo terrestre, ctônio, representa a força profunda que permite a complexio
oppositorum, a união dos contrários, a ascensão, a sublimação da água em nuvens, isto é, a transformação da água terrestre, água impura, em água celestial, água pura e divina. O fogo é, pois, o motor, o grande responsável pela regeneração periódica. Para os Bambaras o fogo ctônio configura a sabedoria humana e o urânio, a sabedoria divina.
Quanto à significação sexual do fogo, é preciso observar que ela está intimamente ligada à primeira técnica de obtenção do mesmo pela fricção, pelo atrito, pelo vaivém, imagem do ato sexual, enquanto a espiritualização do fogo estaria ligada à aquisição do mesmo pela percussão. Mircea Eliade chega à mesma conclusão e opina que a obtenção do fogo pelo atrito é tida como o resultado, a "progenitura" de uma união sexual, mas acentua, de qualquer forma, o caráter ambivalente do fogo: pode ser tanto de origem divina quanto demoníaca, porque, segundo certas crenças arcaicas, o fogo tem origem nos órgãos genitais das feiticeiras e das bruxas.
Para Gaston Bachelard o "amor é a primeira hipótese científica para a reprodução objetiva do fogo e antes de ser o mesmo filho da madeira, é filho do homem... O método de fricção surge naturalmente. É natural, porque o homem tem acesso a ele por sua própria natureza. Na verdade, o fogo foi surpreendido em nós, antes de ser arrancado do céu..."[3] Há, consoante o mesmo Bachelard, duas direções ou duas constelações psíquicas na simbologia do fogo, segundo é obtido por percussão ou por atrito.
No primeiro caso, está intimamente ligado ao relâmpago e à flecha e possui um valor de purificação e iluminação, convertendo-se no prolongamento ígneo da luz. Diga-se, de caminho, que puro e fogo em sânscrito se designam pela mesma palavra: agnih, que é, aliás, um empréstimo do hitita Agnis, em latim ignis, fogo. A esse fogo espiritualizante se prendem os ritos de iniciação, o sol, os fogos de elevação e sublimação, em síntese, todo e qualquer fogo que visa à purificação e à luz. Opõe-se, nesse sentido, ao fogo sexual, obtido por fricção, como a chama purificadora se contrapõe ao centro genital da lareira matriarcal, como a exaltação da luz celeste se distingue do ritual de fecundidade agrária. Assim orientado, o simbolismo do fogo dimensiona a etapa mais importante da intelectualização do cosmo e afasta mais e mais o homem de sua condição animal. Prolongando ainda o símbolo nessa mesma direção, o fogo seria o deus vivo e pensante, que nas religiões arianas da Ásia recebeu o nome de Agni e Ator.
Em síntese, o fogo que queima e consome é um símbolo de purificação e regeneração, mas o é igualmente de destruição. Temos aí nova inversão do símbolo. Purificadora e regeneradora a água também o é. Mas o fogo se distingue da água na medida em que ele configura a purificação pela compreensão, até sua forma mais espiritual, pela luz da verdade; a água simboliza a purificação do desejo até sua forma mais sublime, a bondade.
Já se deu uma palavra acerca de Hera, no Capítulo V, como deusa minóica, associada a Zeus, e como deusa da fertilidade, após o sincretismo creto-micênico. No Capítulo VII voltamos a enfocá-la, dessa feita já como a rabugenta, irritadiça e vingativa esposa de Zeus, mas tudo dentro de uma perspectiva do poeta da Ilíada. Vamos, agora, completar-lhe, em parte, o mito, porque voltaremos a ela, quando se analisar o longo mitologema de Zeus.

Hesíodo é um poeta dos fins do século VIII a.e.c. Em seu poema Trabalhos e Dias lê-se que seu pai, originário de Cime, na Eólida, premido pela pobreza, emigrou da Ásia Menor para a Beócia. Aí teria nascido Hesíodo, na povoação de Ascra, junto ao monte Hélicon, consagrado a Apolo e às Musas. Aí viveu a vida árdua e difícil de um camponês pobre em país pobre. Na divisão da herança paterna, entrou em litígio com o irmão Perses, que subornou os juizes, "os reis comedores de presentes", e obteve a maior parte. Caído na miséria por causa de sua preguiça e inércia, teria recorrido a Hesíodo que, ameaçado pelo irmão de novo processo, o teria ajudado, oferecendo-lhe ainda como auxílio maior sua segunda obra, o poema Trabalhos e Dias, em que, como se verá, conjuga-se o trabalho com a justiça. Cronologicamente, a primeira produção do poeta-camponês denomina-se Teogonia.
Antes de se apresentar uma análise e comentário de ambos, vamos ver como estava a Grécia no século VIII a.e.c. e o que lhe aconteceu até o século VI a.e.c. -147- Passada a Idade Média Grega, quando novamente a cortina se levanta, tem-se a visão de uma Hélade bem diferente do ponto de vista político, social, religioso e econômico. Os reis haviam desaparecido em quase todas as partes e em lugar deles imperava uma sociedade aristocrática, caminhando também ela para sua própria decomposição. Em lugar do grande número de reinos, como vimos, de certa forma vassalos de Micenas, havia surgido um sem-número de unidades políticas independentes, fechadas em si mesmas, sem vassalagem e sem dever fidelidade a ninguém: na realidade, uma cidade-Estado, a pólis, unidade política típica da Grécia clássica. É claro que, como acentua A. Andrews[1], permaneceram em várias Cidades gregas traços da velha monarquia, como o título de rei outorgado em plena democracia ateniense a um magistrado eleito anualmente, o Arconte-Rei, mas cuja função não era mais política e sim religiosa.
Segundo parece, a transição da monarquia para a aristocracia se fez em geral naturalmente, sem grandes violências, o que não irá acontecer na passagem da aristocracia para a tirania.
A transição da monarquia para a aristocracia, e mais precisamente para a oligarquia, teve também como ponto de apoio a religião. A explicação não é difícil. Cada clã, cada génos, cada família era um pequeno mundo com sua religião, seu patrimônio, seu chefe e mais ainda com sua árvore genealógica, pois que o génos remontava, em última análise, a um herói ou a um deus. A soma dos géne, dos clãs, vai gerar a phratría, a "irmandade", e da junção das fratrias nascerá a phylé, isto é, a tribo. Tais associações não feriam a soberania de cada uma delas separadamente. A reunião dos géne, phratríai e phylaí (clãs, fratrias e tribos) resultaria na criação da pólis, que, na expressão de Glotz, se pode definir como um "agrupamento político, econômico e militar que tem por centro um altar".[2] Desse modo, os gregos evoluíram de um regime patriarcal para um forte regime oligárquico, sintetizado na pólis aristocrática, que passa a ter também o seu herói, o herói epônimo, isto é, o que dá seu nome à Cidade e a protege, em conseqüência.
Ora, como as funções religiosas eram hereditárias em cada família e se partia do princípio de que essas funções religiosas -148- conferiam poderes políticos, a disputa pelo poder foi muitas vezes violenta e acirrada entre as famílias de maior tradição e prestígio dentro da pólis. De qualquer forma, sempre se salvavam as aparências: os magistrados eram escolhidos por um determinado período, mas sempre e apenas entre os Eupátridas, os nobres; às vezes se elegia um único magistrado por um longo mandato ou um colegiado por um ano somente. Tudo se fazia numa ekklesía, numa assembléia, a que o povo comparecia para "aceitar e aplaudir", porque só os nobres tinham vez, voz e voto.. .
Do ponto de vista religioso, foi pelos fins do século VIII a.e.c. que os santuários de Olímpia e Delfos começaram a projetar-se: no primeiro, sob a égide de Zeus, os nobres disputavam as competições atléticas e, no segundo, reinava Apolo, o guardião da aristocracia. Em síntese: como os deuses eram os donos do Olimpo, os Eupátridas eram os senhores da pólis. É que sendo a posse das terras uma das principais formas de riqueza e a tática militar predominante na época era o combate singular, o que exigia que o guerreiro fosse suficientemente rico para adquirir cavalos, carros de guerra e armamento, só os aristocratas podiam defender a Cidade, tornando-se, por isso mesmo, seus únicos proprietários e senhores. Donos da pólis, o eram igualmente das melhores terras, bem como do sacerdócio (que inclusive era hereditário em algumas famílias) e da justiça.
Vamos passar em revista, se bem que sumariamente, os tópicos principais acima mencionados, para que se possa acompanhar-lhes a evolução até o século VI a.e.c. e as graves conseqüências que hão de culminar numa profunda metamorfose política, social, econômica e religiosa de algumas Cidades gregas, principalmente Atenas
Nos inícios do século VII a.e.c., ocorreram no mundo grego sérias transformações que muito contribuíram para enfraquecer os Eupátridas. Com a criação do sistema monetário (foi certamente do Oriente que os gregos trouxeram o sistema de pesos e medidas e o uso das moedas de ferro e prata) e o conseqüente desenvolvimento do comércio, surgiu na Hélade uma nova classe social: a classe dos mercadores e dos artesãos, que rapidamente se enriqueceu, tornando-se rival dos Eupátridas. A posse de terras deixa, assim, de ser a única forma de riquezas. O próprio Sólon, que, apesar de nobre, se dedicara ao comércio, coloca o ouro e a prata no mesmo nível da terra. As mudanças operadas na tática militar tiveram outrossim papel importante nas transformações sociais. -149- As armas de guerra, espada, lança, escudo, diminuem de tamanho, tornando-se acessíveis à nova classe média. Surge, nessa época, o guerreiro típico da Grécia: o hoplita (soldado de infantaria pesadamente armado), que, pelas próprias condições de seu armamento, não podia lutar sozinho. Aparecem então as falanges. Os navios de guerra, uma vez que o comércio marítimo aperfeiçoara a construção das naus, adquirem grande importância, crescendo, com isso, o número de remeiros. Dependendo destes e dos hoplitas para proteger a pólis, os Eupátridas, pouco a pouco, perderam o monopólio de defendê-la. E como a defesa da cidade implicava no direito de dirigi-la, a "nova classe" passou a fazer reivindicações políticas.
Não seria, talvez, fora de propósito acentuar a importância que teve nas origens da pólis o desaparecimento do herói, do guerreiro, como categoria social particular e como um homem dotado de uma areté e de uma timé específicas. "A transformação do guerreiro da epopéia em hoplita combatente em formação cerrada assinala não apenas uma revolução na técnica militar, mas traduz também no plano social, religioso e psicológico uma mutação decisiva".[3]
De outro lado estavam os camponeses endividados, cuja situação era degradante. Vigorava desde a época dos Eupátridas a hipoteca somática (hipoteca do próprio corpo, bem como dos membros da família), o que fatalmente conduzia à escravidão.
É conveniente deixar claro que o problema da posse da terra e do direito grego não parece de todo resolvido. Levando-se em conta algumas metáforas elásticas da poesia de Sólon, é possível fazer uma ideia aproximada do que realmente se passava à época de Hesíodo até as reformas soloninas. Tudo indica que o pequeno proprietário tinha sua terra onerada de dívidas, seja porque o camponês, desde os tempos da insegurança geral da Idade Média Grega, fosse obrigado ou forçado a pagar aos nobres um preço pela proteção que estes lhes davam à terra, seja porque os produtos da mesma eram taxados pelos Eupátridas. De qualquer forma, a inadimplência levava o trabalhador e sua família à escravidão. Qualquer que fosse a situação e, embora não se tenham condições de ser muito preciso sobre a mesma, o fato é que a revolução era iminente, quando entrou em cena o grande reformador ateniense Sólon. Este afirma categoricamente em seus versos[4] que "libertou a terra -150- e que trouxe de volta a Atenas muitos de seus filhos que haviam sido vendidos como escravos". Vale a pena transcrever o fragmento 36 de um de seus Iambos, para se fazer um balanço do que se passava em Atenas e certamente em muitas Cidades Gregas e das providências corajosas tomadas por Sólon:
Minha testemunha perante o tribunal da Justiça há de ser a grande Mãe dos deuses olímpicos, a Terra negra. Dela arranquei os marcos plantados em todas as direções. Outrora escrava, agora é livre! Trouxe de volta a Atenas, a pátria fundada pelos deuses, muitos atenienses que haviam sido vendidos como escravos. Uns o foram ilegalmente, outros, consoante o direito vigente. De tanto errarem pelo mundo, arrastados pela miséria, alguns nem mais falavam a língua grega! Outros vegetavam em torpe escravidão, trêmulos diante de seus senhores. A todos eu os tornei livres. Eis o que realizei com minha autoridade, apoiando a força na justiça. (...)
O poeta-legislador refere-se evidentemente à sua famosa seisákhtheia que significa, etimologicamente, "retirar o peso, tirar o fardo de..." Em termos político-sociais, foi o cancelamento efetuado pela reforma de Sólon das dívidas públicas e privadas e proibição, para o futuro, de qualquer empréstimo com garantia da pessoa. Aboliu ainda todas as leis de Drácon, exceto as relativas ao homicídio, e fez a revisão da Constituição Ateniense, de tal sorte que ainda o mais pobre os cidadãos tivesse alguma participação na administração pública. A reforma solonina pode denominar-se uma timocracia ou uma hierarquização de direitos, segundo a riqueza de cada um. O direito de voto dos Tetes (cidadãos de baixa renda) na Assembléia (Ekklesía), no entanto, justifica que Sólon seja considerado como o iniciador da democracia ateniense. Deu-lhe, ao menos, uma moldura.
Outro problema sério para o povo era o direito grego. Se pelo que se sabe, até o momento, da Linear B, não havia código algum escrito de direito no período micênico, durante toda a Idade Média os helenos se tornaram ainda mais analfabetos. Só entre os séculos IX e VIII a.e.c. é que apareceram no mundo grego vários alfabetos, que paulatinamente se unificaram, mas cuja origem é uma só: o alfabeto fenício. Pois bem, o direito grego oral, consuetudinário, -151- estava nas mãos dos nobres, dos Eupátridas, que, por "conhecimento hereditário", pretendiam interpretá-lo e aplicá-lo. Era o direito baseado na thémis, "têmis" (Thémis, "Têmis", é a deusa da justiça), isto é, na justiça de caráter divino, uma espécie de ordálio, cujo depositário é o rei, o eupátrida, que decide em nome dos deuses. Não foi apenas Hesíodo que se queixou dos "reis comedores de presentes", que não raro julgavam em seu próprio proveito... Foi exatamente com isto inclusive que Sólon tentou romper, substituindo a têmis pela díke, "dique", isto é, pela justiça dos homens, baseada em leis escritas. Lamentavelmente, porém, enquanto as aristocracias não foram derrubadas, a administração da justiça continuou a ser manipulada por magistrados e conselhos aristocráticos. E a violência, que Sólon tanto se esforçou por evitar, foi inevitável. Suas reformas acabaram por desagradar a todos: aos Eupátridas, porque perderam seus privilégios e ao povo que preferia transformações radicais... Incapazes, portanto, de satisfazer sobretudo às aspirações populares, os legisladores foram substituídos pelos Tiranos.
Týrannos, tirano, palavra não grega, talvez provinda da Ásia Menor, significou, em princípio, "soberano, rei", sem nenhuma conotação pejorativa, como no título da célebre tragédia de Sófocles, Oidípus Týrannos, Édipo Rei. O tirano é, as mais das vezes, um líder proveniente da aristocracia, que se une à classe média e ao povo para defendê-los contra os nobres. Os séculos VII e VI a.e.c. na Grécia são dominados pelos tiranos: Pisístrato, em Atenas; Cípselo, em Corinto; Polícrates, em Samos; Fálaris, em Agrigento; Gelão, em Siracusa. A julgar por Atenas, Corinto, Siracusa e Samos, a tirania incentivou a agricultura; despendeu grandes somas em construções públicas; apoiou os concursos competitivos e incentivou a formação musical e atlética do povo grego... Mas, exatamente por sua ilegitimidade e por não reconhecer limites constitucionais a seu poder, o Týrannos acabou por tornar-se "tirano", um verdadeiro déspota esclarecido! Em Atenas, a bem da verdade, as coisas foram mais tranqüilas: Pisístrato procurou manter as leis de Sólon e reinou a paz na Acrópole, pelo menos nos últimos dezenove anos de seu governo. "Governou, diz Aristóteles, com moderação e mais como bom cidadão do que como tirano". Substituído pelos filhos, Hiparco e Hípias, a tirania, no entanto, não durou muito em Atenas. Mas quando, em 510 a.e.c. a mesma foi derrubada, o povo ateniense já estava bastante amadurecido para tomar o governo em suas mãos. Ia começar realmente a democracia com Clístenes... -152- Eis aí, em linhas muito gerais, o mundo em que viveram os Gregos, do século VII ao VI a.e.c. Se Hesíodo viveu e escreveu nos fins do século VIII a.e.c, também ele participou de uma parcela desse tumultuado período de transição por que passaram tantas Cidades da Hélade.
Vamos ver agora, através de seus dois poemas, o antídoto religioso que ele nos apresenta para os males de seu século, bem como seus sonhos e conselhos para os séculos futuros. Poder-se-ia pensar que o poeta de Ascra tem pouco a ver com os fatos que procuramos resumir. Não é assim. Quem procurou, na Teogonia, partir do Caos para a justiça, cifrada em Zeus, e nos Trabalhos e Dias conjugar o trabalho com a justiça está inteiro em seu século e nos séculos vindouros! Far-se-á, primeiro, em esquema, uma divisão dos dois poemas e, em seguida, um comentário sobre ambos.[5]
Teogonia, de theós, deus, e gígnesthai, nascer, significa nascimento ou origem dos deuses. Trata-se, portanto, de um poema de cunho didático, em que se procura estabelecer a genealogia dos Imortais. Hesíodo, todavia, vai além e, antes da teogonia, coloca os fundamentos da cosmogonia, quer dizer, as origens do mundo.
Esquematicamente, o primeiro estágio da Teogonia pode apresentar-se assim:
- a) Invocação às Musas (versos 1-115), dividida em duas partes: uma narrativa (versos 1-34) e um hino (versos 35-115), em que Hesíodo celebra as Musas, deusas que deleitam o coração de Zeus e inspiram os poetas.
- b) Nascimento do Universo (versos 116-132). É o estágio primordial (era panteística). No princípio era o Caos (vazio primordial, vale profundo, espaço incomensurável), matéria eterna, informe, rudimentar, mas dotada de energia prolífica; depois veio Géia (Terra), Tártaro (habitação profunda) e Eros (Amor), a força do desejo. O Caos deu origem a Érebo (escuridão profunda) e a Nix (Noite). Nix gerou Éter e Hemera (Dia). De Géia nasceram Urano (Céu), Montes e Pontos (Mar).
Como se observa, na primeira fase há nítido predomínio do mundo ctônio, já que a cosmogonia hesiódica se desenvolve ciclicamente de baixo para cima, das trevas para a luz.
- c) Reinado de Urano (versos 133-452). À fase da energia prolífica segue-se a primeira geração divina, em que Urano (Céu) se une a Géia (Terra), donde numerosa descendência. Nasceram primeiro os Titãs e depois as Titânidas, sendo Crono o caçula, embora aqui figure apenas como o caçula dos irmãos.
Titãs: Oceano, Ceos, Crio, Hiperíon, Jápeto, Crono. Titânidas: Téia, Réia, Mnemósina, Febe, Tétis.
Após os Titãs e Titânidas, Urano e Géia geraram os Ciclopes e os Hecatonquiros (Monstros de cem braços e de cinqüenta cabeças) .
Por solicitação de Géia, Crono mutila a Urano, cortando-lhe os testículos. Do sangue de Urano que caiu sobre Géia nasceram, "no decurso dos anos", as Erínias, os Gigantes e as Ninfas dos Freixos, chamadas Melíades; da parte que caiu no mar e formou uma espumarada nasceu Afrodite. Do sangue de Urano nasceram: as Erínias (Aleto, Tisífone e Megera), Gigantes (Alcioneu, Efialtes, Porfírio, Encélado...), ninfas Melíades, Afrodite.
Em seguida, Nix (Noite), ainda sozinha, deu à luz entre outros: Moro (Destino), Tânatos (Morte), Hipno (Sono), Momo (Sarcasmo) , Hespérides, Moiras, Queres, Nêmesis, Gueras (Velhice), Éris (Discórdia) ... -154-Pontos (Mar) gerou sozinho a Nereu, o "velho do mar", e, depois, unindo-se a Géia, teve como filhos: Taumas, Fórcis, Ceto e Euríbia.
Nereu uniu-se a Doris e nasceram as cinqüenta Nereidas, de que destacamos as seguintes: Anfitrite, Tétis, Eunice, Galatéia, Dinâmene, Psâmate...
Taumas com Electra, filha de Oceano, teve Íris e as Harpias (Aelo, Ocípete, às quais mais tarde se acrescentou Celeno).
Fórcis e Ceto tiveram as Gréias, "as velhas" (Enio, Pefredo, Dino), bem como as Górgonas (Ésteno, Euríale e Medusa).
Medusa foi decapitada por Perseu e do sangue do monstro nasceram Crisaor e Pégaso.
Crisaor e Calírroe, filha de Oceano, geraram o gigante Gerião, de três cabeças, e o monstro metade mulher, metade serpente, Équidna.
Équidna juntou-se a Tifão e dele gerou Ortro, o cão de Gerião, Cérbero, a Hidra de Lerna, Quimera, Fix (Esfinge) e o Leão de Neméia. -155-
Oceano uniu-se a Tétis e esta deu à luz primeiramente os rios, entre estes: Nilo, Alfeu, Erídano, Estrímon, Istro, Fásis, Aquelôo, Símois, Escamandro.
A seguir pôs no mundo as três mil Oceânidas, sendo as principais: Electra, Doris, Clímene, Calírroe, Dione, Plutó, Europa, Métis, Eurínome, Calipso, Perseida, Idéia, Estige...[6]
Hiperíon amou Téia e deles nasceram Hélio (Sol), Selene (Lua), Eos (Aurora).
Crio uniu-se a Euríbia e tiveram Astreu, Palante e Perses.
Astreu e Eos tiveram como filhos os ventos Zéfiro, Bóreas e Noto.
Ceos conquistou Febe e nasceram Leto e Astéria.
Palante uniu-se a Estige e geraram Zelos (Ciúme), Nique (Vitória) , Bia (Força), Cratos (Poder).
Perses com Astéria teve a poderosa Hécate, a quem Zeus concedeu grandes poderes.
- d) Com a castração de Urano, Crono assume o poder, mas é destronado por Zeus: é a Segunda Geração Divina (versos 453-885), que marca a luta de Zeus pelo poder. Crono se casa com sua irmã Réia e nasceram Héstia, Deméter, Hera, Hades, Posídon e Zeus.
Graças a um estratagema de Réia, Crono engoliu uma pedra em vez de devorar ao caçula Zeus, como fizera com todos os filhos anteriores. Zeus liberta os Ciclopes e destrona Crono, que vomita os filhos que havia engolido.
Dentro da Segunda Geração Divina, o poeta intercala o casamento de Jápeto e Clímene e o mito de Prometeu, que é, de certa forma, repetido e completado na segunda obra do poeta, Trabalhos e Dias.
Jápeto se uniu a Clímene e nasceram Atlas, Menécio, Prometeu e Epimeteu. -157-
Epimeteu se une a Pandora, a mulher fatal, modelada por Hefesto. A partir de então se iniciam as lutas de Zeus pelo poder. Após libertar do Tártaro os Ciclopes, que lhe deram o trovão, o raio e o relâmpago, Zeus libertou também os Hecatonquiros, pois todos eles haviam sido lançados nas trevas por Crono. Foram dez anos de combate, sem nenhum desfecho. Os Hecatonquiros, tendo recebido o néctar e a ambrosia, foram tomados de grande furor bélico. Então Zeus com eles, seus demais irmãos e aliados acabou levando de vencida os terríveis Titãs, que foram lançados nas profundezas do Tártaro, local tenebroso, aonde só vai, e assim mesmo raramente, a mensageira Íris, buscar o Orco, ou seja, a água do Estige para juramento dos deuses.
Géia, unida a Tártaro, gerou o mais terrível dos monstros, Tifão ou Tifeu, que tem nas espáduas cem cabeças de serpente. Tifão investiu contra Zeus e, após terríveis combates, este o fulminou e o lançou no Tártaro. Foi a última batalha.
- e) Terminada a longa refrega, Zeus consolidou seu poder, tornando-se o pai dos deuses e dos homens. Repartiu suas honras com os outros Imortais e iniciou seu reinado para sempre. Seus múltiplos casamentos refletem-lhe o poder de fecundação. Nova era se abre para Hesíodo: com Zeus está a Dique, a nova Justiça. E a Terceira e última Geração Divina: o estágio olímpico de Zeus (versos 886-964).
Zeus tomou como primeira esposa a Métis (Sabedoria, Prudência) , mas, grávida de Atena, o deus a engoliu, para que ela não tivesse um filho mais poderoso que o pai. Atena acabou nascendo da cabeça de Zeus.
Zeus uniu-se a Têmis (Lei divina, Eqüidade) e nasceram as Horas: Eunômia, Dique e Irene, bem como as Moiras (Cloto, Láquesis e Átropos).[7]
Zeus com Eurínome gerou as Cárites (Graças): Aglaia, Eufrósina e Talia.
Zeus e Deméter tiveram por filha a Perséfone.
Zeus e Mnemósina foram pais das nove Musas.
Zeus com sua "legítima" esposa Hera foi pai de Hebe, Ares e Ilítia.
Zeus amou a filha de Atlas, Maia, e dela teve Hermes.
Zeus com a mortal Sêmele fo pai de Dioniso.
Zeus uniu-se por fim a Alcmena, que se tornou mãe de Héracles.
Hera, "por cólera e desafio ao esposo", gerou sozinha a Hefesto.
Posídon e sua esposa Anfitrite foram pais de Tritão.
Ares foi amante de Afrodite e tiveram Fobos (Medo), Deimos (Pavor) e Harmonia.
Hefesto teve por esposa Aglaia, uma das Cárites.
Dioniso amou a loura Ariadne, filha de Minos.
Héracles, após tantos e sofridos trabalhos, desposou no Olimpo a Hebe. Hélio uniu-se a Perseida e dela teve Circe e o rei Eetes.
Eetes casou-se com Idíia e teve Medéia.
O poema se encerra (versos 965-1.022) com o Catálogo dos Heróis e o anúncio de um Catálogo de Mulheres, o qual não existe nos manuscritos.
Vejamos então a heroogonia, a genealogia dos heróis, consoante Hesíodo:
Jasão e Deméter foram pais de Pluto.
Cadmo e Harmonia tiveram Ino, Sêmele, Agave, Autônoe e Polidoro.
Crisaor e Calírroe geraram o cruel Gerião.
Titono e Eos foram pais de Mêmnon e Emátion.
Céfalo e a mesma Eos geraram Faetonte.
Jasão e Medéia tiveram um filho, Medéio. -159-
Éaco uniu-se à nereida Psâmate, de que nasceu Foco.
Peleu e Tétis geraram o grande Aquiles.
Anquises e Afrodite foram os pais de Enéias.
Ulisses e Circe geraram Ágrio, Latino e Telégono. Ulisses e Calipso tiveram Nausítoo e Nausínoo.
"Estas, diz o poeta, são as imortais que entraram no leito de mortais e geraram filhos semelhantes aos deuses" (1.019-1.020).
Aí estão, em sua quase totalidade, a cosmogonia, a teogonia e a heroogonia do poeta de Ascra. Este levantamento é de importância capital para nós, primeiro porque Homero, e sobretudo Hesíodo, serão o ponto de partida, como já se assinalou, na elaboração do mito em nosso livro; segundo, porque nos pareceu necessário apresentar de uma vez por todas os nomes dos deuses e personagens míticas o mais possível corretamente transcritos ou adaptados em nossa língua. O leitor terá, agora, acreditamos, onde buscar os "nomes divinos" e sua geneologia nas fontes mais antigas, antes que os mesmos se tenham "enriquecido" com tantas variantes.
O escritor latino Marco Fábio Quintiliano (35-110 e.c.) fez um juízo severo acerca da Teogonia: raro assurgit Hesiodus magnaque pars eius in nominibus est occupata (Inst. 10, 1,52): "raramente se nota em Hesíodo inspiração poética e grande parte de sua obra é uma catalogação de nomes". A crítica, em parte, é injusta, porque, para os Gregos, a obra do poeta da Beócia se constituía num verdadeiro encanto, por lhes recordar os tradicionais e sagrados mitos pátrios. E muito mais que tudo isso, Hesíodo, num trabalho ingente, enfeixou e ordenou em genealogias, de maneira impressionante, a desordem caótica em que vegetavam os velhos mitologemas nacionais. Estabelecendo as gerações divinas e os mitos cosmogônicos, o poeta fincou as estacas da organização do cosmo e explicou-lhe a divisão em três níveis: celeste, ctônio e telúrico. A Teogonia é, sem dúvida, um dos principais, se não o mais importante documento para a história da religião grega e a obra mais antiga que expôs em conjunto o mito helênico.
Além do mais, a Teogonia não é apenas uma listagem fria de deuses. O poeta grego, intencionalmente, extrapola. Vai muito além -160- do que poderia parecer, aos olhos dos desavisados, de uma enumeração gélida de divindades.
Em primeiro lugar, para Hesíodo, o poeta tem uma missão a cumprir, já que, como poeta, o poietés em grego (donde nos veio através do latim poeta (m) o vocábulo poeta) não é tão-somente um "fazedor", um criador, mas antes um legislador em nome das Musas, as detentoras de todas as artes e é este o verdadeiro sentido de poietés, como atesta Platão.
Como legislador, em nome das Musas, o poeta, o poietés, é um vidente, um mántis, um adivinho. Não é este, porventura, o significado em latim de uates, "poeta", cujo sentido primeiro é projeta, adivinho, donde o latim uaticinium, "vaticínio", previsão?
Se o poeta sabe ser "fingidor", sabe igualmente dizer a verdade, como ele próprio afirma, pelos lábios das Musas:
Pastores que habitais os campos (. . .) sabemos relatar ficções muito semelhantes à realidade, mas, quando o queremos, sabemos também proclamar verdades. (Teog. 26-27)
Em segundo lugar, já o mostramos, o século VIII a.e.c. é marcado pelo pesado fardo dos Eupátridas, que manipulavam, além de outros poderes, a justiça, concebida sob forma temística. Ora, não é precisamente a díke, "a justiça dos homens", a projeção de todo o ideal de Hesíodo? Seu desejo é que a justiça, a paz e a disciplina reinem para sempre e que a Moîra não seja mais uma conseqüência do acaso, mas a vontade de Zeus.
No plano estritamente religioso, o poema em apreço não é também um mero catálogo de deuses. Projetando o social no divino ou tentando modelar o social pelo divino, o poeta faz o deslocamento do Kháos (Caos), da rudis indigestaque moles, da massa informe e confusa, como diz Ovídio (Met. 1,7), para Zeus, isto é, das trevas para a luz. Trata-se, na realidade, consoante a tese brilhante de Bachofen[8], da substituição de um tipo de religião por outro, em que o Caos é suplantado por Zeus, o teratomorfismo é substituído pelo antropomorfismo; as trevas são vencidas pela luz; os deuses ctônios pelos olímpicos; o matriarcado pelo patriarcado; Éros, símbolo da promiscuidade sexual, é dominado pelo lógos, pela razão, pela ordem, pela lei. E se a Teogonia foi denominada a "gesta de Zeus" é exatamente porque o grande deus olímpico não se apresenta, e nem poderia fazê-lo, como criador, mas como conquistador e ordenador. Observando-se com atenção as hierogamias, quer dizer, os casamentos sagrados de Zeus, nota-se que o grande deus "antropomorfizado", após estabelecer com suas lutas e vitórias a justiça e a paz, tornou-se a síntese das qualidades divinas e humanas de um governante todo-poderoso, mas justo e civilizado.
Engolindo a Métis, tornou-se o detentor da sabedoria e da prudência: a marca é Atená, que lhe saiu das meninges. Com Têmis adquiriu não só a eqüidade, traduzida nas Horas, a disciplina, a justiça e a paz, mas também o poder sobre a vida e a morte, cifradas nas Moîras. Eurínome deu-lhe, com as Graças, o sentido da beleza e da alegria de viver. Deméter, a nutridora, assegurou-lhe a vida material e espiritual do império do mundo dos mortais. Mnemósina, com as nove Musas, abriu-lhe as portas para o domínio de todas as artes. Leto com Apolo e Ártemis, o sol e a lua, iluminou-lhe o percurso dia e noite. Com Hera celebrou a grande hierogamia, símbolo da perpetuidade da espécie. Maia deu-lhe Hermes, o conhecimento do visível e do invisível. A "mortal" Sêmele transmitiu-lhe com Dioniso o outro lado do "homem": a explosão dos instintos. Finalmente, outra mortal, Alcmena, comunicou-lhe, com Héracles, a força e o destemor.
Pode-se observar, assim, que o início com Métis, a sabedoria e a prudência, estampando o lado psíquico, se conjuga, no fim, com a força, projetando o físico: é a perfeita sizígia antropomórfica de Zeus.
Uma observação importante se impõe, antes de encerrarmos este comentário ao primeiro poema hesiódico. Quando dividimos o poema em três Gerações Divinas visamos tão-somente a dispor didaticamente "a bela desordem didático-poética" da Teogonia. Além do mais, concluímos que, realmente, estas em Hesíodo são três, representada cada uma pelo pai, que é o soberano no seio da família: Urano, Crono e Zeus. Este último e os demais deuses da última geração são os imortais do Olimpo, que consagraram a vitória final da ordem olímpica sobre a pletora de divindades locais, representadas pelas duas primeiras gerações. Não se trata apenas, como afirma categoricamente Pettazzoni, de "uma insurreição contra formas tradicionais, em nome de um princípio novo promulgado por uma palavra de revelação"[9], mas sobretudo da vitória da luz sobre as trevas. -162-
Pode-se, isto sim, afirmar que a vitória coube a uma religião mais plástica e mais bela, mas bem menos profunda que a anterior, ligada a potências essencialmente ctônias. Se em Homero e depois em Hesíodo houve nítida vitória do patriarcado sobre o matriarcado, a religião da época clássica buscará um consenso, um equilíbrio entre os dois princípios. O que Hesíodo deseja ressaltar, e isto é óbvio, é a "progressão do divino", na busca da díke, da justiça. E na expressão abalizada de Lesky, na Teogonia "não se trata apenas de uma sucessão violenta de vários reis e soberanos dos céus, mas existe um caminho ascendente para a ordem estabelecida por Zeus, que é o triunfo da justiça".[10]
Seja como for, na Teogonia, Hesíodo simplesmente prolonga, completa e ordena os deuses homéricos. "Homero é o gérmen fecundo miraculosamente amadurecido no outro lado do Egeu, Hesíodo é a messe que germinou dessa mesma semente transplantada para a Grécia continental". O segundo poema de Hesíodo denomina-se Trabalhos e Dias. Nesta obra, como já se assinalou, o poeta tenta reconduzir ao bom caminho, com conselhos salutares sobre o trabalho e a justiça, a seu irmão Perses. Este, na divisão da herança paterna, subornou os "reis", os juizes, e, ao que parece, obteve a maior parte da mesma. Caído, porém, na miséria, devido à sua desídia, recorreu ao irmão, que, vendo-se coagido e ameaçado, procurou orientá-lo através dos ensinamentos ministrados no poema.
O próprio título da obra é indício de que se trata de um poema didático, cujo objetivo é ensinar os trabalhos da terra e determinar as épocas propícias em que se devem empreendê-los. Os conselhos que o poeta prodigaliza ao agricultor e, em parte, ao navegante, poderiam, todavia, dar uma ideia falsa de que Hesíodo visaria tão-somente ao aspecto didático, mas, como na Teogonia, o autor vai muito além, introduzindo na obra um cunho nitidamente ético. Duas leis, neste poema, estão intimamente ligadas: a necessidade do trabalho e o dever de ser justo. Trabalho e Justiça jamais poderão separar-se, porque a carência do primeiro gera a violência, isto é, -163- a injustiça. A lei do trabalho é fundamentada numa razão metafísica, quer dizer, num mito: o mito de Pandora. Isto, porém, é uma longa história que se inicia com o castigo de Prometeu. . . Vamos esquematizar primeiramente o poema e, em seguida, após um breve comentário sobre o mesmo, entraremos diretamente no mito de Prometeu e Pandora e no mitologema das Cinco Idades.
A Introdução do poema (versos 1-10) se compõe de uma invocação às Musas da Piéria e a Zeus, guardião da justiça, concluindo com a finalidade da obra: dizer a seu irmão Perses a verdade.
- a) Primeira parte (versos11-382): Elogio do Ttrabalho e da Justiça.
Existe uma força moral que empurra o homem para o trabalho: é a emulação; mas há uma outra, que o afasta do mesmo: é a inveja. Hesíodo apresenta estas duas tendências inevitáveis sob a forma alegórica de duas Lutas, cifradas na Éris, a Emulação, a Discórdia (versos 11-41).
Ora, o trabalho é uma lei imposta pela vingança de Zeus. O mito de Prometeu e Pandora explica a origem dessa lei, assim como todas as desgraças que atormentam o homem (versos 42-105). A experiência histórica demonstra que é "inteiramente impossível escapar aos desígnios de Zeus". A necessidade da justiça é demonstrada pelo mito das Cinco Idades: a dedicação ao trabalho e à justiça assegura a prosperidade nesta vida e a recompensa na outra. Ao revés, os que se deixam dominar pela hýbris, pela "démesure", pelo descomedimento, serão implacavelmente castigados nesta e no além. Pertencemos todos à idade do ferro, da hýbris (versos 106-201). A lei do descomedimento reina em Téspias, onde reside o poeta, como demonstra o apólogo do gavião e do rouxinol. Elevando o tom, o autor traça um quadro das desgraças reservadas aos injustos e perjuros (versos 202-273). É necessário, pois, que Perses adquira riquezas e considerações, mas não pela violência e sim pelo trabalho e pela justiça. Numa série de preceitos exorta o irmão a conduzir-se com moderação e sabedoria perante os vizinhos, amigos e parentes (versos 274-382).
- b) Segunda parte (versos383-694): Trabalhos, Agricultura e Navegação.
O poeta expõe como a riqueza pode ser adquirida por meio da agricultura. Faz um painel dos diversos trabalhos agrícolas, com as -164- datas e duração dos ciclos, indicações sobre o pessoal, utensílios usados na lavoura e conselhos técnicos (versos 383-447). Seguem-se as épocas do plantio e da colheita: a semeadura; as precauções no inverno; a vinha; a colheita; o verão; a debulha e a vindima (versos 448-617). Filho de navegante, Hesíodo não se esquece de que existe para o camponês grego, tão próximo do mar, um meio de aumentar seus recursos: a perigosa arte da navegação e as estações mais propícias para sua prática (versos 618-694).
- c) Terceira parte (versos 695-828): Conselhos Morais e Religiosos.
A justiça e o trabalho, desde que se sigam os conselhos apontados pelo poeta, são a alavanca da prosperidade, mas a primeira grande providência recai na escolha cuidadosa de uma boa esposa. A segunda condição é a observância das normas da justiça para com os deuses, consoante a prática transmitida pela tradição, enunciada sob a forma de uma série de máximas (versos 695-764). O poema finaliza com uma espécie de calendário, que indica os dias propícios e nefastos aos trabalhos. Esse calendário teve uma ampla vigência astrológica que se lhe atribuiu posteriormente (versos 765-828).
Estamos agora num mundo inteiramente diferente da época dos heróis de Tróia. Se em Homero o homem é metrado, dimensionado pelo ver, em Hesíodo o métron, a medida, é o ser, isto é, o homem dimensionado pelo trabalho e pela necessidade de ser justo. É aqui precisamente o abismo que separa Homero de Hesíodo. No primeiro, o anér, o uir, o "herói", que vive à sombra do deus ex machina, com sua multiplicidade de epítetos (garantia de sua nobreza), o que o afasta do ser. Em Hesíodo, o ánthropos, o homo, isto é, o humus, o barro, a argila, o "descendente" de Epimeteu e Pandora, o que ganha a vida duramente com o suor de seu rosto. No primeiro, a hipertrofia do kállos, da beleza, do kósmos, da ordem, da areté, da excelência, da timé, da honra pessoal; no segundo, gué, a terra, érgon, o trabalho, sua dignidade e suas misérias. Em Homero, o herói se mede por sua areté, excelência, e timé, honra pessoal; em Hesíodo a areté e a tinté se traduzem pelo trabalho e pela sede de justiça.
O cenário agora é a natureza, a terra de Téspias, dura e cruel. É esse o teatro da luta diária e incessante do poeta. Natureza e -165- terra que ele imortalizou, sonhando com a dignidade do trabalho, respaldado na justiça.
Vamos tentar seguir-lhe os passos e as intenções através de Trabalhos e Dias. Não importa que o litígio de Hesíodo com seu irmão Perses tenha sido real, ou mero artifício literário, como alguns pensam. Importa sim que o poeta coloque como tema central de sua obra o valor e a dignidade do Trabalho e da Justiça:
Trabalhar não é vileza, vergonhoso é não trabalhar, (Trab. 311)
Poeta sumamente religioso, coloca a felicidade e a prosperidade no trabalho, porque assim o quer a lei divina e, por isso mesmo, é preciso não se deixar arrastar pelo comodismo e pela inércia, que levam à miséria:
A miséria pode ser alcançada, tanto quanto se quer, e sem fadiga: a estrada é plana e ela se aloja muito perto de nós. Os deuses imortais, todavia, exigiram o suor para se conquistar o mérito. Longo, árduo e principalmente escarpado é o caminho para se chegar até lá, mas, quando se atinge o cume, ele se torna fácil, por mais penoso que tenha sido. (Trab. 287-292)
A necessidade do trabalho é uma punição imposta ao homem por Zeus: o mito de Prometeu e o de Pandora explicam a origem do "desígnio do pai dos deuses e dos homens a que ninguém escapa" e a punição dos mortais. Prometeu, que, consoante a "etimologia popular" proviria de pró, antes, e manthánein, aprender, saber, perceber, "ver", significa exatamente o que o latim denomina prudens, de prouidens, o prudente, o "pre-vidente", o que percebe de antemão. Filho do Titã Jápeto e da Oceânida Clímene, teve como irmãos a Epimeteu, Atlas e Menécio.
Prometeu passa por haver criado os homens do limo da terra, mas semelhante versão não é atestada em Hesíodo. O filho de Jápeto, bem antes da vitória final de Zeus, já era um benfeitor da humanidade. Essa filantropia, aliás, lhe custou muito caro. Foi pelo homens que Prometeu enganou a seu primo Zeus por duas vezes. Numa primeira, em Mecone (nome antigo de Sicione, cidade da -166- Acaia), quando lá "se resolvia a querela dos deuses e dos homens mortais" (Teog. 535-536). Essa disputa certamente se devia à desconfiança dos deuses em relação aos homens, protegidos pelo filho de um dos Titãs, que acabavam de ser vencidos por Zeus. Pois bem, foi em Mecone que Prometeu, desejando enganar a Zeus em benefício dos mortais, dividiu um boi enorme em duas porções: a primeira continha as carnes e as entranhas, cobertas pelo couro do animal; a segunda, apenas os ossos, cobertos com a gordura branca do mesmo.[11] Zeus escolheria uma delas e a outra seria ofertada aos homens. O deus escolheu a segunda e, vendo-se enganado, "a cólera encheu sua alma, enquanto o ódio lhe subia ao coração". O terrível castigo de Zeus não se fez esperar: privou o homem do fogo, quer dizer, simbolicamente dos nûs, da inteligência, tornando a humanidade anóetos, isto é, imbecilizou-a:
Zeus te ocultou a vida no dia em que, com a alma em fúria, se viu ludibriado por Prometeu de pensamentos velhacos. Desde então ele preparou para os homens tristes cuidados, privando-os do fogo. (Trab. 47-50)
Novamente o filho de Jápeto entrou em ação: roubou urna centelha do fogo celeste, privilégio de Zeus, ocultou-a na haste de uma férula e a trouxe à terra, "reanimando" os homens. O Olímpico resolveu punir exemplarmente os homens e a seu benfeitor.
Contra os primeiros imaginou perdê-los para sempre por meio de uma mulher, a irresistível Pandora, de que se falará mais abaixo, e contra o segundo a punição foi terrível. Consoante a Teogonia (521-534), Prometeu fo i acorrentado com grilhões inextricáveis no meio de uma coluna. Uma águia enviada por Zeus lhe devorava durante o dia o fígado[12], que voltava a crescer à noite. Héracles, no entanto, matou a águia e libertou Prometeu[13], com a anuência do próprio Zeus, que desejava se ampliasse por toda a terra a glória de seu filho, e a despeito de seu ódio, Zeus renunciou ao ressentimento contra Prometeu, / que entrara em luta contra os desígnios do impetuoso filho de Crono (Teog. 533-534).
Para perder o homem, Zeus ordenou a seu filho Hefesto que modelasse uma mulher ideal, fascinante, semelhante às deusas imortais. Pandora é, no mito hesiódico, a primeira mulher modelada em argila e animada por Hefesto, que, para torná-la irresistível, teve a cooperação preciosa de todos os imortais. Atená ensinou-lhe a arte da tecelagem, adornou-a com a mais bela indumentária e ofereceu-lhe seu próprio cinto; Afrodite deu-lhe a beleza e insuflou-lhe o desejo indomável que atormenta os membros e os sentidos; Hermes, o Mensageiro, encheu-lhe o coração de artimanhas, imprudência, astúcia, ardis, fingimento e cinismo; as Graças divinas e a augusta Persuasão embelezaram-na com lindíssimos colares de ouro e as Horas coroaram-na de flores primaveris. . . Por fim, o Mensageiro dos deuses concedeu-lhe o dom da palavra e chamou-a Pandora[14], porque são todos os habitantes do Olimpo que, com este presente, "presenteiam" os homens com a desgraça! Satisfeito com a cilada que armara contra os mortais, o pai dos deuses enviou Hermes com o "presente" a Epimeteu.
Este se esquecera da recomendação de Prometeu de jamais receber um presente de Zeus, se desejasse livrar os homens de uma desgraça. Epimeteu[15], porém, aceitou-a, e, quando o infortúnio o atingiu, foi que ele compreendeu. . . (Trab. 60-89).
A raça humana vivia tranqüila, ao abrigo do mal, da fadiga e das doenças, mas quando Pandora, por curiosidade feminina, abriu a jarra de larga tampa, que trouxera do Olimpo, como presente de núpcias a Epimeteu, dela evolaram todas as calamidades e desgraças que até hoje atormentam os homens. Só a esperança permaneceu presa junto às bordas da jarra, porque Pandora recolocara rapidamente a tampa, por desígnio de Zeus, detentor da égide, que amontoa as nuvens. É assim, que, silenciosamente, porque Zeus lhes negou o dom da palavra, as calamidades, dia e noite, visitam os mortais. . .
Foi, pois, com Pandora[16] que se iniciou a degradação da humanidade. Para explicá-la, Hesíodo introduz o mito das Cinco Idades. Deste o poeta extraiu uma dupla lição: mostra a Perses, mais uma vez, a necessidade do trabalho e aos "reis", aos juizes, como e por que suas sentenças deveriam estar em consonância com a justiça. Daí a fórmula hesiódica:
Ouve a "díke", a justiça, e não deixes crescer a "hýbris", o descomedimento. (Trab. 213)
No mito das Idades, as raças parecem suceder-se segundo uma ordem de decadência progressiva e regular. De início, a humanidade gozava de uma vida paradisíaca, muito próxima da dos deuses, mas foi se degenerando e decaindo até atingir a idade do ferro, em que o poeta lamenta viver, pois nesta tudo é maldade: até a Vergonha e a Justiça abandonaram a terra.
Cada uma das Idades está "aparentada" com um metal, cujo nome toma e cuja hierarquia se ordena do mais ao menos precioso, do superior ao inferior: ouro, prata, bronze, ferro. O que surpreende é que em lugar das quatro idades, cujo valor se afere pelos metais que lhe emprestam o nome, Hesíodo tenha intercalado entre as duas últimas mais uma: a idade dos heróis, que não possui correspondente metálico algum. Há os que procuram explicar o fato por uma preocupação historicista, já que o poeta sabia que antes dele tinham vivido homens e heróis notáveis, que se imortalizaram em Tróia e em Tebas. "Para os inserir nesta progressão, foi necessário interromper a linha de decadência. E o seu destino último, habitar as Ilhas dos Bem-Aventurados, tem muito de semelhante ao que premiou os seres da primeira idade. Sendo fundamentalmente uma etiologia, o mito contém uma parte de reminiscências históricas que lhe conferem o especial interesse de ser o mais antigo texto em que elas surgem".[17] Victor Goldschmidt vai bem mais longe e propõe para a intercalação da Idade dos Heróis uma explicação de ordem religiosa: "O destino das raças metálicas, após seu desaparecimento da vida terrestre, consiste numa promoção à categoria de potências divinas. Os homens da idade de ouro e prata se convertem, depois da morte, em daímones, 'demônios' (potências benéficas, intermediárias entre os deuses e os homens), e os da idade de bronze vão formar o mundo dos mortos, no Hades. Só os heróis podem beneficiar-se com uma transformação que não poderia dar-lhes o que eles já possuem: são heróis e continuam sendo heróis. Sua inserção no relato das idades se explica, quando se observa que sua presença é indispensável para completar o quadro dos seres divinos que distingue, segundo a classificação tradicional, os theoí, os deuses propriamente ditos, dos quais não se fala no relato, das seguintes categorias: os 'demônios', os heróis e os mortos. Hesíodo havia, pois, elaborado seu relato mítico, unificando, adaptando duas tradições diversas, sem dúvida independentes em sua origem: de um lado, um mito genealógico das idades em relação com o simbolismo dos metais, em que se descreve a decadência da humanidade; de outro, uma divisão estrutural do mundo divino, cuja explicação se procurava através da remodelação do esquema mítico primitivo, para que fosse possível o encaixe dos heróis".[18]
De cunho histórico ou religioso, o fato é que as Cinco Idades não traduzem apenas a decadência do homem, mercê do "crime" de Prometeu e do envio de Pandora, mas acima de tudo a necessidade do trabalho e o dever de ser justo. Jean-Pierre Vernant, numa exposição feita em Cerisy, em 1960, nos legou um estudo muito sério e profundo acerca das Cinco Idades.[19]
Embora não se possa concordar in totum com o "forçado estruturalismo" do grande mestre francês, vale a pena sintetizar-lhe o longo artigo sobre a matéria em pauta, para que, antes da análise de cada uma das Idades, se possa ter uma idéia do conjunto.
Na estrutura das quatro primeiras raças distinguem-se dois planos diferentes: ouro e prata de um lado, bronze e heróis de outro. Cada um dos planos se divide em dois aspectos antitéticos, um positivo, outro negativo: são duas raças associadas, mas que se opõem, como a Díke (Justiça) contrasta com a Hýbris (Violência). O que diferencia o plano das duas primeiras raças do plano das duas seguintes é que ambos se relacionam com funções distintas, que representam tipos de agentes humanos, formas de ação, hierarquias sociais e psicológicas opostas. Há, de saída, uma primeira dissimetria: no primeiro plano (ouro e prata), a Díke (Justiça) é o valor dominante e a Hýbris (Violência) tem valor secundário; no segundo (bronze e heróis), sucede o contrário, a Hýbris predomina.
Isto explica, aliás, o destino diferente que aguarda, após a morte, as almas das duas primeiras raças daquelas pertencentes às duas seguintes. Os que nasceram sob a égide do ouro e da prata têm realmente uma promoção post mortem: convertem-se em daímones, "demônios" (intermediários benéficos entre os deuses e os homens). Esses daímones, todavia, agem diferentemente sobre os mortais, tanto quanto se diferenciaram na vida terrestre: os primeiros (da idade de ouro) são os daímones epictônios, quer dizer, continuam a viver e a agir na terra; os segundos (da idade de prata) são os daímones hipoctônios, isto é, vivem e agem sob a terra, na outra vida.[20] Ambos são objetos das "honras" que lhes tributam os mortais: "honras" maiores para os primeiros e inferiores para os segundos. Muito diferente é o destino póstumo daqueles que viveram as idades do bronze e dos heróis. Como raça, nenhum deles tem direito a uma promoção.
Os da idade de bronze, após perecerem na guerra, convertem-se no Hades em "mortos anônimos", nónymoi. Somente alguns heróis privilegiados conservam, por desígnio de Zeus, um nome e uma existência individual no além: levados para a ilha dos Bem-Aventurados, têm uma vida isenta de preocupações. Apesar desse prêmio, porém, esses heróis privilegiados não são objeto de veneração alguma, nem de culto, por parte dos homens. Contrariamente aos daímones, os heróis carecem de qualquer poder ou influência sobre os vivos.
A quinta e última, a idade de ferro, a época de Hesíodo, poderia dar a falsa impressão de, contrariamente às anteriores, não se poder desdobrar em dois aspectos antitéticos, mas de formar uma raça única. A leitura atenta do poema nos conduz, porém, a uma outra realidade. Dentro da idade de ferro, com efeito, existem dois tipos, rigorosamente opostos: um, voltado para a Díke (Justiça) , e outro só conhece a Hýbris (Violência). Com efeito, Hesíodo vive num mundo, numa "idade", em que o homem nasce jovem e, normalmente, morre velho; numa "idade", em que há leis naturais (o filho se parece com o pai) e morais (deve-se respeito ao hóspede, aos pais, aos juramentos); num mundo em que o bem e o mal, intimamente mesclados, se equilibram. Mas o poeta anuncia o advento de um outro momento, de um outro aspecto de vida dentro da idade de ferro, inteiramente oposto ao momento em que vive Hesíodo: os homens nascerão velhos, com as têmporas já encanecidas; os filhos não mais se assemelharão a seus pais; não se -171- conhecerão amigos, nem irmãos, nem parentes, nem juramentos. O único direito será a força. Nesse "período" entregue à desordem, à anarquia e à Hýbris, nenhum bem compensará o homem por seus sofrimentos. Vê-se, pois, que a idade de ferro também se dicotomiza e pode, assim, articular-se com as idades precedentes, também bipartidas, para formar e completar a estrutura de conjunto do mitologema.
Resumindo, pode-se dizer que Hesíodo apresentou o mitologema das Cinco Idades dentro de um esquema trifuncional:
— no primeiro plano (ouro e prata) há nítido predomínio da Díke (Justiça);
— no segundo (bronze e heróis) reina a Hýbris (a Violência);
— o terceiro (ferro) está vinculado a um mundo ambíguo, definido pela coexistência dos contrários: o bem se contrapõe ao mal; o homem opõe-se à mulher; o nascimento à morte; a abundância à penúria; a felicidade à desgraça. Díke e Hýbris, Justiça e Violência, uma ao lado da outra, oferecem ao homem duas opções igualmente possíveis entre as quais compete a ele escolher.[21] A esse mundo tão contrário o poeta acena com a perspectiva aterradora do uma vida humana em que triunfará a Hýbris, restando ao homem tão-somente a anarquia, a desordem e a infelicidade. Da idade do ouro, em que reinou a Díke, chegou-se, com degeneração da humanidade, à idade do ferro em que triunfou por fim a Hýbris.
Dada essa idéia de conjunto, tomando ainda por guias o supracitado estudo de Jean-Pierre Vernant, Paul Mazon[22] e, principalmente, os textos do próprio Hesíodo, tentaremos apresentar um ligeiro comentário de cada uma das Cinco Idades.
- a) Idade de Ouro. Os homens mortais da idade de ouro foram criados pelos próprios Imortais do Olimpo, durante o reinado de Crono. Viviam como deuses e como reis, tranqüilos e em paz. O trabalho não existia, porque a terra espontaneamente produzia tudo para eles. Sua raça denomina-se de ouro, porque o ouro é o símbolo da realeza. Jamais envelheciam e sua morte assemelhava-se a um sono profundo. Após deixarem esta vida, recebiam o basíleion géras, quer dizer, o privilégio real, tornando-se daímones epikhthónioi, intermediários aqui mesmo na terra entre os deuses e seus irmãos -172- viventes. Esse basíleion géras tem uma conotação toda especial, quando se leva em conta que os daímones epikhthónioi, esses grandes intermediários, assumem em "outra vida" as duas funções que, segundo a concepção mágico-religiosa da realeza, definem a virtude benéfica de um bom rei: como phýlakes, como guardiães dos homens, velam pela observância da justiça e, como plutodótai, como dispensadores de riquezas, favorecem a fecundidade do solo e dos rebanhos. Curioso é que Hesíodo emprega as mesmas expressões, que definem os "reis" da idade de ouro, para qualificar os "reis" justos do seu século. Os homens da idade de ouro vivem hòs theoí, como deuses; os reis justos do tempo do poeta, quando avançam pela assembléia e, por meio de suas palavras mansas e sábias, fazem cessar a hýbris, o descomedimento, são saudados como theòs hós, como um deus. E assim como a terra, à época da idade de ouro, era fecunda e generosa, igualmente a cidade, sob o governo de um rei justo, floresce em prosperidade sem limites. Ao contrário, o rei que não respeita o que simboliza seu sképtron, o seu cetro, afastando-se pela Hýbris do caminho que conduz à Díke, transforma a cidade em destruição, calamidade e fome. É que, por ordem de Zeus, trinta mil imortais invisíveis (que são os próprios daímones epikhthónioi) vigiam a piedade e a justiça dos reis. Nenhum deles, que se tenha desviado da Díke, deixará de ser castigado mais cedo ou mais tarde pela própria Díke.
- b) Idade de Prata. Foram mais uma vez os deuses os criadores da raça de prata[23], que é também um metal precioso, mas inferior ao ouro. À soberania piedosa do rei da idade de ouro fundamentada na Díke opõe-se uma "Hýbris louca". Tal Hýbris, porém, nada tem a ver com a Hýbris guerreira: os homens da idade de prata mantêm-se afastados tanto da guerra, quanto dos labores campestres. Essa Hýbris, esse descomedimento, é uma asébeia, uma impiedade, uma adikía, uma injustiça de caráter puramente religioso e teológico, uma vez que os "reis" da raça de prata se negam a oferecer sacrifícios aos deuses e a reconhecer a soberania de Zeus, senhor da Díke. Exterminados por Zeus, os homens da raça de prata, recebem, no entanto, após o castigo, honras menores é verdade, mas análogas às tributadas aos homens da idade de ouro: tornam-se daímones hypokhthónioi, intermediários entre os deuses e os homens, mas agindo de baixo para cima, na outra vida. Além do mais, -173- os mortais da raça de prata apresentam fortes analogias com os Titãs: o mesmo caráter, a mesma função, o mesmo destino. Orgulhosos e prepotentes, mutilam a seu pai Urano e disputam com Zeus o poder sobre o universo. Reis, pois que Titán em grego parece ser da mesma família etimológica que Títaks, rei, e Titéne, rainha, os Titãs têm por vocação o poder. Face a Zeus, todavia, que representa para Hesíodo a soberania da ordem, da Díke, os Titãs simbolizam o mando e a arrogância da desordem e da Hýbris. De um lado, portanto, estão Zeus e os homens da idade de ouro, projeções do rei justo; de outro, os Titãs e os homens da idade de prata, símbolos de seu contrário. Na realidade, o que se encontra no relato das duas primeiras idades é a estrutura mesma dos mitos hesiódicos da soberania.
- c) Idade de Bronze. Os homens da raça de bronze, consoante Hesíodo, foram criados por Zeus, mas sua matriz são os freixos, símbolo da guerra, como diz o poeta:
Filha dos freixos, era terrível e poderosa, bem diferente da raça de prata: aspirava tão-só aos trabalhos de Ares, fontes de dor, e ao descomedimento. (Trab. 145-146)
Trata-se aqui da Hýbris militar, da violência bélica, que caracteriza o comportamento do homem na guerra. Assim, do plano religioso e jurídico se passou às manifestações da força bruta e do terror. Já não mais se cogita de justiça, do justo ou do injusto, ou de culto aos deuses. Os homens da idade de bronze pertencem a uma raça que não come pão, quer dizer, são de uma idade que não se ocupa com o trabalho da terra. Não são aniquilados por Zeus, mas sucumbem na guerra, uns sob os golpes dos outros, domados "por seus próprios braços", isto é, por sua própria força física. O próprio epíteto da idade a que pertencem esses homens violentos tem um sentido simbólico. Ares, o deus da guerra, é chamado por Homero na Ilíada (VII, 146) de khálkeos, isto é, "de bronze". No pensamento grego, o bronze, pelas virtudes que lhe são atribuídas, sobretudo por sua eficácia apotropaica, está vinculado ao poder que ocultam as armas defensivas: couraça, escudo e capacete. Se o brilho metálico do bronze reluzente infunde terror ao inimigo, o som do bronze entrechocado, essa phoné, essa voz, que revela natureza de um metal animado e vivente, rechaça os sortilégios dos adversários. -174-
A par das armas defensivas, existe uma ofensiva também estreitamente ligada à índole e à origem dos guerreiros da idade de bronze. Trata-se da lança ou dardo confeccionado de madeira especial, a melía, isto é, o "freixo". E não foi do freixo que nasceram, segundo Hesíodo, os homens da idade de bronze? As ninfas Melíades, nascidas do sangue de Urano, estão intimamente unidas a essas árvores "de guerra" que se erguem até o céu como lanças, além de se associarem no mito a seres sobrenaturais que encarnam a figura do guerreiro. Jean-Pierre Vernant[24] faz uma aproximação muito feliz do gigante Talos com os homens da raça de bronze. Esse Talos, guardião incansável da Ilha de Creta, nascera de um freixo (melía) e tinha o corpo todo de bronze. Como Aquiles, era o gigante cretense dotado de uma invulnerabilidade condicional, que somente a magia de Medéia foi capaz de destruir.[25] Os Gigantes, "à cuja família" pertence Talos, representam uma confraria militar, dotada de uma invulnerabilidade condicional e em estreita relação com as Ninfas Melíades. Na Teogonia (184-187) o poeta relata como Géia, recebendo o sangue de Urano, castrado por Crono, "gerou os grandes Gigantes de armas faiscantes (porque eram de bronze), que têm em suas mãos compridas lanças (de freixo) e as ninfas que se chamam Melíades".
Assim, entre a lança, atributo militar, e o cetro, atributo real da justiça e da paz, há uma diferença grande de valor e de nível. A lança há que submeter-se ao cetro. Quando isto não acontece, quando essa hierarquia é quebrada, a lança confunde-se com a Hýbris. Normalmente para o guerreiro, tributário da violência, a Hýbris dele se apodera, por estar voltado inteiramente para a lança. É o caso típico, entre outros, de Ceneu[26], o "Lápita da lança", dotado como Talos, Aquiles e os Gigantes[27] de uma invulnerabilidade condicional, como todos os que passaram pela iniciação guerreira. Ceneu fincava sua lança sobre a praça pública, rendia-lhe um culto e obrigava a todos que por ali passassem a tributar-lhe honras divinas. -175- Filhos da lança, indiferentes à Díke e aos deuses, os homens da raça de bronze, como os Gigantes, após a morte, foram lançados no Hades por Zeus, onde se dissiparam no anonimato da morte.
- d) Idade dos Heróis. A quarta idade é a dos heróis, criados por Zeus, uma "raça mais justa e mais brava, raça divina dos heróis, que se denominam semideuses" (Trab. 158-160). Lendo-se, com atenção, o que diz Hesíodo acerca dos heróis, nota-se logo que os mesmos formam dois escalões: os que, como os homens da idade de bronze, se deixaram embriagar pela Hýbris, pela violência e pelo desprezo pelos deuses e os que, como guerreiros justos, reconhecendo seus limites, aceitaram submeter-se à ordem superior da Díke. Um exemplo bem claro desses dois escalões antitéticos é a tragédia de Ésquilo, Os Sete contra Tebas: em cada uma das sete portas ergue-se um herói mordido pela Hýbris, que, como um Gigante, profere contra os imortais e contra Zeus terríveism impropérios; a este se opõe outro herói, "mais justo e mais bravo", que temperado pela sophrosýne, pela prudência, respeita tudo quanto representa um valor sagrado. O primeiro escalão, os heróis da Hýbris, após a morte, são como os da idade de bronze, lançados no Hades, onde se tornam nónymoi, mortos anônimos; o segundo, os heróis da Díke, recebem como prêmio, já se frisou, a Ilha dos Bem-Aventurados, onde viverão para sempre como deuses imortais.
Acontece, todavia, que no mito da soberania, com a implantação, após uma luta árdua e difícil, do reino de Zeus, existe uma categoria de seres sobrenaturais que muito se assemelham aos heróis bravos, mas justos: trata-se dos Hecatonquiros, que, num momento em que a vitória era incerta, ajudaram Zeus a derrotar os Titãs. O pai dos deuses e dos homens, aliás, antes do combate decisivo, os recompensou com a imortalidade, dando-lhes o néctar e a ambrosia, como premiara a sophrosýne e a Díke, a prudência e o respeito à justiça de um grupo de heróis, com a Ilha dos Bem-Aventurados. Claro que o gesto de Zeus para com os Hecatonquiros não deixa de ter uma intenção política, mas, a partir daí, recorrendo aos guerreiros, aos militares, o deus da Díke associa para sempre a função guerreira à soberania. A partir daí, o cetro terá que apoiar-se na lança.
Sólon, no fragmento que transcrevemos, deixa claro que realizou sua reforma "apoiando a força na justiça". Mas, como Hesíodo é poietés, é uates, é adivinho, antecipou-se a Sólon de mais de um século! -176-
- e) Idade de Ferro. Comecemos pelas próprias palavras do poeta:
Oxalá não tivesse eu que viver entre os homens da quinta idade: melhor teria sido morrer mais cedo ou ter nascido mais tarde, porque agora é a idade de ferro. .. (Trab. 174-176)
Logo na introdução com a narrativa das duas Lutas, a partir do verso 11, e no fecho do mito de Prometeu e Pandora, verso 106, Hesíodo nos dá um panorama da idade de ferro: doenças, a velhice e a morte; a ignorância do amanhã e as incertezas do futuro; a existência de Pandora, a mulher fatal, e a necessidade premente do trabalho. Uma junção de elementos tão díspares, mas que o poeta de Ascra distribui num quadro único. As duas Érides, as duas Lutas, se constituem na essência da idade de ferro:
Na verdade, não existe apenas uma espécie de Luta: na terra existem duas. Uma será exaltada por quem a compreender, a outra é condenável. É que elas são contrárias entre si: uma, cruel, é causa de que se multipliquem as guerras e as discórdias funestas. Nenhum mortal a estima, mas forçados pela vontade dos Imortais, os homens prestam um culto a esta Luta perversa. A outra, mais velha, nasceu da Noite tenebrosa, e Zeus, em seu elevado trono no éter, colocou-a nas raízes do mundo e fê-la bem mais proveitosa para os homens. Esta arrasta para o trabalho até mesmo os indolentes, porque o ocioso, quando olha para um outro, que se tornou rico, rapidamente busca o trabalho, procura plantar e fazer prosperar seu patrimônio: o vizinho inveja o vizinho que se apressa em enriquecer. Esta Luta é salutar aos mortais: o oleiro inveja o oleiro, o carpinteiro ao carpinteiro; o pobre tem ciúmes do pobre e o aedo do aedo. (Trab. 11-26)
A causa de tudo foi, já se disse, o desafio a Zeus por parte de Prometeu e o envio de Pandora. Desse modo, o mito de Prometeu e Pandora forma as duas faces de uma só moeda: a miséria humana na idade de ferro. A necessidade de sofrer e batalhar na -177- terra para obter o alimento é igualmente para o homem a necessidade de gerar através da mulher, nascer e morrer, suportar diariamente a angústia e a esperança de um amanhã incerto. É que a idade de ferro tem uma existência ambivalente e ambígua, em que o bem e o mal não estão somente amalgamados, mas ainda são solidários e indissolúveis. Eis aí por que o homem, rico de misérias nesta vida, não obstante se agarra a Pandora, "o mal amável", que os deuses ironicamente lhe enviaram. Se este "mal tão belo" não houvesse retirado a tampa da jarra, em que estavam encerrados todos os males, os homens continuariam a viver como antes, "livres de sofrimento, do trabalho penoso e das enfermidades dolorosas que trazem a morte" (Trab. 90-92). As desgraças, porém, despejaram-se pelo mundo; resta, todavia, a Esperança, pois afinal a vida não é apenas infortúnio: compete ao homem escolher entre o bem e o mal. Pandora é, pois, o símbolo dessa ambigüidade em que vivemos. Em seu duplo aspecto de mulher e de terra, Pandora expressa a função da fecundidade, tal qual se manifesta na idade de ferro na produção de alimentos e na reprodução da vida. Já não existe mais a abundância espontânea da idade de ouro; de agora em diante é o homem quem deposita a sua semente (spérma) no seio da mulher, como o agricultor a introduz penosamente nas entranhas da terra. Toda riqueza adquirida tem, em contrapartida, o seu preço. Para a idade de ferro a terra e a mulher são simultaneamente princípios de fecundidade e potências de destruição: consomem a energia do homem, destruindo-lhe, em conseqüência, os esforços; "esgotam-no, por mais vigoroso que seja" (Trab. 704-705), entregando-o à velhice e à morte, "ao depositar no ventre de ambas" (Teog. 599) o fruto de sua fadiga.
Mergulhado nesse universo ambíguo, o agricultor do século de Hesíodo terá fatalmente que escolher entre as duas Érides, as duas Lutas: uma, que o incita ao trabalho e à Díke, fonte de muito esforço e fadiga, mas também de justiça e prosperidade; a outra, que o arrasta para a ociosidade e a Hýbris, origem da pobreza, da violência, da mentira e da injustiça.
A conclusão a que se pode chegar, após o estudo evolutivo das Cinco Idades, é a de que o poeta modelou a evolução humana de modo inverso daquele que presidiu à evolução divina. Se da Idade de Ouro a humanidade se degenerou até atingir o extremo quase insuportável da Idade de Ferro, em que reina a Hýbris, a sociedade divina, ao revés, como veremos nos capítulos seguintes, partindo do Caos, elevou-se até Zeus, que para Hesíodo personifica a Díke. -178-
Para concluir este capítulo sobre Hesíodo, vamos dizer uma palavra sobre a escatologia e a Díke nos Trabalhos e Dias.
A escatologia, parece, já está definida no próprio estudo que se fez de cada uma das Cinco Idades. Vamos apenas recapitular e esquematizar os fatos.
Nas idades de ouro e prata, o destino final do homem é tornar-se respectivamente daímon epikhthónios ou hypokhthónios, isto é, a psique, sobre ou sob a terra, passa a funcionar como espírito intermediário entre os deuses e os homens. Trata-se, por conseguinte, de uma promoção.
Exatamente o contrário sucede com os homens da idade de bronze e a maioria dos heróis da idade que tem seu nome: após a morte, são lançados no Hades, onde, semelhantes à fumaça, se convertem em mortos anônimos, sem direito a honras ou a culto, por parte dos vivos. Hesíodo não fala em penas, em tormentos, mas só pelo fato de se transformarem em mortos anônimos, sem nenhum direito a culto, fica subentendido que "essas sombras" nada mais são que uma fumaça esquiva, o que se constitui, para o pensamento grego, no maior dos castigos, o deixar de ser. Os heróis, porém, amantes da Díke, terão como recompensa eterna a Ilha dos Bem-Aventurados.
A respeito da quinta idade, a de ferro, o poeta se cala a respeito do além. Tem-se a impressão, salvo engano, de que o paraíso e o inferno da idade de ferro, que será, além do mais, prolongada por criaturas ainda piores, estão aqui mesmo: os que se dedicam ao trabalho, à justiça e ao respeito aos deuses, terão seus celeiros cheios e uma vida farta e tranqüila. Seu paraíso, sua Ilha dos Bem-Aventurados, é uma tríplice colheita anual. Os que se embriagarem da Hýbris, do descomedimento, da injustiça e da ociosidade serão escravos da fome e da miséria.[28]
Quanto à Justiça, o assunto é bem mais sério. A Díke em Hesíodo e em seu universo religioso ocupa um lugar de destaque. Transformada em divindade poderosa, como filha de Zeus, é respeitada e venerada por todos os Imortais. A razão central dessa verdadeira entronização da Justiça deve ser buscada nos graves fatos sociais, já sintetizados páginas atrás, que agitaram os séculos VIII -179- e VII a.C, quando os "reis", os Eupátridas, donos da pólis e das melhores glebas, porque só eles tinham meios de defendê-las, apossaram-se de todo o resto: religião, leis, sacerdócio... É contra esse estado de coisas que se levanta também a voz de Hesíodo, em nome da Díke, que é a vontade de Zeus. Desejando instruir e orientar seu irmão Perses, dominado pela Hýbris, pelo descomedimento, pela violência e pela inércia, o poeta se volta ainda para admoestar os "reis": deles não se exige trabalho, mas que solucionem com justiça as querelas e arbitrem corretamente os processos. E parece que essa justiça era tão rara, que, ao entrar na assembléia um "rei" justo, era saudado, segundo se mostrou, theòs hós, como um deus.. . Não foi em vão que, à época de Hesíodo, a Vergonha e a Justiça fugiram para o céu!
Logo na Invocação do poema, como desejando mostrar a força de Zeus, senhor da Díke, canta o poeta, exaltando a justiça divina:
Facilmente Zeus concede a força e facilmente destrói o forte, facilmente humilha o soberbo e exalta o humilde, facilmente corrige as almas torcidas e esmaga o orgulhoso, Zeus que troveja nas alturas e habita as sublimes mansões. Ouve minha voz, olha, escuta, que a justiça guie tuas decisões. De minha parte, quero dizer a Perses palavras verdadeiras. : (Trab. 5-10)
E se Hesíodo quer dizer ao irmão a verdade, o melhor é começar pelo apelo à justiça e à prudência:
Mas tu, Perses, ouve a justiça, não deixes crescer o descomedimento. O descomedimento é funesto para os pobres e até o poderoso tem dificuldade em suportá-lo e seu peso o esmaga, quando a desgraça se encontra em seu caminho. É preferível seguir outro rumo, que, passando do outro lado, conduz às obras da justiça. A justiça triunfa do descomedimento, quando é chegada sua hora: o tolo aprende, sofrendo. (Trab. 213-218)
Mas Hesíodo não deseja que a justiça seja praticada apenas por Perses, mas também e sobretudo por aqueles que têm a função de aplicá-la. Estes, infelizmente, se deixam, não raro, subornar, a ponto de provocar a presença de Orco, o Juramento, e de se ouvirem os clamores e os soluços da própria justiça: -180-
De imediato o Juramento se apresenta em perseguição às sentenças torcidas, elevam-se os clamores da Justiça sobre o caminho por onde a arrastam os reis comedores de presentes, que fazem justiça à força de sentenças torcidas. Ela os segue chorando sobre a cidade e as habitações dos homens, que a expulsaram e aplicaram sem critério. (Trab. 219-224)
Ao contrário de Homero, em que uma personagem humilde e deformada como Tersites, pelo fato de ter criticado os grandes, foi surrado por Ulisses e ridicularizado pelo poeta, Hesíodo levanta corajosamente sua voz contra os prepotentes e corruptos do século VIII a.e.c, ameaçando-os em nome de Zeus:
Reis, meditai também acerca desta justiça, porque Imortais estão aqui, perto de vós, misturados aos homens. Eles observam todos aqueles que, por suas sentenças torcidas, prejudicam ora um, ora outro, sem se preocupar com o temor dos deuses. São trinta mil Imortais, que sobre a terra nutridora, em nome de Zeus, guardam os mortais, vestidos de bruma, percorrendo a terra inteira, observando-lhes as sentenças e as más ações. (Trab. 248-255)
E oito versos mais abaixo, Hesíodo, "o profeta do trabalho e da justiça"[29], como apropriadamente lhe chamou Nilsson, apela aos "reis", já agora em nome do povo injustiçado:
Meditai sobre isto, reis comedores de presentes, sede justos em vossos julgamentos e renunciai para sempre às sentenças torcidas. (Trab. 263-264)
É preciso que o povo pague pela loucura desses reis que, com tristes desígnios, falsificam seus decretos com fórmulas torcidas. (Trab. 260-262)
No século do poeta, no entanto, o que lamentavelmente vigorava era a lei do mais forte. Para elucidá-la, Hesíodo conta o apólogo do "gavião" e do "rouxinol". Não faz comentários sobre o mesmo e nem era necessário: o "rouxinol-cantor" é o próprio poeta e o "gavião", ave de rapina, são os "reis comedores de presentes": -181-
Agora, aos reis, embora sábios, contarei uma história. Eis o que o gavião disse ao rouxinol de pescoço pintado, enquanto o transportava lã no alto, no meio das nuvens, preso em suas garras. O rouxinol, traspassado lastimavelmente pelas garras aduncas, gemia, mas o gavião brutalmente lhe diz: "Miserável, por que gritas? Pertences ao mais forte que tu. Irás para onde eu te conduzir, por melhor cantor que sejas: de ti farei meu jantar, se assim o quiser, ou te deixarei em liberdade"... (Trab. 202-209)
Face à opressão dos ricos contra os pobres, Hesíodo defende a dignidade da pessoa humana:
Jamais injuries um homem amaldiçoado pela pobreza, que corrói a alma: a pobreza é um dom dos deuses imortais. (Trab. 717-718)
Pacifista, o poeta é um verdadeiro arauto da não-violência:
Ouve agora a justiça, esquece a violência para sempre. (Trab. 215)
Os exemplos poderiam multiplicar-se, mas o que se desejou ratificar e comprovar foi o estado lamentável da sociedade grega do século VIII a.e.c, em que a opressão dos Eupátridas, os "reis comedores de presentes", transformara o povo em "rouxinóis". De outro lado, o poeta-camponês quis mostrar o verdadeiro conceito da Díke, que, tanto para os "reis", como para o agricultor, deve sempre se exercer em função da Éris, isto é, da emulação, que é boa ou má. A Díke real consiste em apaziguar com justiça as querelas, em arbitrar os conflitos provocados pela Éris má. A Díke do agricultor consiste em fazer da Éris virtude, deslocando a luta e a emulação da guerra para o trabalho do campo. Assim compreendida, a Éris, em lugar de destruir, constrói, em vez de semear ruínas, é portadora de fecunda abundância.
É provável que, como "poeta e profeta", Hesíodo tenha se antecipado a seu século. Seu sonho teria que esperar por muito tempo... Não importa. Hesíodo, como bem mais tarde Eurípides, talvez tenha sonhado com um mundo onde as injustiças, a opressão e a dor não se justificam mais. Sonho? Certamente, mas com certa confiança. Afinal, na jarra, bem junto à tampa, ficaram presos os dois olhinhos verdes de Pandora: a Esperança. -182-

Numa apresentação sumaríssima da epopéia homérica, já que o objetivo deste livro não é a literatura, mas o mito, é conveniente deixar claro um dado fundamental. A Odisséia, com os dez anos de peregrinação de Odysseús, o nosso Ulisses[1], em seu regresso ao lar, em Ítaca, após a destruição de Tróia, é bem diferente, do ponto de vista "histórico", da Ilíada. Opinam alguns estudiosos de Homero[2], no entanto, que essa diferença, quanto ao fundo histórico de ambos os poemas, não deve ser excessivamente exagerada. A base histórica da Odisséia seria a busca do estanho. Realmente o ferro era pouco e o estanho absolutamente inexistente na Hélade. Possuindo o cobre, mas necessitados e desejosos do bronze, os helenos dos "tempos heróicos" organizaram a rota do estanho. É bem verdade que a espada de ferro dos Dórios havia triunfado do punhal de bronze dos Aqueus, mas, até pelo menos o século VIII a.C, o bronze há de ser o metal nobre da nobre elite da pátria de Homero. Assim se poderia defender que a temática do périplo fantástico de -115- Ulisses teria sido o mascaramento da busca do estanho ao norte da Etrúria, com o descobrimento das rotas marítimas do Ocidente. Tratar-se-ia, desse modo, de uma genial ficção, embora assentada em esparsos fundamentos históricos, porque, no fundo, a Odisséia é o conto do nóstos, do retorno do esposo, da grande nostalgia de Ulisses. Este seria o ancestral dos velhos marinheiros, que haviam, heroicamente, explorado o mar desconhecido, cujas fábulas eram moeda corrente em todos os portos, do Oriente ao Ocidente: monstros, gigantes, ilhas flutuantes, ervas milagrosas, feiticeiras, ninfas, sereias e Ciclopes. . .
A Ilíada, ao revés, descreve um fato histórico, se bem que revestido de um engalanado maravilhoso poético. Na expressão, talvez um pouco "realista" de Page, o que o poema focaliza "são os próprios episódios do cerco de Ílion e ninguém pode lê-lo sem sentir que se trata, fundamentalmente, de um poema histórico. Os pormenores podem ser fictícios, mas a essência e as personagens, ao menos as principais, são reais. Os próprios gregos tinham isso como certo. Não punham em dúvida que houve uma Guerra de Tróia e existiram, na verdade, pessoas como Príamo e Heitor, Aquiles e Ájax, que, de um modo ou de outro, fizeram o que Homero lhes atribui. A civilização material e o pano-de-fundo
político-social, se bem que não se assemelhem a coisa alguma conhecida ou lembrada nos períodos históricos, eram considerados pelos gregos como um painel real da Grécia da época micênica, aproximadamente 1.200 a.C, quando aconteceu o cerco de Tróia".[3]
Um fato, porém, parece definitivo: uma realidade histórica está subjacente ao mito na epopéia homérica, se bem que, glorificada e transformada por vários séculos de tradição puramente oral que precederam à composição definitiva elaborada por Homero (séculos IX-VIII a.C.) e a fixação por escrito dos dois poemas (século VI a.C).
A dificuldade maior no estudo da epopéia homérica está em isolar o que realmente é micênico do que pertence a épocas posteriores, como à Idade do Ferro, à Idade Média Grega e ao ambiente histórico em que viveu o próprio poeta. Sem dúvida, também sob o ângulo político, social e religioso, os poemas homéricos são uma colcha de retalhos com rótulos de civilizações diferentes no tempo e no espaço. Não obstante todas estas dificuldades, alguns elementos micênicos podem, com boa margem de segurança, ser detectados nos dois grandes poemas. -116-
Consoante Homero, o que parece autêntico, o mundo micênico era um entrelaçamento de reinos pequenos e grandes, mais ou menos independentes, centralizados em grandes palácios, como Esparta, Atenas, Pilos, Micenas, Tebas..., mas devendo fidelidade, ou talvez vassalagem, não se sabe muito bem por quê, ao reino de Agamêmnon, com sede em Micenas. Além deste aspecto político, há outros a considerar. Maria Helena da Rocha Pereira alinha alguns elementos aqueus presentes na epopéia homérica: "Ora, os Poemas Homéricos descrevem, fundamentalmente, a civilização micênica, embora ignorem a sua forte burocratização e a abundância de escravatura, reveladas pelas tabuinhas de Pilos. Mas, entre os principais elementos micênicos, podemos apresentar: as figuras e seus epítetos; a riqueza de Micenas ('Micenas rica em ouro'); a raridade do ferro; a noção de que ánax é mais do que basileús[4]; o fausto dos funerais de Pátroclo (embora seja cremado, como os Gregos da época histórica, e não inumado, como os Micênicos); a arquitetura dos palácios, nomeadamente a presença do mégaron; objetos como o elmo de presas de Javali, a taça de Nestor, e a espada de Heitor, com um aro de ouro".[5]
Mas se comprovadamente existem elementos micênicos, de fundo e de forma, nos poemas homéricos, como pôde o bardo máximo da Hélade ter conhecimento, por vezes tão preciso, de um mundo que ele cantou cerca de quatro ou cinco séculos depois? A escrita já existia, é verdade, e cinco séculos também antes do poeta, mas aquela, a Linear B, era usada, como se falou no capítulo IV, sobretudo em documentos administrativos e comerciais e não em textos de caráter literário. Parece que os poderosos senhores do mundo aqueu julgavam indigno ou desnecessário que suas façanhas fossem gravadas em tabuinhas de argila. E realmente não era necessário, pela própria técnica poética da época. A poesia épica micênica é oral e tradicional, uma poesia não escrita e transmitida de geração a geração. Uma poesia áulica, como quer Webster[6], cheia de fórmulas de caráter religioso e militar e cuja sobrevivência se deveu aos aedos e rapsodos.[7] -117-
O já citado Page sintetiza, com maestria, como o maior de todos os vates pôde "compor" seus dois poemas épicos sem documento algum escrito sobre o passado: "Todos concordam (...) que Homero viveu centenas de anos depois dos fatos que descreveu e que não teve documentos escritos sobre o passado. O que devemos perguntar, portanto, não é 'por que ele desconhece tanto sobre a Grécia micênica?', mas 'como pôde ele ter sabido o que sabia?' A resposta é que o épico grego é uma poesia de tipo muito peculiar — é oral e tradicional. Entendo, por oral, que era composta na mente, sem a ajuda da escrita. E, por tradicional, entendo que era preservada pela memória e transmitida oralmente de geração a geração. Jamais era estática. Crescia e se modificava continuamente. A Ilíada é a última fase de um processo de crescimento e desenvolvimento que começou durante o sítio de Tróia, ou pouco depois. Esse tipo de poesia (que ocorre na poesia épica de muitas línguas além do grego) só pode ser composto, só pode ser preservado, se o poeta tiver à sua disposição um estoque de frases tradicionais — metade de versos, versos inteiros e estrofes, já prontos para quase todas as finalidades concebíveis. O poeta compõe, enquanto recita; não pode parar para pensar como continuar; deve ter pronta toda a história, antes de começar, e deve ter na memória a totalidade — ou quase totalidade — das frases de que precisará para contá-la. Os poemas homéricos são, na verdade, compostos dessa forma — não em palavras, mas em seqüências de frases feitas. Em 28.000 versos, há 25.000 frases repetidas, grandes ou pequenas".[8]
A sólida argumentação de Denys Page pode-se acrescentar ainda, como processo mnemônico, na transmissão dessa poesia oral, o uso dos epítetos, os famosos epítetos homéricos. As personagens mais importantes e as divindades maiores "têm, em média, dez epítetos que se repetem no poema todo centenas de vezes com alguma variedade".[9] São, ao todo, nos dois poemas, em estatística feita pacientemente pelo saudoso amigo e mestre Marques Leite, 4.560 epítetos.
Os poemas homéricos resultam, pois, de um longo, mas progressivo desenvolvimento da poesia oral, em que trabalharam muitas gerações. Usando significantes dos fins do século IX e meados do século VIII a.C, épocas em que foram, ao que parece, "compostas", na Ásia Menor Grega, respectivamente a Ilíada e a Odisséia, o poeta -118- nos transmite significados do século XIII ao século VIII a.C. O mérito extraordinário de Homero foi saber genialmente reunir esse acervo imenso em dois insuperáveis poemas que, até hoje, se constituem no arquétipo da época ocidental.
Esta ligeira introdução tem por objetivo mostrar que também a religião homérica é uma colcha de retalhos, uma seqüência de pequenas e grandes rupturas, de pequenos e grandes sincretismos, em que o Ocidente se fundiu com o Oriente.
As escavações arqueológicas comprovaram que havia na época aquéia "uma religião dos mortos", fato já bem salientado no capítulo V, 5. A esse respeito desejamos somente chamar a atenção para dois fatos. Os vastos túmulos encontrados particularmente em Micenas com luxuoso mobiliário fúnebre, como o célebre Tesouro do Atreu, em que o morto, "o rei Agamêmnon", aparece com o rosto coberto por rica máscara de ouro[10], atestam dois pontos importantes: primeiro, que o rei, chefe da tribo, do clã, do génos, da família enfim, torna-se, após a morte, o que ele foi em vida, "o senhor", quer dizer, o "herói", o protetor dos que lhe habitam o território, o reino; segundo, que, sendo o culto dos mortos uma religião da família e do grupo, havendo, por isso mesmo, necessidade de uma descendência para continuá-lo e transmiti-lo, esse culto é essencialmente local, indissoluvelmente ligado ao túmulo. Além da religião dos mortos, existia a religião dos deuses, em sua maioria, deuses da natureza, cujo arquétipo era o deus patriarcal indo-europeu do céu e da luz, Zeus.
Com as invasões dóricas e as migrações para a Ásia Menor, a vida grega se dividiu entre as duas margens do Egeu. Entre a Europa e a Ásia, não raro com apoio nas ilhas, começou a se plasmar o embrião de uma nova e promissora cultura. Apagados os archotes da civilização micênica, os emigrantes acenderam-nos em outra pira. Distantes das vicissitudes da mãe-pátria, abriram-se a novas influências.
Esse distanciamento, esse desenraizar-se, com todas as conseqüências que sempre lhe são inerentes, desenvolveram-lhes -119- a inde pendência e a liberdade de pensamento, bem como os emanciparam de velhas e arraigadas tradições. Livres das opressões e repressões das antigas crenças, prepararam-se com a mesma liberdade de espírito para arrostar novos problemas de ordem religiosa. A primeira grande conseqüência foi o enfraquecimento generalizado da religião dos mortos. Tratava-se de um culto, conforme se insistiu, essencialmente local e preso ao túmulo. Ora, o túmulo dos ancestrais agora estava longe demais, o culto interrompido, porque desvinculado da sepultura. Os ancestrais, os senhores, os "heróis" sobreviveram apenas no mito e a tradição religiosa não se renovou em torno dos novos senhores, mesmo porque, na Ásia Menor, se praticava a cremação: a alma do morto, separada para sempre do corpo, estava em definitivo excluída de seu domicílio e da vida de seus descendentes, não havendo, portanto, nada mais a temer nem a esperar da psiqué do falecido. De outro lado, como já se sabe, as migrações helênicas para seu novo domicílio não se fizeram em bloco: as tribos deixaram a mãe-pátria completamente fragmentadas, de acordo com as circunstâncias ou a oportunidade. Estava, por isso mesmo, rompida a tribo, o clã, o génos, a família. Pois bem, esses elementos díspares, de origens tribais e até mesmo "dialetais" diversas, ao se encontrarem em seu novo "habitat" com povos etnicamente diferentes, com outros hábitos e outra língua, confraternizaram-se mais facilmente. Eram todos exilados e a maneira mais prática de refazerem a vida era congregar o que tinham em comum, deuses e o restante. E a nova repercussão religiosa de mudança de meio fez que a religião dos deuses prevalecesse inteiramente sobre a religião dos mortos, determinando assim a formação de um autêntico politeísmo. Outro fator, no entanto, deu sua contribuição valiosa a todas essas rupturas e agregações: o recente espírito de independência face à tradição criou um ambiente propício ao desenvolvimento da arte. E a arte que floresceu, no momento, entre os Gregos da Ásia Menor foi a Epopéia.
A arte épica deve ter tido considerável influência sobre a primeira elaboração do politeísmo e sobre o destino posterior da religião grega. É claro que o politeísmo já existia, mas embrionariamente, no nome de deuses ou nas formas míticas elementares vinculadas aos nomes divinos. O politeísmo é uma forma religiosa estreitamente ligada ao mito. Só existe, com a multiplicidade des deuses, que o define, porque o mito criou esses deuses. Na realidade, o politeísmo surge na história unido ao sentimento e à noção do divino na natureza. Uma de suas grandes fontes é o mistério do -120- mundo exterior em que estamos mergulhados; a outra, mais profunda, encontra-se num segundo mistério, que está em nós mesmos. A dar crédito a Sexto Empírito (século II p.C.), filósofo grego, sistematizador do estoicismo, Aristóteles teria esboçado uma teoria da religião fundamentada no naturalismo e no humanismo: "A noção humana da divindade decorre de dois princípios: dos fenômenos que se produzem na alma e dos fatos meteóricos"[11], isto é, de fenômenos da natureza. O sentimento religioso naturalista se expressou, portanto, primeiramente pelo mito. Este, por sua vez, se manifestará na epopéia, que é poesia, arte e liberdade. O florescimento da epopéia na "diáspora" grega para a Ásia Menor, onde foi sepultada a repressão do tradicionalismo da mãe-pátria, coincidiu com o momento em que a lenda divina, libertando-se da esfera do sagrado, se emancipou da ação sacramentai, que a representava, e do hino divino, que a celebrava. O canto, à medida em que se despojava dos elementos emotivos, tornava-se objeto de narrativa.[12] Houve, assim, uma como que segunda criação dos deuses. Claro está que esses deuses continuaram a ser na Grécia da Europa e na Grécia da Ásia os deuses dos ancestrais, mas o sortilégio, que, até então, os ligava estreitamente a seu local de culto, estava para sempre rompido e a poesia acabou por transfigurar em seus ideais esses deuses já bastante dessacralizados. Seres ideais, tão vivos e verdadeiros, que, pela primeira vez, os homens com eles se confraternizaram. Gigantes que se locomoviam como raios entre o Olimpo e a terra, eram, todavia, humanos, compensando com sua humanidade o que haviam perdido em sacralidade.
Esse "humanismo divino" foi a marca da poesia, o sinal mágico de uma obra através da qual o homem entalha e concebe os deuses à sua imagem e semelhança.
Era o antropomorfismo. "O mundo grego com seus deuses é um mundo do homem", sintetiza magistralmente Kerényi.[13] Eis aí os deuses de Homero, que é ele próprio o limite de uma evolução secular. Evolução religiosa, evolução lingüística, com os dialetos jônico e eólio servindo-lhe de embasamento; evolução do verso, que, a princípio, cantado, se adaptou à recitação; evolução do mito divino e heróico, múltiplo e complexo, que acabará por se condensar num esquema homogêneo na saga troiana; evolução dos costumes, -121- com o rito da cremação; evolução, enfim, da vida material, que assiste à substituição do bronze pelo ferro. Esse feixe de evoluções se concentra em Homero, assim como sua obra condensa três fases da religião: a que reinava na Grécia continental, quando os micênicos a deixaram, a que se desenvolveu na
Ásia Menor, em condições bem diversas e, finalmente, aquela que desabrochou sob a inspiração da epopéia.
Homero fundiu estes três momentos culturais, mas não existe na Ilíada e na Odisséia nem evocação escrupulosa do passado, nem descrição exata do presente, mas a visão de um mundo ideal, composto de um passado micênico da Europa e de um presente homérico e asiático, amalgamados numa harmonia, que é realidade sem ser realidade, quer dizer, poesia e nada mais. Com efeito, os dois poemas homéricos, recheados de elementos religiosos, não são um código de vida, nem um cânon de fé. Trata-se de um documento religioso incomparável, mas imperfeito, porque omite; e parcial, mercê da liberdade com que são tratados os deuses: Zeus, Hera, Apoio, Atená. .. não passam, muitas vezes, de vagas reminiscências daquilo que realmente foram.[14]
Além do mais, os deuses que passeiam, lutam e se divertem nos poemas homéricos não são a totalidade dos deuses da Grécia e a religião, que deles se ocupa, não é toda a religião, o que está perfeitamente de acordo com o espírito da epopéia. Trata-se, com efeito, de uma poesia burguesa, destinada a "reis" e heróis, a homens de alto conturno, voltados para as armas e para o mar. Não há dúvida de que é para um mundo aristocrático que o poeta compõe sua obra. Fundindo o passado no presente, o período da realeza aquéia com a aristocracia de seu século, Homero fazia-se compreender perfeitamente por seu público, pois que o passado, vivendo na tradição, era presença constante nos lábios dos aedos e rapsodos. Por outro lado, o público de Homero era constituído, em síntese, por duas aristocracias: a aristocracia política e a aristocracia militar, mas ambas, as mais das vezes, de origem burguesa. Para elas o poeta canta, prazerosamente, as gestas guerreiras e as astúcias do homem no mar. Para elas celebra os jogos, onde o vigor se conjuga com a nobreza. O preito da força e da beleza física, símbolos do herói, contraiu, desde Homero, núpcias indissolúveis com as qualidades do espírito: o kalón, o belo, e o agathón, o bom, eis aí a síntese de uma visão humanística que remonta à Ilíada e à -122- Odisséia. Pois bem, o mundo dos deuses é a projeção dessa sociedade heróica e aristocrática. À autoridade de Agamêmnon e, não raro, à sua prepotência, correspondem a soberania e o despotismo de Zeus, assim como às revoltas dos heróis contra as arbitrariedades do "senhor" e rei de Micenas corre paralelo a manifestação de independência dos imortais contra a tirania do "senhor" e rei do Olimpo. De outro lado, se o povo está presente nos poemas homéricos apenas para servir, aplaudir e concordar nas assembléias, os deuses humildes da vegetação teriam que esperar cerca de três séculos para que, em Elêusis, se erguessem, repentinamente, em plena escuridão, milhares de archotes para saudar "a luz nova" e Dioniso, de tirso em punho, pudesse penetrar triunfalmente na pólis democrática de Atenas. .. Também a humanidade esperou séculos e séculos para que o grão de trigo, morrendo no seio da terra, produzisse frutos em abundância!
De qualquer forma, alijando o localismo, a aristocrática epopéia, por mais paradoxal que possa parecer, tendo-se tornado, com a difusão pelos "mundos gregos", um patrimônio comum, democratizou a religião e os deuses olímpicos passaram a ser deuses de todos. E se na Grécia continental, bem como em seus "pedaços" plantados na Ásia, na Europa e na África, jamais existiu unidade política, houve sempre, "em todas as Grécias", graças à religião, uma consciência de unidade racial. Ou se era grego ou se era bárbaro.
Vamos nos ocupar agora da religião homérica propriamente dita. Não se falará sobre o mito de cada um dos deuses, a não ser de passagem, nem tampouco sobre cada um dos heróis, que formigam e dão vida às epopéias homéricas, porque cada um deles, ao menos os mais importantes, terá direito a um estudo particular nos capítulos subseqüentes.
Para se ter uma idéia do conjunto, far-se-á, de início, uma síntese dos cantos de que se compõem a Ilíada e a Odisséia. Comecemos pela Ilíada.
Após uma breve proposição e invocação, o poema nos coloca in medias res, no centro dos acontecimentos, já que a Ilíada celebra, como já se mencionou, tão-somente o nono ano da Guerra de Tróia: a ira de Aquiles e suas conseqüências funestas. -123-
Canta, ó deusa, a ira funesta de Aquiles Pelida, ira que tantas desgraças trouxe aos Aqueus e fez baixar ao Hades muitas almas de destemidos heróis, dando-os a eles mesmos em repasto aos cães e a todas as aves de rapina: cumpriu-se o desígnio de Zeus, em razão da contenda, que, desde o início, lançou em discórdia o Atrida, príncipe dos guerreiros, e o divino Aquiles. (Il., I, 1-7)
I — Crises, sacerdote de Apoio, avança até as naus dos Aqueus, para resgatar sua filha Criseida, cativa de Agamêmnon. Todos os chefes desejam que assim se proceda, mas o Atrida se recusa e insulta o sacerdote. Crises regressa, mas suplica a Apoio que castigue os Aqueus. O deus envia uma peste, que dizima o exército. Aquiles pede que se reúna a assembléia, para saber do adivinho Calcas a causa de tão grande mal. Calcas responde ser necessário devolver Criseida para apaziguar a cólera de Apoio. Depois de violenta altercação com Aquiles, Agamêmnon devolve a filha de Crises, mas, em troca, manda buscar Briseida, presa do filho de Peleu. Aquiles, ferido em sua timé, em sua honra de herói, retira-se da luta e queixa-se à sua mãe Tétis, que lhe promete pedir a Zeus que o desagrave. Com a devolução de Criseida, cessa a peste. Zeus, a pedido de Tétis, consente em que os Troianos saiam vitoriosos, até que se faça condigna reparação a Aquiles. Logo que a mãe do Pelida se retira, trava-se no Olimpo séria discussão entre Zeus e Hera, que percebeu o pedido da deusa do mar e a promessa do esposo. O receoso Hefesto, filho de ambos, com habilidade, consegue contornar a grave situação. Os imortais, com um sorriso inextinguível, aproveitam para se divertir com a azáfama de Hefesto, que manquitolava pelos salões do Olimpo. E o dia terminou com um lauto banquete, ao som da citara de Apoio e da voz cadenciada das Musas. Com muito néctar e muita ambrosia...
II — Zeus, em cumprimento de sua promessa a Tétis, envia um ûlos Óneiros, um "Sonho funesto" e enganador a Agamêmnon para o empenhar na luta. Óneiros surge sob a forma de Nestor e repreende fingidamente o rei de Micenas, revelando-lhe que o próprio Zeus deseja ação imediata e os imortais todos querem a vitória aquéia e a ruína de Tróia. Agamêmnon, enganado pelo Sonho, reúne então todos os Aqueus e é, neste ponto, que se introduz o Catálogo das Naus, com os nomes dos "reinos", que as enviaram, dos chefes e o número de naus que cada herói comanda. -124-
Nas 1.183 naus deveriam ter chegado a Ílion cerca de quarenta a sessenta mil homens, num cálculo feito pelo mestre Marques Leite.[15]
III — Os Troianos descem à planície. Os anciãos, bem como Príamo e Helena,
contemplam do alto das muralhas de Tróia o campo de batalha. Por proposta de Páris, ele próprio e Menelau decidirão em combate singular o destino de Helena e dos tesouros. Quando Alexandre está para ser vencido e morto, Afrodite o salva e transporta-o numa nuvem para os braços de Helena.
IV — Um aliado dos Troianos, Pândaro, fere Menelau com uma flechada: a luta recomeça. Ares e Apoio lutam pelos Troianos. Atená pelos Aqueus.
V — É a primeira grande batalha. Combate encarniçado, em que Diomedes mata a Pândaro, fere Enéias e Afrodite, que vem retirar o filho do campo de combate. Grande carnificina, em que o próprio deus Ares é também ferido por Diomedes.
VI — Heitor, o grande herói Troiano, a conselho de seu irmão, o adivinho
Heleno, dirige-se à cidadela de Ílion e ordena preces públicas a Atená para aplacá-la. Despedida de Heitor e Andrômaca, uma das páginas mais emocionantes do poema.
VII — Continua a luta cruenta. Os Gregos são sempre vencidos. Encontro encarniçado entre Heitor e Ájax, sem vencedor, porque a noite interrompeu o combate. Trégua para sepultar os mortos.
VIII — Assembléia dos imortais. Zeus proíbe os deuses de intervirem nos combates. Segunda grande batalha. Nova derrota dos Aqueus. Hera e Atená tentam socorrê-los, mas Zeus, percebendo-lhes a intenção, envia sua mensageira Íris para impedi-las e repreendê-las.
IX — Agamêmnon reúne os chefes aqueus para lhes propor o levantamento do cerco. Nestor julga que se procure aplacar a ira de Aquiles. O rei de Micenas concorda em restituir Briseida e oferece ricos presentes ao herói. Uma embaixada, formada por Fênix, Ájax e Ulisses, dirige-se à tenda do filho de Tétis e busca demovê-lo. Este não cede. -125-
X — É o episódio conhecido como Dolonia. Expedição noturna de Ulisses e Diomedes, que surpreendem o troiano Dólon. Matam-no depois de terem sabido dele o lugar exato onde acampava Reso, rei da Trácia, que viera em socorro dos Troianos. Matam Reso e roubam-lhe os cavalos.
XI — Terceira grande batalha, em que os Gregos novamente são vencidos, apesar dos feitos bélicos de Agamêmnon, que é ferido em combate. Nestor pede a Pátroclo que tente dobrar o ânimo de Aquiles ou que ele mesmo vista as armas do herói para aterrorizar os Troianos.
XII — Os Troianos atacam com êxito e chegam até o acampamento dos Aqueus.
XIII — Em luta sangrenta, Heitor tenta chegar até os navios gregos.
XIV — É o dolo de Zeus, o Diòs apáte. Hera atrai amorosamente a Zeus para os altos do monte Ida, onde o pai dos deuses e dos homens em profunda modorra adormece nos braços quentes da esposa. Disso se aproveita Posídon para socorrer os Aqueus.
XV — Zeus desperta. Reverbera a astúcia feminina de Hera e declara que os Troianos serão os vencedores. Heitor penetra na praia, onde estão os navios gregos, e está prestes a incendiá-los. Ájax sozinho, heroicamente, consegue detê-lo.
XVI — É a Patroclia. Os Troianos conseguem afinal incendiar um navio grego. Aquiles, vendo as chamas que se levantam da nau grega, permite que seu maior amigo, Pátroclo, se revista de suas armas, mas apenas para afastar os comandados de Heitor das naus gregas. Feitos gloriosos e heróicos de Pátroclo, que, no entanto, tendo ultrapassado o métron, o "limite permissível", é morto por Heitor, que lhe arrebata as armas de Aquiles.
XVII — Combate sangrento em redor do corpo de Pátroclo. Apesar da vitória dos Troianos, Menelau consegue trazer-lhe o cadáver até os navios.
XVIII — A dor ingente de Aquiles. Tétis procura consolá-lo e, em seguida,
dirige-se às forjas de Hefesto, a fim de que este faça para o inconsolável filho de Peleu uma armadura completa. Descrição do escudo de Aquiles.
XIX — Após receber todas as satisfações de Agamêmnon e com sua timé recomposta, o filho de Tétis prepara-se para retornar ao combate. -126-
XX — Grande batalha, em que, com a anuência de Zeus, os deuses se misturam com os heróis. Hera, Atená, Posídon e Hefesto pelejam ao lado dos Gregos;
Ares, Apoio, Ártemis, Afrodite e o deus fluvial Xanto lutam pelos Troianos. Aquiles faz prodígios de co ragem, bravura e arrojo.
XXI — Aquiles, a partir daí, vai de vitória em vitória; limpa a planície de Troada, empurrando os inimigos até as muralhas de Ílion. O rio Escamandro, transbordante de guerreiros mortos por Aquiles, inunda a planície e ameaça submergir o herói e só é dominado pelo sopro ígneo de Hefesto.
XXII — Heitor aguarda Aquiles sob as muralhas de Tróia, maugrado as súplicas de Príamo. A vista do herói aqueu, Heitor foge. O Pelida o persegue três vezes em torno das muralhas de Tróia. Zeus pesa os destinos dos dois heróis: o troiano tem de morrer. Heitor é morto por Aquiles, que lhe arrasta o cadáver, coberto de pó e de sangue, até os navios. A dor e o horror se apoderam do velho Príamo, de Hécuba e de Andrômaca.
XXIII — Vingado Pátroclo, o herói aqueu presta-lhe as últimas homenagens. Levanta-se uma gigantesca pira e as chamas devoram o cadáver de Pátroclo juntamente com mais doze jovens troianos, que Aquiles aprisionara e reservara para esta homenagem ao maior dos amigos. Jogos fúnebres em honra de Pátroclo.
XXIV — Aquiles arrasta três vezes o cadáver de Heitor à volta do túmulo de Pátroclo. Príamo vem pedir o corpo de Heitor. O herói aqueu se enternece com as palavras do velho rei de Tróia e devolve-lhe o cadáver do filho. Tréguas de doze dias. Funerais de Heitor, domador de cavalos. . .
A Odisséia nos leva a outras paragens. . .
Após dez anos da longa e sangrenta Guerra de Tróia, Ulisses, saudoso de Ítaca, de seu filho Telêmaco e de Penélope, sua esposa fidelíssima, suspira pelo regresso à pátria.
A Odisséia, Odýsseia, é, pois, o poema do regresso de Odysseús, o nosso Ulisses, e de seus sofrimentos em terra e no mar. -127-
Embora as personagens centrais estejam ligadas ao ciclo troiano, a temática do poema é bem outra. A Odisséia é o canto do nóstos, do regresso do esposo ao lar e da nostalgia da paz.
"Embora a ação seja mais concentrada, temos dois fios condutores em vez de um: as aventuras de Telêmaco e as de Ulisses, que só se reconhecem no canto XVI. Também há duas cóleras divinas a perseguir Ulisses".[16] Trata-se da ira de Posídon contra o herói, por lhe ter este cegado o filho, o Ciclope Polifemo, e a do deus Hélio, por lhe terem os companheiros de Ulisses devorado as vacas. A proposição do poema menciona a segunda e omite a primeira, se bem que esta apareça antes daquela na seqüência da narração.
Como a Ilíada, a Odisséia nos coloca in medias res: quando se inicia a narrativa, o esposo de Penélope, havia sete anos, era prisioneiro, na ilha de Ogígia, da paixão da Ninfa Calipso.
Logo após a proposição, o poema nos leva até o Olimpo e de lá à ilha de Ítaca.
Musa, fala-me do varão astuto, que, após haver destruído a cidadela sagrada de Tróia, viu as cidades de muitos povos e conheceu-lhes o espírito. No mar sofreu, em seu coração, aflições sem conta, no intento de salvar sua vida e conseguir o retorno dos companheiros. Mas, embora o desejasse, não os salvou: pereceram, os insensatos, por seu próprio desatino, eles que devoraram as vacas de Hélio Hiperíon, pelo que este não os deixou ver o dia do regresso. Conta-me, deusa, filha de Zeus, uma parte desses acontecimentos. (Od. I, 1-10)
I — Os deuses reunidos em assembléia no Olimpo, na ausência de Posídon, decidem que Ulisses regresse a Ítaca. Atená, disfarçada em Mentes, vai animar o jovem filho de Ulisses, Telêmaco, em sua luta contra os pretendentes à mão de Penélope e aconselha-o a partir em busca de notícias do pai.
II — O jovem príncipe convoca uma assembléia e solicita um navio para levá-lo a Pilos, corte de Nestor, e a Esparta, sede do reino de Menelau, a fim de buscar informações sobre o paradeiro de Ulisses. Disfarçada em Mentor, Atená promete ajudá-lo. -128-
III — Telêmaco chega a Pilos, mas nada consegue saber a respeito do pai. Nestor conta-lhe o fim trágico de Agamêmnon e aconselha-o a ir até Esparta, para o que lhe dá por companhia seu filho Pisístrato.
IV — Telêmaco e Pisístrato são recebidos por Menelau, que lhes fala do fim de Tróia e de seu tumultuado retorno a Esparta. Os pretendentes, em Ítaca, preparam uma emboscada contra Telêmaco.
V — Nova assembléia dos deuses, em que se estabelece a volta imediata de Ulisses a Ítaca. A pedido de Atená, Zeus envia Hermes à ilha de Ogígia com ordem a Calipso para deixar partir o herói. Este constrói uma jangada e faz-se ao mar. Posídon, que está vigilante, levanta uma tempestade e a jangada se despedaça. O herói consegue salvar-se e se recolhe nu à ilha dos Feaces, onde adormece.
VI — Atená aparece em sonho a Nausícaa, filha do rei dos Feaces, Alcínoo, para convencê-la a ir lavar suas roupas no rio. Depois de lavá-las, começa a jogar com suas companheiras. Ulisses, despertado pela algazarra, pede a Nausícaa que o ajude. Esta manda-lhe roupa e alimento e convida-o a ir até o palácio de seu pai, o rei Alcínoo.
VII — Ulisses apresenta-se como suplicante à rainha Arete, esposa de Alcínoo. Narra brevemente o que lhe aconteceu após sua partida da ilha de Calipso, mas não se dá a conhecer. Alcínoo concede-lhe a hospitalidade e promete mandar levá-lo a Ítaca.
VIII — Assembléia convocada para deliberar sobre os meios de reconduzir Ulisses à pátria. Grande banquete em honra do herói. Ao ouvir o aedo Demódoco cantar o seu passado glorioso, comove-se, o que leva Alcínoo a suspeitar de sua identidade. Jogos em sua honra: sai vencedor no lançamento do disco. Demódoco canta os amores de Ares e Afrodite e, depois, por solicitação de Ulisses, o estratagema do cavalo de Tróia. O herói se emociona. Alcínoo pede-lhe que conte suas aventuras.
IX — "Eu sou Ulisses". É assim que se inicia o flashback do poema. Narra sua passagem pelo país dos Cícones, dos Lotófagos e dos Ciclopes. O Ciclope Polifemo devora seis de seus companheiros. Ulisses o embebeda e, aproveitando-se de seu sono, vaza-lhe o único olho. Em seguida escapa com seus nautas por baixo das gordas ovelhas do monstro, que pede a seu pai Posídon que o vingue. Daí a perseguição implacável do deus do mar contra o herói. -129-
X — Continua a narrativa: na ilha de Éolo, de onde, por culpa de seus comandados, acaba sendo expulso como amaldiçoado dos deuses; no país dos Lestrigões, antropófagos, onde perde grande número de companheiros; na ilha de Eéia, a ilha da feiticeira Circe, que lhe transforma vinte e dois companheiros em porcos. Ulisses escapa aos sortilégios da "deusa" e obriga-a a restituir a forma humana a seus homens.
XI — A conselho de Circe, Ulisses vai ao país dos Cimérios, às bordas do Hades, para consultar a alma do adivinho cego Tirésias acerca de seu regresso a Ítaca. Ulisses não desceu à outra vida. Abriu um fosso e fez em torno do mesmo três libações a todos os mortos com mel, vinho e água, espalhando por cima farinha de cevada. Após evocar as almas dos mortos, degolou em cima do fosso duas vítimas pretas: um carneiro e uma ovelha, dádivas de Circe. "O negro sangue correu e logo as almas dos mortos, subindo do Hades, se ajuntaram". Pôde assim Ulisses conversar com sua mãe, Anticléia, com Tirésias, Aquiles e com vários outros heróis e heroínas.
XII — Ulisses retorna à ilha de Circe e, advertido por ela dos perigos que o ameaçam em seu trajeto, parte para novas aventuras. Vencida a "tentação" das Sereias, passa por Cila e Caribdes e atinge a ilha do deus Hélio Hiperíon. Contra a proibição do herói e quebrando seus próprios juramentos, os companheiros de Ulisses devoram as vacas do deus Hélio. A pedido deste, as naus gregas são fulminadas pelos raios de Zeus. Somente Ulisses escapa e chega sozinho à ilha da Ninfa Calipso.
XIII — Os marinheiros feaces deixam Ulisses adormecido em Ítaca. O navio que o levou é, ao retornar, petrificado por castigo de Posídon. Atená disfarça o herói em mendigo.
XIV — Chega à cabana de seu fiel e humilde servidor, o porcariço Eumeu, que não o reconhece. É informado de como andam as coisas em Ítaca.
XV — Retorno de Telêmaco. Atená lhe aparece em sonhos e indica-lhe o caminho a seguir para evitar a emboscada dos pretendentes.
XVI — Chegada de Telêmaco à cabana de Eumeu. Enquanto este vai prevenir Penélope do regresso do filho, Ulisses e Telêmaco se reconhecem e preparam o extermínio dos pretendentes. -130-
XVIII — Ulisses é obrigado a lutar com o mendigo Iro, para divertimento dos
pretendentes. Arrasta-o para fora do palácio, mas sofre, em seguida, novos ultrajes.
XIX — Ulisses, sempre desconhecido, conta a Penélope uma história que garante que o rei de Ítaca está prestes a retornar. Euricléia, a velha ama do herói, ao lavar-lhe os pés, reconhece-o por uma cicatriz na perna. Penélope, que tudo ignora, narra o ardil do véu sutil e imenso, mas anuncia seu plano para escolher um dos pretendentes.
XX — Banquete dos pretendentes. Instam com Penélope. Ulisses é insultado e maltratado.
XXI — Penélope traz o arco de Ulisses e promete desposar aquele que
conseguir armá-lo e fazer passar a flecha pelos orifícios de doze machados em fila. Todos tentam, mas em vão. Graças à intervenção de Penélope e de Telêmaco, Ulisses consegue experimentar sua habilidade. Arma o arco sem dificuldade alguma e executa a tarefa imposta pela esposa. Terror dos pretendentes.
XXII — Ulisses depõe seus andrajos e se dá a conhecer. Com auxílio de Telêmaco, do porcariço Eumeu e do boieiro Filécio, os dois serviçais que lhe tinham ficado fiéis, massacra todos os pretendentes e maus servidores. Apenas são poupados o aedo e o arauto.
XXIII — Penélope, após longa hesitação, reconhece finalmente Ulisses, quando este provou conhecer o segredo da construção do leito conjugal.
XXIV — Ulisses e seu pai Laerte se reencontram. As almas dos pretendentes são arrastadas por Hermes para o Hades. Revolta das famílias dos pretendentes. Laerte, Ulisses e Telêmaco lutam contra os parentes dos mortos. Atená, no entanto, intervém e restabelece a paz entre os dois partidos. -131-
Dada esta visão de conjunto, não é muito difícil caracterizar a cada um dos deuses antropomorfizados que agem nos poemas homéricos: deuses que amam, odeiam, protegem, perseguem, discutem, lutam, ferem e são feridos, aconselham, traem e mentem. . . Já se disse, com certa ironia, que em Homero há três classes de homens: povo, heróis e deuses. O que estaria bem próximo da verdade, se os deuses não fossem imortais.
É bom repetir que se os olhos do poeta estão voltados tão-somente para os grandes príncipes e heróis, é à imagem deles que o poeta concebe o mundo dos deuses. Claro está que a religião dos poemas homéricos não é original do cantor de Aquiles. As afirmativas do poeta e filósofo Xenófanes (século VI a.C.) e do historiador Heródoto (484-408 a.C.) de que os deuses são uma invenção de Homero e Hesíodo carecem inteiramente de fundamento. A religião homérica resulta de um vasto sincretismo e de influências várias, no tempo e no espaço.
De outro lado, se as histórias que o poeta atribui a esses deuses são antigas ou representam um compromisso entre o passado e o presente é um assunto, por enquanto, difícil de ser resolvido. Talvez "o compromisso" fosse mais lógico.
Seja como for, os deuses homéricos antropomorfizados, se bem que por vezes se nivelem até por baixo com os seres humanos, constituem um grande progresso para os séculos IX e VIII a.C. Tomando-se por base as epopéias homéricas, o que de saída se pode assegurar é que o poeta criou o "Estado dos deuses" subordinado à soberania de um deus maior, Zeus, já possuindo tanto aqueles quanto este algumas funções mais ou menos definidas. Zeus é o rei, os demais deuses são seus vassalos, eventualmente convocados para uma assembléia que se reúne numa utópica fortaleza real, o Olimpo. Os seus subordinados não raro são recalcitrantes, obstinados e procuram fazer prevalecer seus interesses pessoais, mas o pai dos deuses e dos homens os reduz à obediência com frases duras e ameaças terríveis, que, na realidade, quase nunca se cumprem.
"A concepção de um Estado divino sob o governo de Zeus foi tão profundamente gravada pela autoridade de Homero, que pôde atravessar incólume a transformação política que em época antiga eliminou a realeza, substituindo-a pela aristocracia ou pela -132- democracia: na terra vigorava a república, no céu, a monarquia".[17] A primeira grande característica dessas divindades "reais" é "serem luminosas e antropomórficas". Em vez de potências ctônias, assustadoras e terríveis, os deuses homéricos se apresentam inundados de luz (estamos numa religião tipicamente patriarcal), os quais agem e se comportam como seres humanos, superlativados nas qualidades e nos defeitos.
O teratomorfismo (concepção de um deus com forma animal) que, por vezes, aparece em Homero, certamente reminiscência de um antigo totem ou "influência oriental", parece residir apenas em alguns epítetos, sem que esse zoomorfismo tenha outras conseqüências práticas. Atená é denominada glaukôpis, de "olhos de coruja", que normalmente se traduz por "olhos garços" e é ainda a mesma deusa que aparece sob forma de pássaro, ave do mar, andorinha, águia marinha, e abutre; a deusa Hera é chamada boôpis, de "olhos de vaca", que se pode interpretar como "olhos grandes"; Apoio Esminteu é o "destruidor de ratos" e o mesmo deus se metamorfoseia em "abutre".
Mas nem todos os deuses homéricos revestiram-se das formas humanas: há os que permaneceram como forças da natureza. Na Ilíada, o deus-rio Escamandro ou Xanto participa da grande batalha do canto XX e, irritado com os inúmeros cadáveres lançados por Aquiles em suas correntes, o deus-rio transborda e ameaça no canto XXI submergir o herói. Foi necessário o sopro ígneo de Hefesto (luta da água contra o fogo) para fazê-lo voltar a seu leito. Para que a pira, que deveria consumir o corpo de Pátroclo, se inflamasse, foi preciso que Aquiles, no canto XXIII do mesmo poema, prometesse aos deuses-ventos Bóreas e Zéfiro ricas oferendas... Outros exemplos poderiam ser aduzidos, mas bastam estes para mostrar que nem todos os deuses homéricos se cobriram com a grandeza e com as misérias humanas.
Em geral, as divindades homéricas "distinguem-se por uma superlativação das qualidades humanas": são majestosos, brilhantes, muito altos e fortes. Possuem areté (excelência) e timé (honra), sem temor de ir além dos limites, como os heróis que não podem ultrapassar o métron, a "medida" de cada um.
Tendo princípio, mas não tendo fim, são imortais, mas não eternos. Ao que parece, a noção de eternidade só aparecerá bem depois na Grécia com Platão e Aristóteles. -133-
A todo instante estão imiscuídos, sobretudo na Ilíada, com os heróis: combatem, protegem, aconselham, mas suas teofanias, suas manifestações divinas, se fazem sob forma hierofânica, sob disfarce, e não epifânica, isto é, como realmente são. No canto XX, 131, diz taxativamente a deusa Hera, temendo que Aquiles, ao ver Apoio, se assuste: É difícil suportar a vista de deuses que se manifestam em plena luz.
Na Odisséia, embora os deuses sejam os mesmos, com as excelências e torpezas inerentes à sua concepção antropomórfica, tem-se a nítida impressão de que eles subiram alguns degraus em sua escala divina. Mantêm-se, com efeito, mais afastados dos homens e atuam mais à distância, sobretudo por meio de sonhos não enganadores, não mentirosos, como o "Sonho funesto" de Agamêmnon, enviado por Zeus no canto II da Ilíada, mas como aquele em que Atená manifesta realmente seu desejo a Nausícaa, no canto VI da Odisséia.
Mais ainda: a forma hierofânica na Odisséia está bem mais acentuada: Atená, sob a forma de Mentes no canto I ou de Mentor nos cantos II, III e em vários outros da Odisséia, torna-se realmente, no decorrer de todo o poema, a deusa tutelar, a bússola de Ulisses e Telêmaco. As assembléias dos deuses tornaram-se mais serenas e ordeiras. Talvez os deuses da Odisséia tenham envelhecido com o poeta: são mais calmos e tranqüilos. O grande ódio de Posídon e a ira de Hélio Hiperíon parecem terminar, com certa surpresa para o leitor, no canto XIII, tão logo o herói toca o solo pátrio.
A novidade maior da Odisséia, todavia, está no embrião da idéia de culpa e castigo, em que a hýbris, a violência, a insolência, a ultrapassagem do métron, que será a mola mestra da Tragédia, começa a despontar.
Na proposição do poema I, 6-9, se diz logo que "os insensatos companheiros de Ulisses pereceram por seu próprio desatino, porque devoraram as vacas do deus Hélio: este, por isso mesmo, não os deixou ver o dia do regresso".
Mais claro ainda é uma fala de Zeus, embora muito discutida, no canto I da Ilíada, 26-43, em que o pai dos deuses e o pai dos homens afirma que "os mortais culpam os deuses dos males que lhes sucedem, quando somente eles, os homens, por loucura própria e contra a vontade do destino, são os seus autores". Eis aí a ponta do véu da díke, da justiça, que se levanta. -134-
Feitas estas ligeiras observações acerca dos deuses homéricos, tomados em bloco, vamos observar agora cada um deles separadamente, mas sem perder de vista o conjunto de que cada um faz parte.
Zeus, sempre se começa por ele, é o deus indo-europeu, olímpico, patriarcal por excelência. Age ou deveria agir como árbitro, sobretudo na Ilíada, mas sua atuação é um pêndulo: oscila entre o estatuído pela Moîra, com a qual, por vezes, parece confundir-se, e suas preferências pessoais. Os Aqueus destruirão Tróia, ele o sabe, mas retarda quanto pode a ruína da cidadela de Príamo, porque prometera a Tétis "a vitória" dos Troianos, até que se dessem cabais satisfações à timé ofendida de Aquiles. Para cumprir seu desígnio é capaz de tudo: da mentira às ameaças mais contundentes. Na prova de força que dá no canto VIII, 11-27, quando proíbe os deuses de ajudarem no combate a Gregos e Troianos, ameaça lançar os recalcitrantes nas trevas eternas do Tártaro e afirma categoricamente que seu poder e força não maiores que a soma da força e do poder de todos os imortais reunidos! E desafia-os para uma competição. . . Todos se calam, porque perderam a voz, tal a violência do discurso de Zeus. Somente Atená, a filha do coração, após concordar com o poderio paterno e prestar-lhe total submissão (excelente psicóloga!), ousa pedir que os Aqueus ao menos não pereçam em massa. E Zeus sorriu e disse-lhe que fosse em paz, sem temor: com "a filha querida" ele desejava ser indulgente!
A personalidade de Zeus parece desenvolver-se em dois planos: como "preposto" da Moîra, na Ilíada, age como déspota; como chefe incontestável da família olímpica, busca quanto possível a conciliação.
Hera é a esposa rabugenta de Zeus. A deusa que nunca sorriu! Penetrando nos desígnios do marido, vive a fazer-lhe exigências e irrita-se profundamente quando não atendida com presteza. Para ela os fins sempre justificam os meios. Para atingi-los usa de todos os estratagemas a seu alcance: alia-se a outros deuses, bajula, ameaça, mente. Chegou mesmo a arquitetar uma comédia de amor, para poder fugir à severa proibição do esposo e ajudar os Aqueus.
Atraiu femininamente Zeus para os píncaros tranqüilos do monte Ida e lá, num ato de amor mais violento e quente que as batalhas que se travavam nas planícies de Tróia, prostrou o poderoso pai dos deuses e dos homens num sono profundo! É verdade que não -135- raro Zeus manifesta por ela um profundo desprezo e surgem então as ameaças e afirmativas de domínio masculino, o que mais acentua a fraqueza e a insegurança do grande deus olímpico, porque tais ameaças nunca se cumprem. Conhecedor profundo do rancor, da irritabilidade e da insolência da esposa, Zeus procura evitar, quanto possível, as cenas de insubordinação e a linguagem crua e desabrida da filha de Crono. Esquiva-se ou busca harmonizar as coisas, dando a falsa impressão de que o destino dos mortais depende mais do humor de Hera do que da onipotência do esposo. Em relação aos demais deuses e aos heróis, a deusa não tem meios-termos: ama ou odeia e na consecução destes dois sentimentos vai até o fim. Tem-se visto no comportamento de Hera, a deusa dos amores legítimos, sobretudo na influência exercida sobre Zeus, o reflexo da poderosa deusa da fecundidade (e ela realmente o foi em Creta), a cujo lado o esposo divino desempenharia um papel muito secundário: apenas o de deus masculino fecundador. A cena de amor no monte Ida simbolizaria tão-somente uma hierogamia, isto é, uma união, um casamento sagrado, visando à fertilidade.
Atená é o outro lado de Hera no coração de Zeus. Nascida sem mãe, das meninges do deus, é, já se mostrou, a filha querida, cujos desejos e rogos, mais cedo ou mais tarde, são sempre atendidos e cujas rebeldias sempre entristecem, "pois estas lhe são tanto mais penosas quanto mais querida é a filha". O canto VIII da Ilíada está aí para mostrar quanto Atená, a deusa da inteligência, é a preferida e a mimada pelo senhor do Olimpo.
Ares, ferido no canto V, 856-861, pela lança de Diomedes, guiada por Atena, sobe ensangüentado ao Olimpo e vitupera duramente a proteção de Zeus à filha de olhos garços:
Todos nós estamos revoltados contra ti. Geraste uma louca execrável, que só medita atrocidades. Todos os demais deuses que habitam o Olimpo te ouvem e cada um de nós te é submisso. A ela, todavia, jamais diriges uma palavra, um gesto de censura. Tu lhe soltas as rédeas, porque sozinho deste à luz esta filha destruidora. (Il. V, 875-880)
Apolo homérico é uma personagem divina em evolução. Ainda se está longe do deus da luz, do equilíbrio, do gnôthi s'autón, do conhece-te a ti mesmo, daquele que Platão denominou pátrios eksegetês, quer dizer, o exegeta nacional. O Apoio da Ilíada é um deus -136- mais caseiro, um deus de santuário, uma divindade provinciana. Preso à sua cidade, comporta-se como um deus tipicamente asiático: é o deus de Tróia e lá permanece. Raramente lhe ultrapassa os limites e é, por isso mesmo, pouco freqüentador do Olimpo.
A seus fiéis protege-os até o fim e, por isso mesmo, protesta com veemência na assembléia dos deuses contra os ultrajes de Aquiles ao cadáver de Heitor, seu favorito:
Sois cruéis e malfeitores, deuses. Porventura, Heitor não queimou nunca em vossa honra gordas coxas de boi ou cabras sem mancha? Agora, que nada mais é que um cadáver, não tendes coragem de protegê-lo, a fim de que possam ainda vê-lo sua mãe, seu filho, seu pai Príamo e seu povo. Eles já o teriam há muito tempo incinerado e há muito lhe teriam prestado as honras fúnebres! (Il. XXIV, 33-38)
Posídon é um deus amadurecido pelas lutas que travou, e sempre as perdeu, com seus irmãos imortais e com o próprio Zeus. O deus do mar, na Ilíada, tem como característica fundamental a prudência. Sempre que discorda, comunica-se primeiro com o irmão todo-poderoso e acata-lhe de imediato a decisão. Quando Hera planejou uma conjuração contra o esposo e convidou o deus do mar, este se irrita e responde-lhe que "Zeus é cem vezes mais forte do que todos os imortais". Mas, numa ausência prolongada do Olímpico, Posídon aproxima-se, observa e, vendo-se em segurança, admoesta e encoraja os Aqueus. Por fim, quando Hera adormece no Ida ao esposo, o deus entra diretamente na luta e se empenha tanto nos combates, que não percebe o despertar de Zeus. Foi necessário o envio de Íris para admoestá-lo. Posídon obedece in continenti e o Olímpico se felicita pela submissão do deus do tridente. Apesar de prudente e submisso a Zeus, é incrivelmente rancoroso com os mortais. Perseguiu Ulisses de modo implacável até a ilha de Ogígia, e se de lá o herói pôde partir, por decisão dos deuses, reunidos em assembléia, foi porque Posídon estava ausente, na Etiópia e daquela não participou. Curioso é que até a ilha dos Feaces Atená pouco fez para ajudar seu protegido, contentando-se em agir indiretamente junto a Zeus. A partir da corte de Alcínoo é que a "filha predileta" intervém diretamente e assegura a salvação de Ulisses. Há, segundo se crê, uma divisão de zonas de influência de cada um dos deuses: -137- um não interfere nos domínios do outro. A própria Atená, respondendo à reclamação de Ulisses de que fora por ela abandonado no vasto mar, afirma que não interveio antes para não entrar em litígio com o tio (Od. XIII, 341-343).
Tétis é uma poderosa deusa marinha. Sua residência é uma gruta submarina, mas com todas as prerrogativas devidas a uma imortal tão importante. Seu poder é tão grande junto a Zeus, que, para vingar a timé de Aquiles, os Aqueus serão derrotados até o canto XVII da Ilíada! Mãe acima de tudo, procurou evitar por todos os meios que o filho participasse da Guerra de Tróia, porque lhe conhecia o destino. Com a morte de Pátroclo, após tentar maternalmente consolar o inconsolável Aquiles, dirige-se à forja divina de Hefesto e de sua esposa Cáris. Com que dignidade e humildade, aos pés do deus, segurando-lhe os joelhos, pede, a quem tanto lhe deve, que fabrique novas armas para o Pelida (Il XVIII, 429-461). Talvez Tétis seja a mais humana das figuras divinas de Homero.
Hefesto é o deus coxo. Por tentar socorrer sua mãe Hera, que brigava com Zeus, foi por este lançado do Olimpo no espaço vazio. O deus caiu na ilha de Lemnos e ficou aleijado. Foi Tétis quem o recolheu e levou para sua gruta submarina. Hefesto sofre as limitações de seu próprio físico e serve comumente de alvo de chacota para seus irmãos imortais. Já o vimos, em meio às gargalhadas de seus pares, claudicando atarefado pelos salões do Olimpo. Infeliz no casamento com Afrodite, que o traía com Ares, soube vingar-se dos adúlteros, estendendo uma rede invisível em torno de seu próprio leito e apanhando de surpresa o casal.
Os deuses, convidados a contemplar a cena, comemoram a artimanha do marido traído com seu eterno sorriso inextinguível. Sumamente elucidativa, porém, é a explicação dada por Hefesto para a infidelidade de Afrodite: Pai Zeus e todos os demais bem-aventurados deuses sempiternos! Vinde contemplar uma cena ridícula e intolerável. Afrodite, filha de Zeus, por ser eu coxo, me desonra continuamente e prefere o pernicioso Ares, que é belo e tem membros sãos. Eu, porém, sou aleijado. A culpa, todavia, não é minha, mas de meus pais, que nunca me deveriam ter gerado. (Od. VIII, 306-312)
-138-
Aí está o grande problema pessoal de Hefesto, que procura compensar sua deficiência física e infelicidade conjugal com excessiva serventia. É o mais prestativo e humilde dos Olímpicos, ao menos em Homero.
Ares é o menos estimado dos deuses: pelos homens e pelos imortais. De deus da guerra, o amante de Afrodite torna-se nos poemas homéricos uma personagem de comédia. Falta-lhe ainda muito para ser o flagelo dos homens.
Se na Odisséia fez o papel ridículo de sedutor punido, na Ilíada, após ser ferido por Diomedes, corre ao Olimpo, segundo se mostrou, para queixar-se a Zeus, de quem recebe ironias e insultos.
Não me venhas, ó pateta, gemer a meus pês! És o mais odioso de todos os imortais que habitam o Olimpo. Teu único prazer são a rixa, a guerra, os combates. Herdaste a violência intolerável e a insensibilidade de tua mãe, Desta Hera que, a custo, consigo dominar com palavras. (Il. V, 889-893)
Até mesmo Atená o derruba e zomba do deus da guerra!
Afrodite é o amor. Apenas amor. Seu protegido é Paris. Para ele quer Helena sempre pronta e de braços abertos para recebê-lo, mesmo quando o poltrão, que não resistiu ao primeiro ataque de Menelau, no combate singular do canto III da Ilíada, é envolto numa nuvem e transportado para "o quarto perfumado" de Helena. . . A esposa de Menelau mostra muito mais dignidade que a deusa e seu protegido. Convidada por Afrodite a dirigir-se ao "quarto perfumado" onde o "herói" repousa e a espera, Helena a princípio se recusa e aconselha a deusa do amor a ir deitar-se com ele. . . Só mediante ameaças, sobretudo a de deixá-la entregue à própria sorte e à morte certa, é que a rainha de Esparta, embora com repugnância, foi para junto do amante, a quem não poupou injúrias e escárnios (Il. III, 383-436).
Ingloriamente ferida no canto V por Diomedes, que a denomina "uma deusa sem forças", sai dando gritos e deixa seu filho Enéias, que recebera uma pedrada do mesmo Diomedes, cair de seus braços.. . Na carruagem de Ares dirige-se gemendo para o Olimpo, onde Hera e Atená mordazmente inventam para Zeus uma história deveras hilariante. Atená diz ao pai que Afrodite deve ter passado -139- a cortejar os Aqueus e, acariciando um deles, rasgou a mão delicada em algum grampo de ouro. . . Riu-se muito o pai dos deuses e dos homens. Chamou
Afrodite e deu-lhe um conselho salutar:
Não foste feita, minha filha, para os trabalhos da guerra: consagra-te somente aos doces trabalhos do himeneu... (Il. V, 428-429)
Aí estão sumariamente retratados por Homero os principais deuses da Ilíada e da Odisséia. Tragédia e comédia se entrelaçam: até nisto Homero é gênio. A ação e a reação dos deuses homéricos, sua conduta enfim, têm levado alguns a afirmar que a Ilíada é o mais irreligioso dos poemas.[18] Vai nisto um exagero. É preciso estabelecer em Homero uma dicotomia entre ética e religião. E na Ilíada ambas estão inteiramente desvinculadas. Dentro dos padrões da época, o poema de Aquiles é o primeiro grande esboço da religião helênica. De outro lado, é necessário levar em conta que os poetas, e Homero é o maior deles, são cantores, são "poetas" e não reformadores religiosos!
O estudo da escatologia (destino definitivo do indivíduo), que se encontra nos poemas homéricos, oferece dificuldades mais ou menos sérias. É que o poeta usa uma terminologia não muito precisa e, não raro, cambiante. Vamos, assim, primeiro fazer um levantamento dos termos, observando a maior incidência dos mesmos no seu respectivo campo semântico, depois se procurará estabelecer a doutrina, explicitando antes, se não o apego, ao menos a dignidade que os heróis atribuíam a esta vida.
Mas, tanto os termos quanto a doutrina terão por limite a Homero, pois que, um pouco mais tarde, ambos sofrerão alterações profundas. De início, vamos nos defrontar com moîra ou aîsa, a grande condicionadora da vida. A palavra grega moîra provém do verbo meíresthai, obter ou ter em partilha, obter por sorte,
repartir, donde Moîra é parte, lote, quinhão, aquilo que a cada um coube por sorte, o destino. Associada a Moîra tem-se, como seu sinônimo, nos poemas homéricos, a voz árcado-cipriota, um dos dialetos usados pelo poeta, Aîsa. Note-se logo o gênero feminino de ambos os -140- termos, o que remete à idéia de fiar, ocupação própria da mulher: o destino simbolicamente é "fiado" para cada um. De outro lado, Moîra e Aîsa aparecem no singular e só uma vez na Ilíada, XXIV, 49, a primeira surge no plural. O destino jamais foi personificado e, em conseqüência, Moîra e Aîsa não foram antropomorfizadas: pairam soberanas acima dos deuses e dos homens, sem terem sido elevadas à categoria de divindades distintas. A Moîra, o destino, em tese, é fixo, imutável, não podendo ser alterado nem pelos próprios deuses. Há, no entanto, os que fazem sérias restrições a esta afirmação e caem no extremo oposto: "Aos olhos de Homero, Moîra confunde-se com a vontade dos deuses, sobretudo de Zeus[19]. É bem verdade que em alguns passos dos poemas homéricos parece existir realmente uma interdependência, uma identificação da Moîra com Zeus, como nesta fala de Licáon a Aquiles:
E a Moira fatídica, mais uma vez, me colocou em tuas mãos: parece que sou odiado por Zeus pai, que novamente me entregou a ti. (Il. XXI, 82-83)
Zeus e Moiira nestes versos representam, sem dúvida, para o troiano Licáon o mesmo flagelo que o entregou nas mãos sanguinárias de Aquiles.
Em outra passagem Zeus dá a impressão de que, se quisesse, poderia modificar a Moîra. Ao ver que seu filho Sarpédon corria grande perigo no combate e estava prestes a ser morto por Pátroclo, o Olímpico pergunta a Hera se não seria mais prudente retirá-lo da refrega. A deusa responde-lhe indignada em nome da Moîra:
Crônida terrível, que palavras disseste? Um homem mortal, há muito tempo marcado pela Aîsa e queres livrá-lo da morte nefasta? Podes fazê-lo, mas nós, os outros deuses todos, não te aprovamos. (Il. XVI, 440-443)
A inalterabilidade da Moîra, porém, está bem clara nestas palavras de Hera a respeito do destino de Aquiles: -141-
Todos nós descemos do Olimpo para participar desta batalha, a fim de que nada aconteça a Aquiles por parte dos Troianos, hoje, ao menos: mais tarde, todavia, ele deverá sofrer tudo quanto AÎSA fiou para ele, desde o dia em que sua mãe o deu à luz. (Il. XX, 125-128)
Os exemplos poderiam multiplicar-se tanto em defesa da identidade de Zeus com a Moîra quanto, e eles são em número muitíssimo mais elevado, da total independência de Aîsa face a todos os imortais.
O que se pode concluir, salvo engano, é que, por vezes, Zeus se transforma em executor das decisões da Moîra, parecendo confundir-se com a mesma.
Ainda como fator externo que, por vontade de Zeus, atua sobre o homem e lhe transtorna o juízo, encontramos em Homero a palavra Áte, que se poderia traduzir por cegueira da razão, "desvario involuntário", de cujas conseqüências o herói depois se arrepende. O texto mais citado e que mereceu um excelente comentário de R.E. Dodds é a fala de Agamêmnon no canto XIX da Ilíada, em que o herói procura se desculpar, culpando Áte, das ofensas feitas a Aquiles na assembléia do canto I, 172sqq:
— É ao filho de Peleu que desejo expressar o que penso. Examinai-o bem, Argivos, e procurai compreender a minha intenção. Muitas vezes os Aqueus me falaram a esse respeito e me censuraram. Eu não sou culpado, mas Zeus, a Moîra e a Erínia que caminha na sombra, quando na assembléia repentinamente me lançaram no espírito uma ÁTE louca, naquele dia em que eu próprio arrebatei o presente de honra de Aquiles. (Il. XIX, 83-89)
Em contraste com os dois conceitos anteriores, mas que concorrem para elucidar também o porquê da importância atribuída pelo herói a "esta vida", estão a areté e sua natural dedução, a timé.
Agathós em grego significa bom, notável, "hábil para qualquer fim superior"; o superlativo de agathós é áristos, o mais notável, -142- o mais valente e o verbo daí formado é aristeúein, "comportar-se como o primeiro". Pois bem, areté pertence à mesma família etimológica de áristos e aristeúein e significa, por conseguinte, a "excelência", a "superioridade", que se revelam particularmente no campo de batalha e nas assembléias, através da arte da palavra. A areté, no entanto, é uma outorga de Zeus: é diminuída, quando se cai na escravatura, ou é severamente castigada, quando o herói comete uma hýbris, uma violência, um excesso, ultrapassando sua medida, o métron, e desejando igualar-se aos deuses. Uma coisa é o mundo dos homens, outra, o mundo dos deuses, são palavras de Apoio ao fogoso Diomedes (Il. V, 440-442).
Conseqüência lógica da areté é a timé, a honra que se presta ao valor do herói, e que se constitui na mais alta compensação do guerreiro. Aquiles se afasta do combate no canto I exatamente porque Agamêmnon o despojou do público reconhecimento de sua superioridade, tomando-lhe Briseida. Tétis implora a Zeus que a timé de Aquiles lhe seja restituída (Il. I, 503-510).
Neste sentido, como afirma P. Mazon, a Ilíada é "o primeiro ensaio de uma moral de honra". Apesar das palavras terríveis de Zeus acerca do ser humano:
Nada mais desgraçado que o homem entre todos os seres que respiram e se movem sobre a terra. (Il. XVII, 446-447)
os gregos homéricos, sabedores de que o além que se lhes propunha eram as trevas e o nada, fizeram desta vida miserável a sua vida, buscando prolongá-la através da glória que a seguiria. "O amor à vida torna-se, por isso mesmo, o princípio e a razão do heroísmo: aprende-se a colocar a vida num plano muito alto para sacrificá-la à glória, que há de perpetuá-la. Aquiles é a imagem de uma humanidade condenada à morte e que apressa esta morte para engrandecer sua vida no presente e perpetuar-lhe a memória no futuro".[20]
Depois de discutirmos a noção e a ação da Moîra, de Áte e a dignidade da areté e da timé, vamos, finalmente, seguir com o herói para a outra vida.
Teremos, novamente, que nos defrontar com uma terminologia assaz complicada. Tomaremos, por isso, por guia as obras formidáveis de Dodds[21] e Snell[22]. -143-
A primeira peculiaridade na conceituação do homem nos poemas homéricos, consoante Dodds, é a carência de uma concepção unitária da personalidade. Falta a noção de vontade e, por isso, não existe obviamente livre-arbítrio, uma vez que este se origina daquela. Não se encontra ainda em
Homero a distinção entre psíquico e somático, mas uma interpenetração de ambos e, assim, "qualquer função intelectual é considerada um órgão". Daí decorrem certos vocábulos que "tentam" explicar as ações e reações do ser humano e sobretudo seu destino após a morte. O primeiro deles é thymós que designa o instinto, o apetite, o alento e poderia ser definido "grosseira e genericamente", consoante Dodds, como o "órgão do sentir" (feeling). Goza de uma independência que a palavra "órgão" não nos pode sugerir, "já que estamos habituados ao conceito de organismo e unidade orgânica". O thymós pode levar o herói tanto à prática de façanhas gloriosas quanto a atos muito simples, como os de comer e beber. O guerreiro pode conversar com seu thymós, com "seu coração", com "seu ventre": tudo isto é thymós. Em síntese, para o homem homérico o thymós não é sentido como uma parte do "self": trata-se de uma espécie de voz interna independente.
Já o vocábulo nóos é mais preciso: designa o espírito, o entendimento.
Quando Circe transformou em porcos os companheiros de Ulisses, eles, não obstante, conservaram o seu nóos:
Eles verdadeiramente tinham as cabeças, a voz, corpo e pêlos de porcos, mas conservavam como antes o "espírito" (NÓOS) perfeito. (Od. X, 239-240)
Muito vizinho do campo semântico de nóos está o termo phrén, mais comumente no plural, phrénes, que se pode traduzir, ao menos as mais das vezes, por entendimento.
Psykhé, psiqué, que se perpetuou universalmente com o sentido de alma nas línguas cultas e em tantos compostos, provém do verbo psýkhein, soprar, respirar, donde psiqué, do ponto de vista etimológico, significa respiração, sopro vital, vida. Fato curioso é o que observa Dodds: "É sabido que Homero parece atribuir uma psykhé ao homem somente após sua morte ou quando está sendo ameaçado de morte, ou ao morrer ou ainda quando desmaia. A única função da psykhé mencionada em relação ao homem vivo é a de abandoná-lo".[23] -144-
É o caso entre muitos outros de Sarpédon, em que a psykhé o abandona sob a violência do golpe[24] ou como Andrômaca que exala sua psykhé, que "desmaia", ao ver o cadáver de Heitor.[25] Mas, em ambos os casos, a psique retorna através das vias respiratórias.
Quando sobrevém a morte, a psiqué então se afasta em definitivo, como na morte de Pátroclo: Ele diz: a morte que tudo termina o envolve.
A psiqué deixa-lhe os membros e sai voando para o Hades, lamentando seu destino, ao deixar o vigor da juventude. (Il. XVI, 855-857)
Com a morte do corpo, a psiqué torna-se um eídolon, uma imagem, um simulacro que reproduz, "como um corpo astral", um corpo insubstancial, os traços exatos do falecido em seus derradeiros momentos. Eis aí o eídolon de Pátroclo, que aparece em sonhos a Aquiles:
E eis que aparece a psiqué do infortunado Pátroclo, em tudo semelhante a ele: pela estatura, pelos belos olhos, pela voz; o corpo está coberto com a mesma indumentária. (Il. XXIII, 65-67)
E o eídolon do herói pede a Aquiles que lhe sepulte o corpo, ou melhor, "as cinzas", sem o que não poderá sua psique penetrar no Hades:
Sepulta-me o mais rapidamente possível, para que eu cruze as portas do Hades. (II. XXIII, 71)
Mas, quando as chamas lhe consumirem o cadáver, sua psiqué jamais sairá lá debaixo. A reencarnação na Grécia viria bem mais tarde:
Jamais sairei do Hades, quando as chamas me consumirem. (Il. XXIII, 75-76)
Aquilestenta abraçá-lo, mas o eídolon do amigo esvai-se como vapor e, com um pequeno grito, baixa ao Hades:
Ah! Sem dúvida existe nas mansões do Hades uma Psykhé, um EÍDOLON, que não tem, contudo, PHRÉN algum. (Il. XXIII, 103-104)
-145-
Quer dizer, no Hades, a psiqué, o eídolon, é uma sombra, uma imagem pálida e inconsistente, abúlica, destituída de entendimento, sem prêmio nem castigo. É que com o corpo morreram o thymós e o phrén.
Essa sombra abúlica e apática pode, no entanto, recuperar por instantes a razão, mediante aquele complicado ritual que se descreveu na síntese do canto XI da Odisséia. Neste mesmo canto, o eídolon de Aquiles, tendo recuperado "o entendimento", pôde dialogar com Ulisses e transmitir-lhe uma opinião melancólica acerca da outra vida: o grande herói preferia ser agricultor na terra, que era uma das mais humildes funções, a ser rei no Hades. Aqui está o diálogo entre Ulisses e Aquiles:
Mas tu, Aquiles, és o mais feliz dos homens do passado e do futuro, pois, enquanto vivias, nós, os Argivos, te honrávamos como aos deuses, e agora, estando aqui, tens pleno poder sobre os mortos; desse modo não deves te afligir por ter morrido. Assim disse e ele prontamente me respondeu: Ilustre Ulisses, não tentes consolar-me a respeito da morte! Eu preferia cultivar os campos a serviço de outro, de um homem pobre e de poucos recursos, a dominar sobre todos os mortos. (Od. XI, 482-491)
É assim que se nos apresenta a religião homérica. Embora encurralado pela Moîra e ameaçado constantemente por Áte, o herói, nesta vida, de que ele fez a sua vida, tem a dignidade de defender, quanto lhe é possível, a sua timé. Carente de uma concepção unitária de personalidade, com o thymós, o phrén e o nóos morrendo com o corpo, que lhe sobra para a outra vida? Apenas a psykhé, uma sombra pálida e inconsciente, um eídolon trôpego e abúlico.
Ignorando as noções de dever, de consciência, de mérito ou de falta, a outra vida ignora, ipso facto, prêmio ou punição para o homem. Aliás, como julgar, punir ou premiar um eídolon)
Quando se levantar a cortina negra da Idade Média grega que, durante três séculos, nos ocultou em parte, a face da Hélade, não mais estaremos com Homero na Ásia Menor, mas com Hesíodo na Grécia Continental. O poeta da Beócia será o assunto do próximo capítulo. -146-

Por volta de 1600-1580 a.e.c, a Hélade recebe nova onda de invasores indo-europeus: trata-se dos Aqueus, nome genérico que Homero, logo nos dois primeiros versos da Ilíada, estendeu a todos os Gregos que lutaram em Tróia. Embora pouco numerosos, esses novos invasores eram aguerridos e rapidamente conquistaram o Peloponeso, empurrando os Jônios para a costa asiática, onde se instalaram à margem do Golfo de Esmirna. Na Grécia continental, os Jônios permaneceram, ao que parece, apenas na Ática, na ilha de Eubéia, em Epidauro e Pilos, de onde, mais tarde, sairiam os Nelidas (nome proveniente de Neleús, pai de Nestor) para colonizarem a Jônia. Falavam um dialeto grego muito semelhante ao jônico, o que pressupõe um habitat comum para Jônios e Aqueus, ao longo de sua lenta peregrinação em direção à Grécia.
Teria sido por essa mesma época que também chegaram à pátria de Sófocles os chamados Eólios? Ou seriam estes últimos tão-somente um "ramo" dos Aqueus, que ocuparam a Beócia e a Tessália?
Seja como for, o mapa étnico da Hélade, à época aquéia, ~ 1580-1100 a.e.c, está "provisoriamente" montado: o Peloponeso, -67- Como se viu no capítulo anterior, os Aqueus, desde ~ 1450 a.e.c, são os senhores absolutos de Creta, sobretudo após a destruição, em ~ 1550 a.e.c, dos palácios de Festo, Háguia Tríada e Tilisso. É bem verdade que também o palácio de Cnossos sucumbiu, devorado por um incêndio, por volta de 1400 a.e.c, mas ainda se ignoram as causas de tamanho desastre. O palácio foi incendiado e destruído em conseqüência de uma revolta popular contra o domínio aqueu ou por um terremoto? Até o momento nada se pode afirmar com certeza. O fato em si não importa muito: os Aqueus, de ~ 1450 a ~ 1100 a.e.c, serão os senhores de Creta. Dessa fusão nascerá a civilização micênica, assim denominada porque teve por centro principal o gigantesco Palácio de Micenas, na Argólida, e durante os dois séculos seguintes a civilização minóica, ou melhor dizendo, já agora a civilização creto-micênica, brilhará intensamente na Grécia continental.
Após as escavações realizadas sobretudo em Tirinto e Micenas por Heinrich Schliemann (1822-1890), continuadas mais tarde, entre outros, pelos arqueólogos gregos Stamatákis, Tsúntas, Keramápullos, Papadimitríu e pelo britânico Wace, abriram-se novas perspectivas para uma melhor compreensão do mundo grego arcaico e de sua civilização.
As fontes básicas para um estudo da civilização micênica são a arquelogia e os poemas homéricos, Ilíada e Odisséia. No tocante a estes últimos, como "fonte histórica", é preciso levar em consideração que Homero é antes de tudo um poeta genial e que a obra de arte possui suas exigências internas, não se coadunando muitas vezes com relatos históricos. Além do mais, os poemas homéricos foram "compostos" ou ao menos reunidos, após existirem como tradição oral, sujeitos portanto a inúmeras alterações, vários séculos após os acontecimentos neles relatados. Fatores, aliás, que levaram o competente e sério Denys Page a ressaltar, talvez com certo exagero, que os documentos escritos no alfabeto linear B demonstram que "os poemas homéricos preservaram muito pouco do verdadeiro quadro do passado micênico".[1] Tomado em bloco, Homero tem em seus poemas bastante de micênico! Com as necessárias precauções, isto sim, é possível estabelecer, partindo-se do II canto da Ilíada, na parte relativa ao Catálogo das Naus, em que o maior dos poetas épicos rememora os tempos heróicos da Guerra de Tróia, a dimensão do mundo aqueu, que se estende, ao norte, desde a Tessália até o extremo sul do Peloponeso, abrangendo, além de Creta, várias outras ilhas, como Ítaca, Egina, Salamina, Eubéia, Rodes e Chipre. Não se trata, evidentemente, de um império, mas de vários reinos, alguns territorialmente diminutos, mas independentes entre si, preludiando já no século XVI a.e.c. o que seria a Grécia clássica, uma Grécia fragmentada em Cidades-Estados, não raro antagônicas e que dificilmente se congregam até mesmo contra o inimigo comum, como aconteceu nas guerras Greco-Pérsicas. Pois bem, esses reinos, pequenos e grandes, cuja hegemonia parece ter sido de Micenas, estão todos centralizados em grandes palácios, como Pilos, Micenas, Esparta, Tebas. . . São, na realidade, independentes, mas ligados por interesses comuns. Em sua ânsia pelo poder, o que exige sua coalizão, aceitam, se bem que não muito de bom grado, a autoridade do rei mais importante e poderoso entre eles, como se pode ver na Ilíada. Agamêmnon, rei de Micenas, logo no início do poema, I,7, é chamado ánax andrôn, o rei dos heróis, o que deixa claro ser ele o chefe supremo dos reis aqueus confederados contra Tróia, embora isto não impeça que o comandante-em-chefe tenha por vezes que fazer valer sua autoridade contra os recalcitrantes heróis aqueus. Aliás, os deuses homéricos, como se verá, agirão exatamente assim com Zeus, o deus supremo do Olimpo! Os deuses homéricos se constituem, não raro, de uma simples projeção social do mundo heróico dos micênicos.
Dentre os grandes palácios que fizeram da Grécia do século XV ao XII a.e.c. uma soberba fortaleza, destaca-se o monumental palácio de Micenas, "um verdadeiro ninho de águias" numa acrópole, que culmina a 278 metros de altura. Trata-se, no conjunto, de um recinto de novecentos metros de perímetro, com poderosas fortificações de muros ciclópicos, aberto a oeste pela Porta dos Leões, encaixada em sólido baluarte, e, ao norte, por uma saída secreta. No interior desse formidável bastião ficava o palácio, cuja arquitetura, como a de suas réplicas em Tirinto e Pilos, é radicalmente diversa da de Cnossos. Ao labirinto minóico, Micenas opõe um conjunto rigorosamente ordenado em três partes: uma vasta sala do trono, um santuário e, como elemento básico, um mégaron (grande salão). Também este é constituído de três compartimentos: um vestíbulo -69- erior, um pródomos ou vestíbulo interior e o mégaron propriamente dito, com uma lareira no centro.
O palácio servia apenas de residência para o rei e, segundo se crê, para alguns dignatários. A verdadeira aglomeração humana ficava numa cidade baixa, a sudoeste da fortaleza. Com base na Linear B, nos poemas homéricos e na arqueologia, é possível delinear um panteão micênico, embora se tenha de proceder com grande prudência. Nas tabuinhas de argila da Linear B são pouquíssimas as informações acerca dos deuses: estes se reduzem a poucos nomes, a meras informações onomásticas. A Ilíada e a Odisséia, elaboradas a partir do século IX a.e.c, têm que ser manuseadas com muita cautela, porque, se de um lado estampam uma "mitologia remoçada de quatro a cinco séculos", em relação à civilização creto-micênica, de outro, sofreram indubitavelmente adições posteriores. Quanto aos monumentos artísticos, estes são sempre objeto de interpretações divergentes.
Para um estudo da religião desse período há que se partir de uma evidência: houve, sobretudo após o domínio de Creta pelos Aqueus, um sincretismo religioso creto-micênico.
De seu mundo indo-europeu os Gregos trouxeram para a Hélade um tipo de religião essencialmente celeste, urânica, olímpica, com nítido predomínio do masculino, que irá se encontrar com as divindades anatólias de Creta, de caráter ctônio e agrícola, e portanto de feição tipicamente feminina. Temos, pois, de um lado, um panteão masculino (patriarcado), de outro, um panteão, onde as deusas superam de longe (matriarcado) aos deuses e em que uma divindade matronal, a Terra-Mãe, a Grande Mãe ocupa o primeiríssimo posto, dispensando a vida em todas as suas modalidades: fertilidade, fecundidade, eternidade. Desses dois
tipos de religiosidade, desse sincretismo, nasceu a religião micênica. Diga-se, de passagem, que esse encontro do masculino helênico com o feminino minóico há de fazer da religião posterior grega um equilíbrio, um meio-termo, muito a gosto da "paidéia" grega posterior, entre o patriarcado e o matriarcado.
Outras influências, particularmente egípcias, muito importantes para os hábitos funerários, enriqueceram ainda mais o patrimônio religioso creto-micênico. -70-
Vejamos mais de perto esse sincretismo. As tabuinhas de Pilos e Creta estampam alguns nomes de deuses e deusas[2], por onde se pode observar que "a fusão", por vezes, se realizou entre elementos muito heterogêneos.
Zeus se apresenta com uma equivalência feminina Dia (Py. 28), que não se pode identificar com a cretense Hera, a qual já aparece associada a Zeus, como deusa da fertilidade, em algumas tabuinhas de Cnossos (Kn. 02) e de Pilos (Py. 172). Ventris e Chadwick[3] pensaram ser Dia uma hipóstase da Magna Maier, a Grande Mãe cretense, isto é, Réia, que Píndaro[4] saudou com o título de °E-v ttvôetõv 'év 9EÜ)V YÉVOÇ, «mãe dos deuses e dos homens", passagem aliás "mal compreendida e mal traduzida"[5] na excelente edição "Les Belle Lettres".
De outro lado, o mesmo Zeus, sob denominação desconhecida, se apresenta em Creta, muito antes do sincretismo de que estamos falando, sob a forma de um jovem belo e sadio, cuja origem creto-nriental, independente do Zeus grego, é defendida por Charles Picard.[6] Trata-se do Zeus cretágeno, isto é, originário de Creta e que vai surgir em Roma com o nome de Veiouis, Véjove, o Júpiter adolescente de cabelos anelados. Além do mais, a ligação de Zeus com a Ilha de Creta, após o sincretismo, sempre foi muito estreita. Para evitar que o pai Crono lhe devorasse também o caçula, Réia, grávida de Zeus, fugiu para a Ilha de Minos e lá, no monte Dicta ou Ida, deu à luz secretamente o filho, que foi amamentado pela cabra cretense Amaltéia.
Apoio aparece apenas com um de seus epítetos clássicos, Peã (Kn. 52), o deus protetor dos guerreiros. Na mesma tabuinha encontram-se também Atená, Posídon, Hermes, Ártemis e Eniálio, o belicoso, cujas funções serão mais tarde inteiramente assimiladas por Ares, cujo nome não está claramente determinado na Linear B. A cretense Ilítia, que posteriormente se tornará hipóstase de Hera, como deusa dos partos, e Deméter, "a terra cultivada", a Grande Mac, lá estão inteiras (Py. 114). Dioniso (Py. 10) é outra presença importante e garantida e cujo culto já era muito difundido em Creta, bem antes do aparecimento do deus na Ilíada de Homero.
Causa realmente estranheza a ausência de nomes de deuses autenticamente cretenses, como Réia, Britomártis ou Dictina, Velcano, o deus-galo, e Perséfone.
Como se vê, com a inestimável cooperação cretense, o futuro panteão grego da época clássica, se bem que terrivelmente miscigenado, já estava pronto no século XIV a.e.c. Falou-se em cooperação cretense porque, dentre os deuses citados, são considerados como minóicos (posto que ainda se discuta a respeito de um ou outro) os seguintes: Ártemis, Atená, Hera, Ilítia, Perséfone, Réia; os secundários Eniálio, Velcano, Britomártis ou Dictina e talvez Hermes. Se Dioniso e Afrodite são seguramente divindades asiáticas, sobra muito pouco de autenticamente indo-europeu entre os futuros doze grandes do Olimpo, pois que, acerca da origem de Apoio e Hefesto não se chegou ainda a uma conclusão convincente, nem mesmo do ponto de vista etimológico.
É de notar-se, todavia, como já se disse, que o sincretismo creto-micênico fez que as divindades helênicas tivessem um caráter essencialmente composto, miscigenado e heterogêneo, o que explica a multiplicidade de funções e um entrelaçamento de mitos em relação a uma mesma divindade.
O Zeus indo-europeu, deus da luz, segundo a própria etimologia da palavra, deus da abóbada luminosa do céu, do raio e dos trovões, irá fundir-se com o jovem "Zeus" cretense, apresentando-se, por isso mesmo, também como um adolescente imberbe, deus dos mistérios do monte Ida, deus da fertilidade e deus ctônio, o Zeus Khthónios de que fala Hesíodo. Ora, o Zeus barbudo e majestoso do Olimpo, no esplendor da idade, é inteiramente diverso do jovem deus dos mistérios cretenses e, no entanto, se fundiram numa única personalidade.
Hermes, deus dos pastores, protetor dos rebanhos, é a divindade por excelência da sociedade campônia aquéia. Pois bem, enriquecido pelo mito cretense, Hermes tornou-se mais que nunca o "companheiro do homem". Deus da pedra sepulcral, do umbral, do hérmaion e das "hermas", guardião dos caminhos, protetor dos viajantes, cada transeunte lançava uma pedra, formando um hérmaion, literalmente, lucro inesperado, descoberta feliz, proporcionados por Hermes e, assim, para se obterem "bons lucros" ou agradecer o recebido, se formavam verdadeiros montes de pedra à beira dos caminhos. Possuidor de um bastão mágico, o caduceu, com que tangia as almas para a outra vida, tornou-se o deus psicopompo, quer -72- dizer, condutor de almas, sem o que estas não poderiam alcançar a eternidade e felicidade que a religião cretense prometia aos iniciados. Deus indo-europeu dos pastores, cuja lenda estava ligada ao carneiro de velocino de ouro, "verdadeiro talismã das riquezas aquéias e garantia de fecundidade", Hermes transformou-se no mensageiro dos imortais do Olimpo, em deus psicopompo e em deus das ciências ocultas.
Quanto às divindades femininas aquéias, todas elas são herdeiras de deusas cretenses. Hera, a Senhora, uma pótnia therôn, a "senhora das feras", uma deusa da fertilidade; na civilização micênica converter-se-á na protetora de uma instituição aquéia fundamental, o casamento.
Atená, genuinamente cretense, está, em princípio, associada à árvore e à serpente, como deusa da vegetação. Na civilização aquéia 6 uma virgem guerreira, como aparece, em Micenas, numa medalha de estuque pintado, em que a deusa está com um enorme escudo, que lhe cobre todo o corpo, e rodeada de deuses que lhe prestam homenagem. Atená aquéia é, por excelência, a protetora das acrópoles em que se erguem os palácios micênicos, como mais tarde será a senhora da Akrópolis de Atenas. Seu nome duplo, Palas Atená, Atená defensora, mostra bem o resultado do sincretismo.
A dupla formada por Deméter e Core é uma junção muito freqüente em Creta, de uma deusa mãe e de uma jovem (Core significa jovem) filha. O rapto de Core por Plutão, rei do Hades, e a busca da filha pela mãe relembram as cenas de rapto muito freqüentes no culto cretense da vegetação. A junção, todavia, de Core, a semente de trigo lançada no seio da Mãe-Terra, Deméter, com a lúgubre Perséfone, rainha do Hades, é deveras estranha, mas ambas, mercê do sincretismo, constituem a mesma pessoa divina.
Seria inútil multiplicar os exemplos. Os deuses aqueus, por força da herança egéia, tornaram-se semigregos e semicretenses.
Pierre Lévêque mostra de modo preciso o resultado dessa fusão: "Com um mesmo nome grego (Zeus, Deméter), ou com um nome minóico (Hera, Atená) e, inclusive, com nome duplo (Core e Perséfone, Palas e Atená), os deuses aqueus têm uma personalidade complexa, híbrida, em que se fundiram elementos heterogêneos e, às vezes, contraditórios. Não houve uma justaposição de duas séries de deuses em um panteão único, mas sínteses estranhas propiciaram a criação de divindades que não eram nem indo-européias, nem -73- minóicas, mas sim aquéias".[7] Destarte, para um estudo em profundidade dos deuses aqueus, é mister separar o que é indo-europeu do que é cretense e oriental. Seja como for, desde o século XIV a.e.c., a futura religião grega já estava delineada e inteiramente distinta de suas coirmãs védica, latina e germânica, que puderam conservar melhor o patrimônio comum indo-europeu, sobretudo a organização tripartite e trifuncional da hierarquia divina, uma vez que, por motivos de ordem política e cultural, não se deixaram contaminar tanto por elementos estranhos ao mundo indo-europeu.
Se a influência cretense na elaboração do panteão helênico foi grande e séria, mais destacada ainda foi a sua influência no que se refere ao culto dos deuses e dos mortos.
Como acentua o supracitado Pierre Lévêque, os sacerdotes da ilha de Minos são constantemente citados na Linear B e sua missão mais importante era a de consagrar as oferendas, fossem elas as primícias das colheitas ou os sacrifícios sangrentos. Num texto de Pilos faz-se menção de trigo, vinho, um touro, queijos, mel, quatro cabras, azeite, farinha e duas peles de cordeiro que deveriam ser sacrificados aos deuses. As peles fazem certamente parte da vestimenta litúrgica de sacerdotes de categoria inferior, denominados diphtheráporoi, quer dizer, "portadores de uma indumentária de pele", como se pode ver no sarcófago de Háguia Tríada.
Os locais de culto, como em Creta, estão inteiramente ligados à vida familiar. No santuário palatino de Micenas encontrou-se uma pequena escultura em marfim, representando as "duas deusas", Deméter e Core, com o "menino divino", Triptólemo, a seus pés. No de Ásina, na Argólida, descobriram-se várias estatuetas em terracota. Nas casas particulares havia sempre um local destinado ao culto: era a lareira, centro do culto doméstico e que nos grandes palácios, como Micenas e Tirinto, ocupava o centro do Mégaron. O altar, propriamente dito, em geral oco, modelo portanto do bóthros grego (fenda, buraco onde se derramava o sangue das vítimas), era erguido normalmente no pátio do palácio, como se pode observar em Tirinto. Nas escavações realizadas em Micenas descobriu-se grande quantidade de estatuetas, a maioria em terracota. Trata-se, em sua -74- quase totalidade, de ídolos femininos vestidos à maneira cretense; os poucos masculinos encontrados representam um jovem deus despido. Pois bem, essas estatuetas, muito semelhantes às cretenses, representam, na realidade, certas divindades ligadas à Terra-Mãe, mas têm, segundo se acredita, que ser interpretadas como oferenda aos deuses e não como objeto de culto, o que só aparecerá no século seguinte.
Também os hábitos funerários e o culto dos mortos são relativamente bem conhecidos na época micênica, graças a numerosos túmulos descobertos pelos arqueólogos.
As sepulturas cretenses e, posteriormente, as micênicas, embora tenham sofrido algumas modificações e transformações no decurso do segundo milênio, não só quanto ao local em que eram enterrados os mortos, mas sobretudo quanto à forma das mesmas, possuem uma característica que permaneceu inalterável: os corpos eram inumados e não incinerados. Durante o Heládico Médio, ~ 1950-1580 a.e.c, os cemitérios eram construídos dentro do perímetro urbano, junto às habitações e as tumbas tinham a forma de um cesto e normalmente não se depositavam oferendas para os mortos. No Heládico Recente, ~ 1580-1100
a.e.c, surgem as necrópoles separadas das aglomerações humanas e construídas a oeste das mesmas, certamente por influência do Egito, que considerava o ocidente como o mundo dos mortos. As covas funerárias, a princípio, simples fossas, à imitação das sepulturas em forma de cesto, evoluíram para um formato de habitação, um túmulo, que acabou por dar origem aos thóloi (rotundas, pequena construção de forma abobadada). Os corpos eram colocados em ataúdes, junto aos quais se depositava um rico mobiliário: máscaras, armas luxuosas, vasos, jóias. . . Em Micenas encontraram-se oficialmente, nove thóloi, aos quais se deram nomes convencionais, como o Túmulo de Clitemnestra, o Túmulo de Egisto. . ., destacando-se entre todos o Túmulo de Agamêmnon, o chamado Tesouro do Atreu, que representa, sem dúvida, a mais bem construída e a mais bela sala abobadada da antiguidade. Curioso para a época é um túmulo encontrado em Midéia, na Argólida, sem vestígio de sepultamento. Trata-se, ao que tudo indica, de um cenotáfio, "túmulo vazio", construído, para "atrair" a alma de pessoas, cm tese, falecidas fora da pátria e plausivelmente não sepultadas ou que não houvessem recebido as devidas honras fúnebres, uma vez que a psiqué só poderia ter paz e penetrar no Hades quando 0 corpo descesse ritualmente ao seio da Mãe-Terra. O cenotáfio linha, pois, por escopo, desde a mais alta antigüidade, substituir -75- simbolicamente a real sepultura, condição suficiente para descanso da alma, o que demonstrava também a crença dos Aqueus na sobrevivência da mesma. Se é verdade que todos os mortos tinham direito a um culto, existem aqueles que, por circunstâncias especiais, fazem jus a honras peculiares e a um culto singular.
Trata-se dos heróis, assunto que será desenvolvido na última parte deste livro. Para o momento, basta acentuar que o herói, normalmente "senhor" de um palácio, como na época micênica, goza na outra vida de um destino particular. Em se tratando de um culto a antepassados, outorgado pela família reinante, a ele deve associar-se toda a comunidade, porque o herói acaba por tornar-se um intermediário entre os homens e os deuses. Na época micênica, esse culto foi muito difundido e praticado, ultrapassando mesmo a civilização que, na Grécia, viu seu nascimento.
Dentre todos os heróis micênicos vamos destacar, por ora, apenas Agamêmnon, o grande rei de Micenas e que, como o rei de Creta, Minos, parece ter sido um nome dinasta. O que dá relevo ao "rei dos reis" não é apenas o fato de Agamêmnon ter sido o chefe dos exércitos gregos congregados contra Tróia, mas sobretudo a hamartía que pesava sobre o génos dos Atridas.
Antes de entrarmos no mito que transformou o gigantesco palácio de Micenas num "alcáçar de crimes e horrores", uma palavra sobre hamartía e génos. Sem desejar entrar em longas discussões de ordem etimológica, lingüística e literária acerca do vasto campo semântico de hamartía, que, na realidade, tem várias "conotações" no curso do pensamento grego, porque não é aqui o local apropriado, é melhor começar pelo verbo grego hamartánein que já aparece em diversas passagens da Ilíada, V, 287; VIII, 311; XI, 233; XIII, 518 e 605; XXII, 279... onde significa mais comumente errar o alvo. Dos trágicos a Aristóteles, apesar da ampliação do campo semântico do verbo, também este sentido de errar o alvo é encontrado, alargado com o de errar, errar o caminho, perder-se, cometer uma falta... Donde se pode concluir que o vocábulo hamartía, que é um deverbal de hamartánein, nunca poderá ser traduzido até os Septuaginta[8]
por "pecado". Diga-se, aliás, de passagem, que também o latim peccatum, fonte de "pecado", jamais possuiu, até o Cristianismo, tal significado: -76- peccatum em latim é "erro, falta, tropeço[9], abstração feita de culpa moral. Assim hamartía deve-se traduzir por "erro, falta, inadvertência, irreflexão", existindo, claro está, uma "graduação" nessas faltas ou erros, podendo ser os mesmos mais leves ou mais graves, como já observara Marco Túlio Cícero (106-43 a.e..).[10]
Acrescente-se, por último, que, na Grécia antiga, as faltas eram julgadas de fora para dentro: não se julgavam intenções, mas reparações, indenizações à vítima, se fosse o caso. Quanto a génos pode o vocábulo ser traduzido, em termos de religião grega, por "descendência, família, grupo familiar" e definido como personae sanguine coniunctae, quer dizer, pessoas ligadas por laços de sangue. Assim, qualquer falta, qualquer hamartía cometida por um génos contra o outro tem que ser religiosa e obrigatoriamente vingada. Se a hamartía é dentro do próprio génos, o parente mais próximo está igualmente obrigado a vingar o seu sanguine coniunctus. Afinal, no sangue derramado está uma parcela do sangue e, por conseguinte, da alma do génos inteiro. Foi assim que, historicamente falando, até a reforma jurídica de Drácon ou Sólon, famílias inteiras se exterminavam na Grécia. É mister, no entanto, distinguir dois tipos de vingança, quando a hamartía é cometida dentro de um mesmo génos: a ordinária, que se efetua entre os membros, cujo parentesco é apenas em profano, mas ligados entre si por vínculo de obediência ao gennétes, quer dizer, ao chefe gentílico, e a extraordinária, quando a falta cometida implica em parentesco sagrado, erínico, de fé — é a hamartía cometida entre pais, filhos, netos, por linha troncal e, entre irmãos, por linha colateral. Esposos, cunhados, sobrinhos e tios não são parentes em sagrado, mas em profano ou ante os homens. No primeiro caso, a vingança é executada pelo parente mais próximo da vítima e, no segundo, pelas Erínias.
A essa idéia do direito do génos está indissoluvelmente ligada a crença na maldição familiar, a saber: qualquer hamartía cometida por um membro do génos recai sobre o génos inteiro, isto é, sobre iodos os parentes e seus descendentes "em sagrado" ou "em profano".
Esta crença na transmissão da falta, na solidariedade familiar e na hereditariedade do castigo é uma das mais enraizadas no espírito dos homens, pois a encontramos desde o Rig Veda até o Nordeste brasileiro, sob aspectos e nomes diversos. No citado Rig Veda, o mais antigo monumento da literatura hindu, composto entre 2000 e 1500 a.e.c., encontramos esta súplica: "Afasta de nós a falta paterna e apaga também aquela que nós próprios cometemos".
A mesma ideia era plenamente aceita pelos judeus, como demonstram várias passagens do Antigo Testamento, como está em em Êxodo 20,5: "Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniqüidade dos pais nos filhos, nos netos e bisnetos daqueles que me odeiam".
Talvez não fosse inoportuno lembrar que há uma grande diferença entre o homem de lá e o homem de cá: o viver coletivo e o viver individual.
Fechado o parêntese, voltemos à machina fatalis, a máquina obrigatoriamente fatal que, por causa da hamartía de Tântalo e da conseqüente maldição familiar, há de esmagar todo o génos maldito dos Atridas.
Tudo começou com a hamartía de Tântalo, filho de Zeus e Plutó, o qual reinava na Frígia ou Lídia, sobre o monte Sípilo. Extremamente rico e querido
dos deuses, era admitido em seus festins. Por duas vezes Tântalo já havia traído a amizade e a confiança dos imortais: numa delas revelou aos homens os segredos divinos e, em outra oportunidade, roubou néctar e ambrosia dos deuses, para oferecê-los a seus amigos mortais. A terceira hamartía, terrível e medonha, lhe valeu a condenação eterna. Tântalo, desejando saber se os Olímpicos eram mesmo oniscientes, sacrificou o próprio filho Pélops e ofereceu-o como iguaria àqueles. Os deuses reconheceram, todavia, o que lhes era servido, exceto Deméter, que, fora de si pelo rapto da filha Perséfone, comeu uma espádua de Pélops. Os deuses, porém, reconstituíram-no e fizeram-no voltar à vida.
Tântalo foi lançado no Tártaro, condenado para sempre ao suplício da sede e da fome. Mergulhado até o pescoço em água fresca e límpida, quando ele se abaixa para beber, o líquido se lhe escoa por entre os dedos. Árvores repletas de frutos saborosos pendem sobre sua cabeça; ele, faminto, estende as mãos crispadas, para apanhá-los, mas os ramos bruscamente se erguem. Há uma variante de grande valor simbólico: o rei da Frígia estaria condenado a ficar para sempre sobre um imenso rochedo prestes a cair e onde ele teria que permanecer em eterno equilíbrio. O tema mítico de Tântalo, na luta interior contra a vã exaltação, simboliza a elevação e a queda. Seu suplício corre paralelo com sua hamartía: o objeto de seu desejo, a água, os frutos, a liberdade, tudo está diante de seus olhos e infinitamente distante da posse. No fundo, Tântalo é o símbolo do desejo incessante e incontido, sempre insaciável, porque está na natureza do ser humano o viver sempre insatisfeito. Quanto mais se avança em direção ao objeto que se deseja, mais este se esquiva e a busca recomeça. ..
O grande poeta paulista Vicente Augusto de Carvalho (1866-1924) nos oferece a topografia utópica dessa busca: -79-
Só a leve esperança, em toda a vida, Disfarça a pena de viver, mais nada; Nem é mais a existência, resumida, Que uma grande esperança malograda.
O eterno sonho da alma desterrada, Sonho que a traz ansiosa e embevecida, É uma hora feliz, sempre adiada E que não chega nunca em toda a vida Essa felicidade que supomos, Árvore milagrosa que sonhamos Toda arreada de dourados pomos
Existe, sim: mas nós não a alcançamos, Porque está sempre apenas onde a pomos E nunca a pomos onde nós estamos.
Níobe foi a primeira vítima da hamartía paterna. Casada com Anfíon, teve, consoante a maioria dos mitógrafos, catorze filhos: sete meninos e sete meninas. Na tradição homérica são apenas doze[11], mas na hesiódica são vinte. Orgulhosa de sua prole, Níobe dizia-se superior a Leto, que só tivera dois: Apoio e Ártemis. Irritada e humilhada, Leto pediu aos filhos que a vingassem. Com suas flechadas certeiras, Apoio matou os meninos e Ártemis, as meninas. Uma variante mais recente da lenda narra que dos catorze se salvaram dois, um menino e uma menina. Esta, todavia, aterrorizada com o massacre dos irmãos, se tornou tão pálida, que foi chamada Clóris, a verde. Mais tarde, Clóris foi desposada por Neleu.
A infeliz Níobe, desesperada de dor e em prantos, refugiou-se no monte Sípilo, reino de seu pai, onde os deuses a transformaram num rochedo, que, no entanto, continua a derramar lágrimas. Do rochedo de Níobe, por isso mesmo, corre uma fonte.
A metamorfose em rochedo, como a de Eco, Níobe... pode ser interpretada como o símbolo da regressão e da passividade, que podem ser um estado apenas passageiro, precursor de uma transformação. Na realidade, Níobe é uma antiga deusa lunar asiática, mas é a lua negra, a outra face de Leto, a lua cheia. Seus filhos são mortos por Apoio (o sol) e por Ártemis (a lua cheia).
Pélops é apenas mais uma engrenagem da machina fatalis. . . Após sua "recomposição e ressurreição", Pélops foi amado por Posídon, que o levou para o Olimpo e fê-lo seu escanção. Apesar de haver retornado ao nível telúrico, porque Tântalo dele se servia para furtar néctar e ambrosia aos deuses e oferecê-los aos homens, o deus do mar continuou a protegê-lo, dando-lhe de presente cavalos alados e ajudando-o na
terrível disputa contra Enômao pela posse de Hipodamia.
Após a guerra movida por Ilo, o lendário fundador de Ílion ou Tróia, contra Tântalo, a quem acusava de ser responsável pelo rapto de seu filho Ganimedes, Pélops deixou a Ásia Menor, onde nascera, e refugiou-se na Hélade.
Sabedor de que Enômao, rei de Pisa, na Élida, só daria a filha Hipodamia em casamento a quem o vencesse numa corrida de carros, Pélops, herói que era, aceitou, como tantos outros já o haviam feito, o desafio do rei.
Esse Enômao, que reinava na Élida, era filho de Ares e de uma filha do deus-rio Asopo, Harpina. Como não quisesse que sua filha Hipodamia se casasse, ou por estar apaixonado por ela ou por lhe ter dito um oráculo que seria morto pelo genro, punha como condição que o pretendente o ultrapassasse numa corrida de carros. Enquanto sacrificava um carneiro a Zeus, deixava que o competidor tomasse a dianteira. Como os cavalos de Enômao fossem de sangue
divino, facilmente o rei levava de vencida o "pretendente" e o matava, antes que atingisse a meta final, que era o altar de Posídon, em Corinto. O rei de Pisa já havia matado doze pretendentes, quando Pélops se apresentou. Apaixonada por ele, Hipodamia ajudou-o a corromper o cocheiro real, Mírtilo, que concordou em serrar o eixo do carro de Enômao. Aos primeiros arrancos dos animais, a peça partiu-se e o rei foi arremessado ao solo e pereceu despedaçado.
Pélops se casou com Hipodamia e, para silenciar Mírtilo, o vencedor de Enômao lançou-lhe o cadáver no mar. O cocheiro real, antes de morrer, amaldiçoou a Pélops... O nome de Pélops está intimamente ligado à fundação mítica dos Jogos Olímpicos, que, a princípio, segundo parece, limitavam-se a corridas de carros. Pélops os teria instituído, mas, como houvessem caído no esquecimento, Héracles os ressuscitou em honra e em memória do fundador. As competições olímpicas eram ainda não raro consideradas como Jogos Fúnebres em memória de Enômao.
À hamartía de Tântalo somam-se agora as do próprio Pélops e a maldição de Mírtilo. A machina fatalis tem combustível para -81- funcionar por várias gerações! Antes, porém, que suas engrenagens voltem a girar, uma palavra sobre a morte do rei e sua substituição por Pélops no trono de Élida.
Marie Delcourt, em sua obra famosa sobre[12] Édipo[13], comentando e discordando de uma passagem do pai da psicanálise , opina que não se deve insistir sobre "a concupiscência dissimulada" do menino pela mãe e, em relação ao pai, sobre o sentimento ambivalente do mesmo, marcado de um lado pela admiração e afeição e, de outro, pelo ódio e ciúme. Assim, consoante a autora, em lugar de se acentuar o ciúme sexual do menino, melhor seria chamar a atenção para a impaciência com que o filho adulto suporta a tutela de um pai envelhecido. A hostilidade entre ambos seria provocada menos por uma libido reprimida do que pelo desejo do poder. Se isto é verdadeiro, pode-se perfeitamente fazer uma aproximação entre o mito de Édipo, que mata a seu pai Laio, e outros mitologemas, como o de Pélops, em que um pai luta contra o pretendente da filha; como os de Telégono e Ulisses, Teseu e Egeu, em que os filhos matam direta ou indiretamente a seus pais; como o de Perseu e Acrísio, em que a vítima é o avô, no caso em pauta, Acrísio; como o de Anfitrião que assassina a seu sogro Eléctrion e, para não alongar a lista, o de Admeto e Feres, em que o pai Feres, envelhecido, "abre mão" do trono, em favor de seu filho Admeto, tendo havido, no entanto, entre ambos, violentíssima altercação, como atesta a tragédia Alceste.[14]
Seguindo essa linha de raciocínio, o tema essencial não é bem o duelo entre pai e filho, porque este pode ser entre sogro e genro (Enômao e Pélops, Eléctrion e Anfitrião) ou entre avô e neto (Acrísio e Perseu) . . ., mas um conflito de gerações.
O antagonismo, todavia, quer seja entre pai e filho, avô e neto, ou entre pai e pretendente, é sempre um combate pelo poder, cujo desfecho é a vitória do mais jovem. Ao que parece, essa luta, de início, entre pai e filho, fazia parte de um rito, o combate de morte que, nas sociedades primitivas, permitia ao Jovem Rei suceder ao Velho Rei. Todo o contexto familiar, com os problemas morais que o mesmo comporta, foi acrescentado mais tarde, quando a sucessão -82- patrilinear se tornou a norma vigente. Assim, na luta de morte, que se travava pela sucessão, todas as atenuantes possíveis foram introduzidas para mitigar o impacto das "justas" primitivas. Jamais um poeta trágico pôs em cena um parricídio consciente. Se Édipo mata a Laio, Telégono a Ulisses, Perseu a
Acrísio e Pélops a Enômao, a ação é simplesmente o resultado do cumprimento de um oráculo, e mais: os dois primeiros ignoravam tratar-se de seus próprios pais e Perseu não sabia que Acrísio era seu avô. Julgando que a atenuante, oráculo, era insuficiente, os trágicos transformaram a morte de Laio num acidente de caminho. . . Quanto a Teseu, é bom não esquecer que foi por um erro, por um engano fatal que o herói de Atenas se tornou o responsável pela morte de seu pai Egeu!
Desse modo, o parricídio ou é substituído por um simples destronamento, ou é realizado, mas como resultante de um erro, embora se tenha o respaldo de um oráculo. Em ambos os casos, os poetas evitam colocar em cena o mais horrendo dos crimes aos olhos da sociedade grega. A despeito, porém, de seu horror pelo parricídio, tiveram muitas vezes que tratar em público de uma hostilidade de fato entre homens de gerações diferentes, o que patenteia a importância que tinha a sucessão por morte na pré-história grega. Os testemunhos mais curiosos desse rito arcaico se encontram, como se verá, nas teogonias.
Para encerrar, uma pergunta: por que o Velho Rei deve ser substituído?
Na Odisséia, XI, 494sqq., Aquiles, quando da visita de Ulisses ao país dos mortos, mostra-se preocupado com a sorte de seu pai Peleu e pergunta-lhe se Peleu não é desprezado pelos Mirmidões, uma vez que a velhice lhe entorpece os membros. Na realidade, um rei envelhecido não é apenas um soberano demissionário, mas sobretudo um ser maltratado e menosprezado. É que a função do rei, já que o mesmo é de origem divina, é fecundar e manter viva e atuante sua força mágica. Perdido o vigor físico, tornando-se impotente ou não mais funcionando a força mágica, o rei terá que ceder seu posto a um Jovem, que tenha méritos e requisitos necessários para manter acesa a chama da fecundação e a fertilidade dos campos, uma vez que, magicamente, esta está ligada àquela.
Na expressão de Westrup, "o mérito pessoal é uma condição necessária para se subir ao trono dos antigos e a persistência da energia ativa é indispensável para conservar o poder real".[15] Donde -83- se conclui que a sucessão por morte fundamenta-se no princípio da incapacidade, por velhice, de exercer a função real. A razão é de ordem mágica: quem perdeu a força física não pode transmiti-la à natureza por via de irradiação, como deveria e teria que fazer um rei.
Terminada esta longa digressão, necessária para que se possam compreender tantas sucessões violentas dentro do mito, voltemos à violência, à hýbris das hamartíai dos Atridas. De Pélops e Hipodamia, conforme esquema já exposto, nasceram, entre outros, Atreu, Tieste e Crisipo.
Consoante o mito, os Persidas (filhos ou descendentes de Perseu) foram os primeiros a reinar sobre a Argólida em geral e sobre Micenas em particular. Esta, fundada por Perseu, foi governada depois por seu filho Estênelo e seu neto, Euristeu. Em seguida, o poder passou para os Pelópidas, também denominados Atridas. É que a maldição paterna empurrara Atreu e Tieste para Micenas, onde
se refugiaram. Essa maldição se deve ao fato de Atreu e Tieste terem assassinado o irmão Crisipo. Mais uma maldição que se vai somar a tantas
outras...
Aliás, Crisipo, como engrenagem da machina, já havia contribuído para aumentar-lhe a potência fatídica. Quando Laio, ainda muito jovem, se viu obrigado a fugir de Tebas, porque Zeto e Anfião se lhe haviam apoderado violentamente do trono, refugiou-se na corte de Pélops, na Élida.
Esquecendo-se dos laços sagrados da hospitalidade, Laio deixou-se dominar por uma paixão louca por Crisipo e, com o consentimento deste, o raptou, inaugurando, destarte, na Grécia, ao menos miticamente, a pederastia. Pélops amaldiçoou a Laio, e Hera, a protetora dos amores legítimos, anatematizou a ambos. O resultado dessa dupla maldição há de se traduzir também na Maldição dos Labdácidas, com Laio, Jocasta, Édipo, Etéocles, Polinice e Antígona...
Voltemos a Atreu e Tieste. Morto Euristeu, sem deixar descendentes, os micênios, dando crédito a um oráculo, entregaram-lhes o trono. Foi pela disputa do reino de Micenas entre os dois irmãos que surgiu o ódio mais terrível, alimentado por traições, adultério, incesto, canibalismo, violência e morte. Atreu, que havia encontrado um carneiro de velocino de ouro, prometera sacrificá-lo a Ártemis, mas guardou-o para si e escondeu o tosão de ouro num cofre. Aérope, -84- que era mulher de Atreu, mas amante de Tieste, entregara a este secretamente o velocino. No debate entre ambos diante dos micênios, Tieste propôs que
ocuparia o trono o que mostrasse à assembléia um tosão de ouro. Atreu aceitou, de imediato, a proposta, pois desconhecia a traição da esposa e a perfídia do irmão. Tieste seria fatalmente o vencedor, não fora a intervenção de Zeus, que, por meio de Hermes, aconselhou a Atreu fazer uma nova proposta: o rei seria designado por um prodígio. Se o sol seguisse seu curso normal, Tieste seria o rei, se regressasse para leste, Atreu ocuparia o trono. Aceito o desafio, todos passaram a observar o céu. O sol voltou para o nascente e Atreu, por proteção divina, passou a reinar em Micenas, expulsando Tieste de seu reino.
Sabedor um pouco mais tarde da traição de Aérope, fingiu uma reconciliação com o irmão, convidou-o a participar de um banquete e serviu-lhe como repasto as carnes de três filhos que Tieste tivera com uma Náiade: Áglao, Calíleon e Orcômeno. Após o banquete, Atreu mostrou-lhe as cabeças de seus três filhos e, mais uma vez, o baniu. Tieste refugiou-se em Sicione, onde, a conselho de um oráculo, se uniu à própria filha Pelopia e dela teve um filho, Egisto. Pelopia seguiu para Micenas e lá se casou com o próprio tio Atreu.
Egisto foi, pois, criado na corte de Atreu e como ignorasse que Tieste era seu pai, recebeu do padrasto a ordem de matá-lo. Egisto, todavia, descobriu a tempo quem era seu verdadeiro pai. Retornou a Micenas, assassinou Atreu e entregou o trono a Tieste.
Agamêmnon e Menelau, filhos de Atreu e de Aérope! Que se poderia esperar destes condenados e marcados por tantas misérias e crimes? Agamêmnon surge no mito como o rei por excelência, encarregado na Ilíada do comando supremo dos exércitos gregos que sitiavam Tróia. Consoante a designação de seus ancestrais, é chamado Atrida, Pelópida ou Tantálida. Reinava sobre Argos, Micenas e até mesmo sobre toda a Lacedemônia. Era casado com Clitemnestra, irmã de Helena, ambas filhas de Tíndaro e Leda. Para obter Clitemnestra, que era casada, Agamêmnon iniciou logo sua carreira por um crime duplo: matou-lhe o marido, Tântalo, filho de Tieste, e a um filho recém-nascido do casal. Perseguido pelos Dioscuros, Castor e Pólux, irmãos, por parte de mãe, de Clitemnestra e Helena, refugiou-se na corte de Tíndaro.
Desse casamento com Clitemnestra, que se ligara a Agamêmnon contra a vontade, nasceram três filhas: Crisótemis, Laódice e Ifianassa e um filho, Orestes. Tal é o primeiro estágio da lenda. Surge -85- depois Ifigênia ao lado de Ifianassa e Laódice é substituída pelos poetas trágicos por Electra, totalmente desconhecida de Homero. Desta ninhada fatídica os trágicos conheciam principalmente Ifigênia, Electra e Orestes.
Quando uma verdadeira multidão de pretendentes à mão de Helena assediava a princesa, Tíndaro, a conselho do solerte Ulisses, ligou-os por dois juramentos: respeitar a decisão de Helena na escolha do noivo, sem contestar a posse da jovem esposa e se o escolhido fosse, de qualquer forma, atacado, os demais deviam socorrê-lo. Quando o príncipe troiano Páris ou Alexandre raptou Helena, Menelau, a quem ela escolhera por marido, pediu auxílio a seu irmão Agamêmnon, o poderoso rei de Micenas, que também estava ligado a Menelau por juramento. Agamêmnon foi escolhido comandante supremo da armada aquéia, seja por seu valor pessoal, seja porque era uma espécie de rei suserano, dada a importância de Micenas no conjunto do mundo aqueu, quer por efeito de hábil campanha política. Convocados os demais reis ligados por juramento a Menelau, formou-se o núcleo da grande armada destinada a vingar o rapto de Helena e atacar Tróia, para onde Páris levara a princesa.
Os chefes aqueus reuniram-se em Áulis, cidade e porto da Beócia, em frente à ilha de Eubéia. De início, os presságios foram favoráveis. Feito um sacrifício a Apoio, uma serpente surgiu do altar e, laçando-se sobre um ninho numa árvore vizinha, devorou oito filhotes de pássaros e a mãe, ao todo nove, e em seguida, transformou-se em pedra. Calcas, o adivinho da vida militar, como Tirésias o era da religiosa, disse que Zeus queria significar que Tróia seria tomada após dez anos de luta. De acordo com os Cantos Cí-prios, poemas que narram fatos anteriores à Ilíada, os Aqueus, ignorando as vias de acesso para Tróia, abordaram em Mísia, na Ásia Menor e, depois de diversos combates esparsos, foram dispersados por uma tempestade, regressando cada um a seu reino. Oito anos mais tarde, reuniram-se novamente em Áulis. O mar, todavia, permaneceu inacessível aos navegantes por causa de uma grande calmaria. Consultado mais uma vez, Calcas explicou que o fato se devia à cólera de Ártemis, porque Agamêmnon, matando uma corça, afirmara que nem a deusa o faria melhor que ele. A cólera de Ártemis poderia se dever também a Atreu, que, como se viu, não lhe sacrificara o carneiro de velo de ouro ou ainda porque o rei de Micenas prometera sacrificar-lhe o produto mais belo do ano, que, por fatalidade, havia sido sua filha Ifigênia. Agamêmnon, após alguma relutância, terminou por consentir no sacrifício de Ifigênia, -86- ou por ambição pessoal, ou por visar ao bem comum. De qualquer forma, esse sacrifício agravou profundamente as queixas já existentes e o desamor de
Clitemnestra pelo esposo. Sacrificada a jovem Ifigênia, partiu finalmente a frota grega em direção a Tróia, fazendo escala na ilha de Tênedos. Na ilha de Lemnos, Agamêmnon, a conselho de Ulisses, ordenou que se deixasse Filoctetes (sem cujas flechas, herdadas de Héracles, Tróia não poderia ser tomada), de cuja ferida, provocada pela mordida de uma serpente de Tênedos, exalava um odor insuportável.
Nove anos de lutas diante da cidadela de Príamo, de acordo com os presságios, já se haviam passado, quando surgiu grave dissensão entre Agamêmnon e o principal herói aqueu, Aquiles. É que ambos, tendo participado de diversas expedições de pilhagem contra cidades vizinhas, lograram se apossar de duas belíssimas jovens: Briseida, que se tornou escrava de Aquiles, e Criseida, filha do sacerdote de Apoio, Crises, foi feita cativa de Agamêmnon.
Crises, humildemente, dirigiu-se à tenda do rei de Micenas e tentou resgatar a filha. O rei o expulsou com ameaças. Apoio, movido pelas súplicas de seu sacerdote, enviou uma peste terrível contra os exércitos gregos.
É neste ponto que começa a narrativa da Ilíada. Talvez não fosse fora de propósito dizer, e o faremos, de caminho, que a Ilíada não narra a Guerra de Tróia, mas apenas um episódio do nono ano da luta, exatamente a ira de Aquiles e suas conseqüências funestas. Quando o poema termina, com os funerais de Heitor, Tróia continua de pé.
Vendo o exército assolado pela peste, Aquiles convocou uma assembléia. O adivinho Calcas, consultado, respondeu ser necessário devolver Criseida. Após violenta altercação com Aquiles, Agamêmnon resolveu devolver a filha de Crises, mas, em compensação, mandou buscar a cativa de Aquiles, Briseida. Aquiles irritado e como fora de si, porque gravemente ofendido em sua timé, em sua honra pessoal, coisa que um herói grego prezava acima de tudo, retirou-se do combate. Zeus, a pedido de Tétis, mãe do herói, consentiu em que os troianos saíssem vitoriosos, até que se fizesse condigna reparação a Aquiles. Para isso,
Zeus enviou ao rei um sonho enganador para o empenhar na luta, fazendo-o acreditar que poderia tomar Tróia sem o concurso do filho de Tétis. Além do mais, um antigo oráculo havia predito a Agamêmnon que a cidadela de Príamo cairia, quando houvesse uma discórdia no acampamento dos Aqueus. -87- Sem Aquiles, o rei de Micenas interveio pessoalmente no combate e muitos foram seus feitos gloriosos, mas os Aqueus, após duas grandes batalhas, foram sempre repelidos. Diante de uma derrota iminente, Agamêmnon, a conselho do prudente e sábio Nestor, dispôs-se a devolver Briseida e comprometeu-se ainda a enviar presentes a Aquiles. Ájax e Ulisses foram procurá-lo, mas o herói não aceitou a reconciliação. Face à audácia dos Troianos, comandados por Heitor, que ousaram até mesmo chegar junto aos navios gregos e incendiá-los, Aquiles permitiu que seu fraternal amigo Pátroclo se revestisse de suas armas, mas somente para repelir os Troianos. Pátroclo foi além dos limites, além do métron: quis escalar as muralhas de Tróia e foi morto por Heitor. Somente a dor imensa pela morte do amigo e o desejo alucinado de vingança fizeram o herói, após receber todos os desagravos por parte do comandante dos Aqueus, voltar à cruenta refrega e não descansou enquanto não matou Heitor. Assim, a partir do canto XVIII da Ilíada, a figura de Agamêmnon se ofuscou diante dos lampejos do escudo e dos coriscos da espada de Aquiles.
As epopéias posteriores ao século IX a.e.c. enumeram outras gestas do rei de Micenas, após a morte de Heitor e Aquiles, e suas intervenções na grave querela entre Ájax e Ulisses pela posse das armas do maior dos heróis aqueus.
Na Odisséia se narra que, após a queda de Tróia, Agamêmnon tomou como uma de suas cativas e amantes a filha de Príamo, a profetisa Cassandra, que lhe deu dois gêmeos, Teledamo e Pélops. O retorno de Tróada do chefe supremo dos Aqueus ensejou também outras narrativas épicas. Os Nóstoi, ou poemas dos Retornos, contam que, no momento da partida, o eídolon, a "imagem" de Aquiles apareceu ao esposo de Clitemnestra e procurou retê-lo em Tróada, anunciando-lhe todas as desgraças futuras e exigindo-lhe, ao mesmo tempo, o sacrifício de Políxena, uma das filhas de Príamo, rei de Tróia, cuja esposa Hécuba fazia também parte, juntamente com Políxena, do quinhão de Agamêmnon, como está na tragédia Hécuba de Eurípides.
Quando este chegou aos arredores de Micenas, Egisto, que se tornara amante de Clitemnestra, fingindo uma reconciliação, ofereceu ao primo um grande banquete e, com o auxílio de vinte homens, dissimulados na sala do festim, matou a Agamêmnon e a todos os acompanhantes do rei. Outras versões atestam que Clitemnestra participou do massacre e pessoalmente eliminou a sua rival Cassandra. -88- Píndaro acrescenta que no ódio contra a raça do esposo, a amante de Egisto quis também matar seu filho Orestes. Nos Trágicos, as circunstâncias variam: ora Agamêmnon, como está em Homero, foi morto durante o banquete, ora o foi durante o banho, no momento em que, embaraçado na indumentária que lhe dera a esposa, e cujas mangas ela havia cosido, o rei não pôde se defender.
Consoante Higino (século I a.e.c.), e suas informações devem basear-se em fontes antigas, o instigador do crime foi Éax, irmão de Palamedes, cuja lapidação havia sido ordenada por Agamêmnon. Éax teria contado a Clitemnestra que o esposo pretendia substituí-la por Cassandra. Esta, com afiada machadinha, assassinou não só o marido, quando o mesmo fazia um sacrifício, mas igualmente a Cassandra.
Egisto, outro amaldiçoado, é, como já se assinalou, filho de Tieste e da própria filha deste, Pelopia. Tieste, banido pelo irmão Atreu, vivia longe de Micenas, em Sicione, e buscava com todas as suas forças um meio de vingar-se de seu irmão, que lhe havia massacrado os filhos. Um oráculo lhe anunciou que o vingador almejado só poderia ser um filho que ele tivesse de sua própria filha. Certa noite, em que Pelopia celebrava um sacrifício, Tieste a estuprou,'mas a jovem conseguiu arrancar-lhe a espada e a guardou. Sem o saber, Atreu se casou com a sobrinha e mandou procurar por Sicione inteira a criança, que, ao nascer, Pelopia havia exposto.[16] O menino foi encontrado entre pastores que o haviam recolhido e alimentado com leite de cabra, daí o nome de Egisto, em grego Aígistos, uma vez que aíks, aigós é cabra. Aproveitemos o momento para um corte: normalmente a criança exposta é salva e direta ou indiretamente alimentada por um pássaro ou animal. Semíramis, a rainha da Babilônia, o foi por pombas; Gilgamesh, por uma águia; Ciro, por uma cadela; Télefo, por uma corça; Páris, por uma ursa; Rômulo e Remo, por uma loba. .. Provas iniciáticas desse tipo parecem ter por origem longínqua as denominadas crenças zoolátricas: prova-se que "o exposto" pertence ao clã, se o animal do clã pode se aproximar dele, sem fazer-lhe mal. Trata-se, em todo caso, de um duplo ordálio (juízo de um deus): a criança sobrevive em condições em que normalmente deveria perecer; é reconhecida por um animal do clã e por meio dele ou diretamente pelo mesmo é alimentada. Ao sair dessa prova dupla, o exposto está destinado a -89- "grandes feitos". Observe-se, portanto, nesses ordálios menos um rito familiar que um rito político, capaz de habilitar "o desconhecido" a ser recebido num grupo social que normalmente o repeliria. As práticas acobertadas pelo mito da criança exposta deviam se aplicar a pessoas que, de um modo ou de outro, eram intrusas, ou ainda a homens que tinham que lutar para conquistar uma posição a que primitivamente ou "aparentemente" não tinham direito algum.
Voltemos a Egisto. Criado como filho por Atreu, este um pouco mais tarde mandou-o procurar Tieste, prendê-lo e trazê-lo à sua presença.
Egisto cumpriu a missão e Atreu lhe ordenou que matasse Tieste. Quando este viu a espada com que deveria ser assassinado, a reconheceu de imediato. Perguntou a Egisto onde ele a obtivera. Respondeu-lhe o jovem que tinha sido uma dádiva de sua mãe Pelopia. Tieste mandou chamar a filha e lhe revelou o segredo do nascimento de Egisto. Tomando a espada, Pelopia se traspassou com ela. Vendo a lâmina toda ensangüentada, Atreu se rejubilou com "a morte do irmão". Egisto, então, de um só golpe, o prostrou. Em seguida, Tieste e Egisto reinaram em Micenas. Tendo seduzido Clitemnestra, com ela passou a viver. Após a morte de Agamêmnon, Egisto ainda reinou em Micenas por sete anos, até que chegou o vingador. . .
Orestes, com todo o fardo das hamartíai de dois géne, paterno e materno, já é conhecido desde as epopéias homéricas como "o vingador de Agamêmnon", embora não se fale do assassinato de Clitemnestra, praticado pelo filho. É só a partir de Esquilo e sua Oréstia que Orestes se tornou uma figura de primeiro plano. O primeiro episódio de sua vida situa-se na lenda troiana, quando, na primeira expedição grega, a armada foi dar em Mísia, no reino de Télefo. Tendo sido este ferido por Aquiles, não podia ser curado, segundo o oráculo, senão pela lança do filho de Tétis. Algum tempo depois, quando da segunda tentativa aquéia de navegar para a Tróada, Télefo foi ter a Áulis, em busca de cura, pois ali estava acampado o exército grego. Preso como espião, Télefo agarrou o pequeno Orestes e ameaçou matá-lo, se o maltratassem. Conseguiu, assim, ser ouvido e obteve a cura.
Quando do regresso de Agamêmnon a Micenas e de seu assassinato por Egisto e Clitemnestra, Orestes escapou do massacre graças à sua irmã Electra, que o enviou clandestinamente para a Fócida, -90- onde foi criado como filho na corte de Estrófio, casado com Anaxíbia, irmã de Agamêmnon e pai de Pílades. Explica-se, desse modo, a lendária amizade que uniu para sempre os primos Orestes e Pílades. O mérito, todavia, da salvação de Orestes das mãos sangrentas de Clitemnestra tem outras versões no mito: o menino teria escapado, graças à presteza de sua ama, de seu preceptor ou sobretudo de um velho servidor da família. Atingida a idade adulta, Orestes recebeu de Apoio, deus essencialmente patriarcal, a ordem de vingar o pai, matando Egisto e sua amante. Acompanhado de Pílades, Orestes chega a Argos e dirige-se ao túmulo de Agamêmnon, onde consagra uma madeixa. Electra, que vem fazer libações sobre o túmulo do pai, reconhece o sinal deixado pelo irmão e combina com o mesmo a morte de Egisto e Clitemnestra. Claro está que variam bastante de um poeta trágico para outro os sinais de reconhecimento entre
os irmãos e os estratagemas que se planejaram para o morticínio dos então reis de Micenas. Mas tragédia é obra de arte!
Iniciando seu plano de vingança, Orestes se apresenta como um viajante vindo da Fócida e encarregado por Estrófio de anunciar a morte de Orestes e de saber se as cinzas do morto deveriam permanecer em Cirra, sede do reino de Estrófio, ou ser transportadas para Argos. Clitemnestra, livre do medo de ver seus crimes punidos, deu um grito de júbilo e mandou, de imediato, avisar Egisto, que estava no campo. O rei regressou pressuroso e foi o primeiro a tombar sob os golpes de Orestes. Clitemnestra, com suas súplicas, conseguiu abalar o filho, mas Pílades lembrou-lhe a ordem de Apoio e o caráter sagrado da vingança. Assassinando a própria mãe, Orestes é, imediatamente, envolvido pelas Erínias, as vingadoras do sangue parental derramado, segundo se mostrou páginas atrás, tema aliás amplamente desenvolvido na análise que fizemos da tragédia grega.[17]
Orestes buscou asilo no omphalós ("umbigo", pedra que marcava o centro do mundo), do Oráculo de Delfos, onde foi purificado por Apoio. Essa purificação, no entanto, não o libertou das Erínias, tornando-se necessário um julgamento regular, que se realizou numa pequena colina de Atenas, mais tarde denominada Areópago, tribunal onde se julgavam os crimes de sangue. Como o julgamento terminasse empatado, Atená, que presidia o tribunal, deu seu voto, "Voto de Minerva", em favor do matricida. -91- Libertado "exteriormente" da perseguição das Erínias, Orestes pediu a Apoio uma indicação do que deveria fazer a seguir. A Pítia respondeu-lhe que, para se livrar em definitivo da mania, da loucura, da "opressão interna" provocada pelo matricídio, deveria dirigir-se a Táurida, na Ásia Menor, descobrir e apossar-se da estátua de Ártemis. Acompanhado de Pílades, Orestes chegou a seu destino, mas foram ambos aprisionados pelo rei Toas, que costumava sacrificar os estrangeiros à sua deusa. Foram levados a Ifigênia, de quem se falará mais abaixo, a qual era a sacerdotisa do templo e encarregada de sacrificar os adventícios. Interrogados por Ifigênia a respeito de onde vinham e a que país pertenciam, a filha de Agamêmnon descobriu logo de quem se tratava, pois Orestes era seu irmão. Contou-lhe este por que motivo procurara a Táurida e qual a ordem que recebera de Apoio. Disposta a facilitar o roubo da estátua de Ártemis, de que era guardiã, Ifigênia planejou fugir com Orestes. Para tanto persuadiu o rei Toas de que não se poderia sacrificar o estrangeiro, que fugira da pátria por ter assassinado a própria mãe, sem primeiro purificá-lo, bem como a estátua da deusa, nas águas do mar. O rei deu crédito à sacerdotisa, que se dirigiu para a praia com Orestes, Pílades e a estátua de Ártemis. Sob o pretexto de que os ritos eram secretos, distanciou-se dos guardas e fugiu com os dois e a estátua no barco do irmão.
Desde menino, Orestes era noivo de Hermíona, filha de Menelau e Helena, mas, em Tróia, Menelau prometera a filha a Neptólemo, filho de Aquiles. No regresso de Táurida, Orestes foi para junto de Hermíona, enquanto Neptólemo se encontrava em Delfos. Raptou a filha de Menelau e depois matou-lhe o marido. Com ela teve um filho chamado Tisâmeno. Reinou em Argos e depois também em Esparta, como sucessor de Menelau. Pouco tempo antes de sua morte, uma grande peste devastou-lhe o reino.
Ifigênia, a filha mais velha de Agamêmnon e Clitemnestra, como se viu, foi reclamada por Ártemis como vítima para que cessasse a calmaria e a frota aquéia pudesse chegar a Tróada. No momento exato em que ia ser sacrificada, Ártemis a substituiu por uma corça e, arrebatada, Ifigênia foi transportada para Táurida, onde se tornou sacerdotisa de Ártemis.
O sacrifício do primogênito é um tema comum no mito. Em todas as tradições encontra-se o símbolo do filho ou da filha imolados, cujo exemplo mais conhecido é o "sacrifício" de Isaac por Abraão. O sentido do sacrifício, todavia, pode ser desvirtuado: é -92- o caso de Agamêmnon, sacrificando Ifigênia, em que a obediência ao oráculo, por intermédio de Calcas, dissimula, certamente, outras intenções, como a vaidade pessoal e o desejo de vingança, camuflados sob o disfarce de "bem comum".
O sacrifício de Abraão é inteiramente diferente. Embora, de certa forma, Isaac fosse mais um filho de Deus que de Abraão, pois que Sara o concebera já em idade avançada, por bondade de Deus, quando, normalmente, não tinha mais possibilidade de fazê-lo, a exigência de Javé se coloca em outra dimensão. Isaac foi concebido em função da fé: ele se tornou o filho da promessa e da fé. Se bem que o sacrifício de Abraão se assemelhe a todos os sacrifícios de recém-nascidos do mundo antigo, a diferença entre ambos é total. Se nas culturas primitivas um tal sacrifício, não obstante seu caráter religioso, era exclusivamente um hábito, um rito, cuja significação se tornava perfeitamente inteligível, no caso de Abraão é um ato de fé. O Patriarca não compreende por que um tal sacrifício lhe é imposto, mas ele se dispõe a fazê-lo, porque o Senhor o exigiu. Por este ato, aparentemente absurdo, Abraão inaugura uma nova experiência religiosa: a substituição de gestos arquetípicos por uma religião implantada na fé.
Talvez valesse a pena repetir, a esse respeito, a fórmula comovente de São Paulo: contra spem in spem credidit, contra toda a esperança, ele acreditou na esperança...
Voltando ao assunto. No mundo paleo-oriental, o primeiro filho era, não raro, considerado como filho de deus. É que no Oriente antigo as jovens tinham por norma passar uma noite no templo e "conceber" do deus, representado, evidentemente, pelo sacerdote ou por um seu enviado, o estrangeiro. Pelo sacrifício desse primeiro filho, do primogênito, restituía-se à divindade aquilo que, de fato, lhe pertencia. O sangue jovem restabelecia a energia esgotada do deus, porque as divindades da vegetação e da fertilidade exauriam-se em seu esforço espermático para assegurar a opulência do kósmos e manter-lhe o equilíbrio. Tinham elas, pois, necessidade de se regenerarem periodicamente. Movendo-se numa economia do sagrado, que será ultrapassada por Abraão e seus sucessores, os sacrifícios no unindo antigo, para utilizar da expressão de Kierkegaard, pertenciam ao geral, quer dizer, eram fundamentados em teofanias arcaicas, cuja tônica era, tão-somente, a circulação da energia sagrada no kósmos: da divindade para a natureza; da natureza para o homem e do homem, através do sacrifício, novamente para a divindade, num ciclo ininterrupto. -93- Na época histórica esses sacrifícios reais foram substituídos por uma "provação" como o de Isaac ou por um ato de submissão, como o de Ifigênia, mas cuja execução não mais se consumava: Isaac foi substituído por um carneiro e Ifigênia, por uma corça.
Trata-se, ao que tudo faz crer, de uma repressão patriarcal: obtida a submissão, o ato se dá por cumprido e o opressor por satisfeito.
Electra, a destemida irmã de Orestes, não é mencionada nas epopéias homéricas. Nos poetas posteriores, sobretudo a partir de Ésquilo, Electra substituiu de tal maneira a Laódice, que esta "filha canônica" de Agamêmnon acabou por desaparecer do mito. Após o assassinato do pai por Egisto e Clitemnestra, Electra, não fora a intervenção da mãe, teria sido também eliminada pelo padrasto. Na realidade, por seu apego incondicional ao pai Agamêmnon (o Complexo de Electra está aí para perpetuá-lo), "a jovem indomável" odiava Egisto e não perdoava a Clitemnestra a co-autoria no massacre de seu amado pai. Segundo algumas versões, salvou de morte certa ao pequeno Orestes, confiando-o, em segredo, como já se viu, a um velho preceptor, que o levou para longe de Micenas. Por tudo isto, era tratada no palácio como escrava. Temendo que a enteada tivesse um filho, que, um dia, pudesse vingar a morte de Agamêmnon, Egisto fê-la casar com um pobre camponês, residente longe da cidade. O marido, todavia, respeitou-lhe a virgindade. Por ocasião do retorno de Orestes, a jovem princesa trabalhou incansavelmente na preparação da grande vingança e tomou parte ativa no duplo assassinato. Quando, após a morte de Egisto e Clitemnestra, Orestes foi envolvido e "enlouquecido" pelas Erínias, ela colocou-se a seu lado e cuidou do irmão até o julgamento final no Areópago de Atenas. Na tragédia de Sófocles, intitulada Aletes (que era filho de Egisto), hoje infelizmente perdida, Electra figurava como personagem principal. Como Orestes e Pílades houvessem partido para Táurida em busca da estátua de Ártemis, anunciou-se em Micenas que ambos haviam perecido às mãos de Ifigênia. De imediato Aletes apossou-se do trono de Micenas. Como louca, Electra partiu para Delfos e lá, encontrando Ifigênia, que retornara com Orestes e Pílades, arrancou do altar de Apoio um tição ardente e quase cegou a irmã, não fora a pronta intervenção de Orestes. Voltando a Micenas com Orestes, cooperou mais uma vez com o irmão no assassinato de Aletes. -94- Após as núpcias de Orestes com Hermíona, Electra casou com Pílades. E a maldição dos Atridas continuou...
O ciclo da maldição dos Atridas serviu de banquete trágico a nove grandes tragédias que chegaram até nós: de Ésquilo (525-~456 a.e.c.): Oréstia (Agamêmnon, Coéforas, Eumênides); de Sófocles (496 - ~ 405 a.e.c.): Electra; de Eurípides (~ 480-406): Electra, Helena, Ifigênia em Áulis, Ifigênia em Táurida, Orestes. -95-

Ao apagar das luzes do Bronze Antigo ou Heládico Antigo, por volta de ~ 2600-1950, os primeiros gregos, os Jônios, atingiram a Hélade, através dos Bálcãs, e ocuparam violentamente a Grécia inteira, levando de vencida os Anatólios, que foram, ao que tudo indica, escravizados. Guerreiros e com sólida organização social do tipo militar, obedeciam em tudo a seus chefes. Instalavam-se em palácios em acrópole, fortificados com grandes muralhas, portas de entrada estreita, reforçada com torres, como se pôde observar nas escavações efetuadas em Egina, Tirinto e Micenas pré-aquéias. Não se trata ainda de palácios com o conforto e a beleza de Knossos, em Creta, nem tampouco das futuras e gigantescas fortalezas aquéias da Grécia continental, mas, mesmo assim, os palácios jônicos atestam o caráter belicoso desses indo-europeus.
Mercê da forte organização social desses primeiros gregos, o povo, ao que parece, "tinha uma vida igualitária", com a terra dividida em glebas iguais entre os vários chefes das famílias de que se compunha cada uma das quatro tribos em que já se dividiam os Jônios. -49-
Muitos arqueólogos e historiadores opinam que os primeiros indo-europeus gregos, antes de penetrarem na Hélade, teriam passado primeiro pela "civilizada Ásia Menor, o que explicaria sua refinada técnica em cerâmica, a chamada cerâmica mínia, já anteriormente bem conhecida naquela região, inclusive na denominada Tróia VI dos arqueólogos.
Se, em relação ao Bronze Antigo ou Heládico Antigo, ~ 2600-1950, as contribuições jônicas, no que tange à agricultura, foram somenos, o mesmo não se pode afirmar, como já se enfatizou, com referência à cerâmica, com os estilizados vasos mínios, de cor cinza e, em seguida, amarelos, encontrados no Peloponeso e na Beócia.
A metalurgia não conheceu grandes progressos e seguiu o caminho do bronze, já traçado na fase anterior. Em compensação surge o cavalo, há longo tempo conhecido dos indo-europeus, o que representa um marco importante para a época.
Da barbárie jônica, que sufocara os Anatólios da Grécia, passamos à Ilha de Creta, onde, por sinal, luzia intensamente essa mesma civilização anatólia, que até o momento mantivera contatos mais ou menos pacíficos com os povos da Grécia continental.
Em matéria de religião, o primeiro ponto a ser observado é o deslocamento do processo de inumação, das necrópoles exteriores para dentro dos núcleos urbanos, mas as escassas oferendas encontradas nos túmulos mostram um enfraquecimento na crença em relação à imortalidade da alma ou ao menos no que se refere ao intercâmbio entre vivos e mortos. Santuários construídos em acrópole, como o de Egina, evidenciam a implantação da religião patriarcal indo-européia na Grécia, o que explica o desaparecimento quase total das estatuetas e do culto da Grande Mãe nessa época, pelo menos nos núcleos "urbanos".
Em síntese, a Hélade dos Jônios propriamente submergiu na barbárie e fechou-se ao comércio com o Mediterrâneo. É bem verdade que no Heládico Antigo já se encontram barcos jônicos na Ilha de Meios, nas Cíclades e em contato com os Cretenses, mas esse intercâmbio é esporádico e nem sempre amistoso. Representa, no entanto, algo importante: o grande batismo dos pastores nômades nas águas de Posídon, embora ainda faltasse muito para que o mar se tornasse o eterno namorado da Hélade. -50-
Antes de se abordar, se bem que sumariamente, a história e o destino da Ilha de Minos, impõe-se uma pergunta: qual é a origem dos Cretenses? Há os que simplesmente escamoteiam o problema, ignorando-lhes o passado e iniciando a história da Ilha pelo Minóico Antigo, isto é, a partir de ~2800, quando, possivelmente, lá chegaram os Anatólios. Outros, todavia, remontam além do Minóico Antigo e, partindo da lingüística, procuram demonstrar que a língua cretense, tradicionalmente denominada pelásgico, não representa o substrato mediterrâneo anterior à chegada dos Indo-Europeus. Isolando do vocabulário grego os raros vestígios do pelásgico, seria possível reconstruir um "substrato cretense", enriquecido com inúmeros topônimos e, através desse substrato, provar que o pelásgico teria certo parentesco com a língua indo-européia, principalmente com os dialetos luvita e hitita. Nesse caso, os Cretenses seriam proto-indo-europeus, aparentados portanto com os Gregos, mas que, anteriormente a estes, se teriam separado do tronco comum indo-europeu.
Hipótese sedutora, mas hipótese apenas. Os Anatólios teriam vindo bem depois.
Outra observação é que muito do pouco que se conhece de Creta, "este livro de imagens sem texto", deve-se ao labor, às fadigas e à competência do verdadeiro descobridor de Knossos, o sábio Sir Arthur Evans (1851-1941). Se o dinâmico investigador de Tróia e Micenas, Heinrich Schliemann, por causa da instabilidade política de Creta, ainda submetida à dominação turca, não pôde prosseguir suas escavações, iniciadas em 1886, Evans foi mais feliz: desde 1894 já o encontramos na Ilha de Minos, onde permaneceu quase até o fim da vida. A publicação de sua obra monumental sobre Knossos ainda é o ponto de partida para estudos sobre Creta e o Palácio do rei Minos.[1]
A história de Creta, a partir de aproximadamente 2800, costuma ser dividida em três grandes fases:
| Período |
Época |
| Minóico antigo |
˜2800-2100 |
| Minóico médio |
˜2100-1580 |
| Minóico recente |
˜1580-11-- |
Por volta de 2800, povos anatólios ocuparam-na. Terra fértil e rica, aberta para o Mediterrâneo e suas ilhas, para o continente grego, para o Egito e para o Oriente, sem ter sofrido as invasões que ensangüentaram a Hélade, teve um desenvolvimento político, econômico, - 51- social e religioso muito mais rápido do que o verificado no continente helênico. Uma longa paz permitiu que ali florescesse uma civilização próspera e opulenta, chamada indiferentemente minóica, egéia, mediterrânea ou cretense, centrada nos palácios de Knossos, Festo e Mália. Lá, por volta de 1700, estes três soberbos monumentos foram destruídos ou por um terremoto ou, como opina a maioria, pelos gregos Jônios, que lá teriam aportado em uma vasta expedição de pilhagem.
Com a reconstrução dos palácios, entre 1700-1400, começa o grande esplendor da civilização cretense sob a liderança política, econômica e cultural de Knossos, que se tornara, sob o rei Minos (talvez um nome dinasta, como Faraó, Ptolomeu, César), o centro de uma singular potência monárquica. Já conhecedores de um determinado tipo de hieróglifos, acabaram por transformá-los em uma escrita silábica mais estilizada a que Arthur Evans denominou Linear A, ainda infelizmente não decifrada, e de que derivará mais tarde, por iniciativa dos gregos Aqueus, como se verá, a Linear B.
Império marítimo, suas naus dominaram o Egeu e as ilhas vizinhas. Uma sólida agricultura, uma pecuária muito rica e sobretudo uma indústria muito avançada para a época fizeram de Creta a mais adiantada civilização do Ocidente, entre 1580-1450.
O comércio minóico, ativo e corajoso, transpôs as fronteiras das ilhas do Egeu, muitas das quais já estavam sob o domínio de Knossos, levando os produtos de Creta e sua arte até a Ásia Menor, Síria, Egito e Grécia. A extraordinária prosperidade da Ilha de Minos pode também ser observada em sua arte apurada, com magníficos afrescos, relevos, estatuetas, pedras preciosas, sinetes de ouro, cerâmica decorada com motivos vegetais e animais; os palácios gigantescos, com belas colunas, afunilando para a base e com engenhosas soluções para a iluminação interior, os cognominados "poços de luz" e já com um rudimentar mas eficiente sistema de esgotos.
De uma civilização tão requintada, com um sentido de beleza tão agudo, era de se esperar um aprimorado sistema religioso. Na realidade, esse "requinte" no trato com o divino deve ter existido, mas a carência de documentos "decifrados" (como é o caso dos hieróglifos mais antigos e da Linear A) e de uma teogonia faz que -52- o estudo da religião cretense somente possa ser feito indiretamente, através dos descobrimentos arqueológicos, da pintura, da escultura (embora esta seja bem mais pobre), da cerâmica e sobretudo da influência exercida sobre a religião grega posterior. É uma religião que se estuda com os olhos, dada a impossibilidade de se "ler nas almas".
"Um belo livro de imagens sem texto", para repetir a feliz expressão de Charles Picard.
A decifração da Linear B, em 1952, pelo jovem arquiteto inglês Michael Ventris, prematura e tragicamente desaparecido, assessorado pelo filólogo John Chadwick, não trouxe quase nada de novo acerca da religião da Ilha de Creta.[2] Assim, só se pode ter da mesma uma visão arqueológica e indireta e esta através da religião grega, como já se assinalou.
Para se estabelecer uma certa ordem na desordem com que o assunto costuma ser enfocado pelos especialistas e na multiplicidade de hipóteses que cada um deles (Arthur Evans, Charles Picard, G. Glotz, P. Faure, M.P. Nilsson, R. Pettazzoni, Mircea Eliade, Jean Tulard, Pierre Lévêque, J. Chadwick...) se acha no direito de emitir, o que se deve ao modus como a religião cretense chegou até nós, vamos dividir o assunto em:
- locais do culto e as cerimônias;
- o culto dos mortos;
- as sacerdotisas e seus acólitos;
- a Grande Mãe e suas hipóstases;
- o grande mito cretense.
As escavações arqueológicas permitem detectar os locais de culto na Ilha de Creta através de grande quantidade de oferendas neles depositadas, como armas, esculturas, jóias e do mobiliário religioso: mesas para libações, tripés, vasos sagrados. Inicialmente, são as grutas e cavernas que servem de "santuário" e de cemitério. Diga-se, de caminho, que vários mitos associados a esses primitivos locais de culto integram-se mais tarde à religião grega, como a gruta de Amniso, porto bem próximo de Knossos, onde estava, consoante Homero, Odiss., XIX, 188, a caverna de Ilítia, deusa pré-helênica dos partos e, mais tarde, hipóstase de Hera.
No monte Dicta havia uma gruta célebre, onde, para fugir a Crono, que devorava os filhos ao nascerem, Réia deu à luz o grande Zeus. A partir do Minóico Médio, ~ 2100-1580, já se encontram modestas instalações para o culto, localizadas nos cumes das montanhas: trata-se de pequenos recintos em torno de uma árvore, rochedo ou fonte, como atestam vestígios encontrados nos montes Palecastro e Iucta, bem como em Gúrnia e Mália. Ainda nesse período surgem as "capelas" no interior das habitações. No palácio de Festo havia um recinto com três peças: uma mesa para oferendas, uma fossa para sacrifícios e um banco sobre o qual se colocavam os objetos de culto. Um pouco mais tarde, ~ 1700-1580, esses recintos sagrados tiveram um grande impulso, como se pode ver pelo palácio de Knossos: salas abertas na direção leste, dispositivo tripartite, como em Festo, colunas sagradas, ornamentadas com a lábrys e com os cornos de consagração. Em todas as residências reais há um dispositivo análogo com santuário e câmara de purificação. De qualquer forma, a Ilha de Creta não conheceu templos.
Antes de abordarmos as cerimônias do culto, uma palavra sobre determinados objetos sagrados acima mencionados.
As grutas e cavernas desempenhavam um papel religioso muito importante, não apenas na religião cretense, mas em todas as culturas primitivas. A descida a uma caverna, gruta ou labirinto simboliza a morte ritual, do tipo iniciático. Nesse e em outros ritos da mesma espécie, passava-se por "uma série de experiências" que levavam o indivíduo aos começos do mundo e às origens do ser, donde "o saber iniciático é o saber das origens". Esta catábase é a materialização do regressus ad uterum, isto é, do retorno ao útero materno, de onde se emerge de tal maneira transformado, que se troca até mesmo de nome. O iniciado torna-se outro.
Na tradição iniciática grega, a gruta é o mundo, este mundo, como o concebia Platão (República VII, 514, ab): uma caverna subterrânea, onde o ser humano está agrilhoado pelas pernas e pelo pescoço, sem possibilidade, até mesmo, de olhar para trás. A luz -54- indireta que lá penetra provém do sol invisível, que, no entanto, indica o caminho que a psiqué deve seguir, para reencontrar o bem e a verdade. Todos os espectros, que lá se movem, representam esse mundo, essa caverna de aparências de que a alma deverá se libertar, para poder recontemplar o mundo das ideias, seu mundo de origem.
O neoplatônico Plotino (Enéadas, IV, 8, 1) compreendeu perfeitamente o sentido simbólico da caverna platônica, quando afirmou que a caverna para Platão bem como o antro para Empédocles traduziam o nosso mundo, onde a caminhada para a inteligência, isto é, para a verdade, só há de ser possível quando a alma quebrar os grilhões e libertar-se da gruta profunda.
À ideia de caverna está associada o labirinto. Embora as escavações arqueológicas em Knossos não revelem nenhum labirinto, este figura nas moedas cretenses e é mencionado em relação a outros locais da Ilha.
Ao que parece, "os labirintos" em Creta foram reais: trata-se, provavelmente, de cavernas profundas artificialmente abertas pelo próprio homem, junto ou entre pedreiras para fins iniciáticos.[3]
O famoso labirinto de Knossos (labyrinthos, "construção cheia de sinuosidades e meandros") designaria o próprio palácio. Nesse caso, fazendo-se uma aproximação etimológica, mesmo de cunho popular, entre labýrinthos, labirinto, e lábrys, machadinha de dois gumes, o primeiro seria "o palácio da bipene", cujo simbolismo religioso será explicado depois.
Em uma visão simbólica, o labirinto, como as grutas e cavernas, locais de iniciação, tem sido comparado a um mandala, que tem realmente, por vezes, um aspecto labiríntico. Trata-se, pois, como querem Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, "de uma figuração de provas iniciáticas discriminatórias, que antecedem à marcha para o centro oculto".[4]
Assim, em termos religiosos cretenses, o Labirinto seria o útero; Teseu, o feto; o fio de Ariadne, o cordão umbilical, que permite a saída para a luz. Acerca da construção de Knossos e dos mitos que o envolvem há de se falar mais adiante. -55-
Eram múltiplas as cerimônias na religião cretense. Segundo Diodoro Sículo, "os Cretenses afirmavam que as honras outorgadas aos deuses, os sacrifícios e a iniciação nos mistérios eram invenções suas e que os outros povos os haviam imitado".[5] Se o todo da pretensão cretense não é verídico, fica ao menos atestada a importância concedida pelos minóicos às cerimônias do culto. Estas se iniciavam pelas purificações, que se reduziam, em princípio, a uma simples aspersão das mãos, exceto nas cerimônias solenes, quando então se descia às salas de lustração, preparadas para essa finalidade.
Os sacrifícios sangrentos de bois, cabras, ovelhas e porcos se faziam ao ar livre. O touro possuía uma peculiaridade: normalmente era sacrificado apenas em efígie, mercê de sua alta sacralidade.
Num sarcófago dos séculos ~ XIII-XII, exumado em Háguia Tríada, vê-se um touro preso a uma mesa, enquanto seu sangue escorre num vaso.
O sacrifício sangrento era acompanhado de oferendas de frutos e grãos, que representavam as primícias das colheitas, depositadas em vasos denominados kérnoi, isto é, vasos de cerâmica com numerosos compartimentos. As escavações mostraram que turíbulos para fumigações e recipientes vários para brasas, sobre os quais se colocavam substâncias aromáticas e especiais, tinham certamente por finalidade provocar o êxtase e o entusiasmo nos fiéis.
Os jogos eram parte intrínseca do culto, como as célebres touradas sagradas, nas quais o animal não era sacrificado. É muito provável que as acrobacias, que se realizavam sobre o mesmo por jovens de ambos os sexos, fizessem parte de uma dokimasía, quer dizer, de uma prova iniciática, uma vez que, como demonstraram Arthur Evans e Charles Picard, pular sobre um touro na corrida é um rito iniciático por excelência. "Muito provavelmente, como pensa Mircea Eliade, a lenda dos companheiros de Teseu, sete rapazes e sete moças, 'oferecidos' ao Minotauro, reflete a lembrança de uma prova iniciática desse gênero. Infelizmente ignoramos a mitologia do touro divino e o seu papel no culto. É provável que o objeto cultual especificamente cretense, denominado 'chifre de consagração', represente a estilização de um frontal de touro. A sua onipresença confirma a importância de sua função religiosa: os chifres serviam para consagrar os objetos colocados no interior"[6], a saber, no interior desses mesmos cornos, e talvez ainda servissem de proteção mágica ao Palácio de Knossos. -56-
As touradas atuais, diga-se de passagem, sobretudo as espanholas, em que se mata e se devora o touro, simbolizariam uma comunhão com o animal, uma aquisição de seu mana, de sua enérgeia, já que o touro, seja o Minotauro, seja o feroz Rudra do Rig-Veda, é portador de um sêmen abundante que fertiliza abundantemente a terra.
Ao culto em favor dos vivos estava indissoluvelmente ligado o culto em benefício dos mortos. Estes eram inumados e não cremados. Os cadáveres eram introduzidos pelo alto em salas mortuárias profundas, providas de oferendas e de objetos da vida comum: indumentárias, armas, talismãs, vasos e até archotes, o que mostra que para os minóicos a vida no além continuava muito semelhante àquela que tiveram neste mundo. As oferendas eram renovadas e até mesmo sacrifícios eram oferecidos aos mortos, sem que se possa afirmar com certeza que estes fossem divinizados. É bem verdade que o túmulo do rei-sacerdote de Knossos tinha um formato especial: talhado na rocha, possuía uma cripta de pilares, com o teto pintado de azul, simbolizando a abóbada celeste; na parte de cima se havia erguido uma capela muito parecida com os santuários da Grande Mãe, mas isto não prova a deificação do morto. É mais provável que o santuário traduzisse apenas o fato de que o culto funerário ao rei falecido se fizesse sob os auspícios da Deusa-Mãe.
A todos esses cultos presidiam sacerdotisas, hipóstases da Grande Mãe e não sacerdotes, o que parece normal numa sociedade essencialmente matriarcal, como já demonstrara Bachofen[7] e que fizera da "mulher divinizada" a maior das divindades de seu Panteão. Tal preeminência se encontra também em certos cultos anatólios, principalmente em Éfeso, em torno de Ártemis. As sacerdotisas são facilmente reconhecíveis pela coloração branca do rosto e pela indumentária: um bolero aberto no peito combinado com uma saia comprida, confeccionada de pele, pintada e guarnecida com uma cauda de animal, ou um vestido longo, normalmente em forma de sino; pelo uso da tiara e pelo fato de carregarem a bipene. O elemento masculino apareceu tardiamente no sacerdócio e, assim mesmo, como réplica da junção de um deus à Grande Mãe. Com exceção do rei, que é o grande sacerdote do Touro, o papel do sacerdote é apenas de assistente e acólito das sacerdotisas. Nada se sabe de concreto a respeito do recrutamento desses sacerdotes, de -57- sua posição social e reputação moral. A única informação certa é que eles eram muito respeitados na Grécia arcaica e que os gregos recorriam constantemente à cultura e à ciência dos mesmos.
Se pouco se conhece do culto cretense, menos ainda se sabe acerca de seu Panteão. Uma coisa, todavia, é certa: a religião cretense estava centrada no feminino, representado pela Grande Mãe, cujas hipóstases principais, em Creta, foram Réia e a Deusa das Serpentes.
Claro que se poderiam multiplicar os nomes, as projeções e as hipóstases da Grande Mãe em todas as culturas[8], mas esta permaneceu sempre e invariavelmente como algo acima e além das apelações: mãe dos deuses, mãe dos homens e de tudo quanto existe na terra, a Grande Mãe é um arquétipo.
"O traço mais original da religião cretense, escreve Jean Tulard, parece ter sido sua predileção pelos símbolos. Tal simbolismo atribui um valor emblemático a todo material sagrado e, como o símbolo é suficiente para criar a ambiência divina, não se torna necessário que o deus seja visível. Esse simbolismo de um caráter particular, no entanto, se casa perfeitamente com um incontestável antropomorfismo".[9] Desse modo, na expressão de Charles Picard, a religião cretense duplicou as representações icônicas de seus deuses com o paralelismo dos símbolos.
É assim, exatamente, que se apresenta a Grande Mãe minóica. Deusa da natureza, reina sobre o mundo animal e vegetal. Sentada junto à árvore da vida, está normalmente acompanhada de animais, como serpentes, leões ou de determinadas aves. Armada, e de capacete, simboliza a deusa da guerra, representação da vida e da morte. Para reinar sobre a terra, desce do céu sob a forma de pomba, símbolo da harmonia, da paz e do amor. Domina o céu, a terra, o mar -58- e os infernos, surgindo, assim, sob as formas de pomba, árvore, âncora e serpente. E uma coisa é certa: a primazia absoluta das divindades femininas na Ilha de Creta atesta a soberania e a amplitude do culto da Grande Mãe. Em geral, essas divindades femininas se apresentam sob a forma de ídolos do tipo esteatopígico em terracota ou em mármore, inicialmente de cócoras e depois em pé, com os braços abertos. As formas exageradas, com seios proeminentes, flancos largos, traseiro exuberante e umbigo enorme são a própria imagem da fecundidade. Pouco importa, portanto, que deusas tipicamente cretenses, como Hera, Ilítia, Perséfone, Britomártis, meras transposições da Grande Mãe, tenham sido assimiladas pelos gregos, com funções, por vezes, diferentes das que exerciam em Creta, porque um traço comum sempre as prenderam ao velho tema minóico: a fecundidade.
Hera tornou-se a "mãe dos deuses", mas teve um culto especial, como Grande Mãe, na Lacônia, Arcádia e Beócia. Ilítia, sempre ligada a Hera, tornou-se a deusa dos partos. Perséfone recebeu mãe grega: Deméter, deusa da vegetação. Britomártis, "a doce virgem", fez jus a um pequeno, mas elucidativo mito cretense: perseguida durante nove meses pelo rei Minos, acabou lançando-se ao mar, onde foi salva pelas redes dos pescadores, recebendo, por isso mesmo, o epíteto de Dictina, "a caçadora com redes". Assimilada a Ártemis, tornou-se, como esta, deusa da caça e deusa-Lua, mãe noturna da vegetação.
Mesmo determinados "objetos cultuais", de que ainda não se falou, como a pedra sagrada, o pilar, o escudo bilobado, a árvore e certos animais sagrados, como o touro, a serpente, o leão e determinadas aves, considerados por alguns simples fetichismo ou zoolatria, devem ser, na verdade, interpretados como outras tantas representações das divindades minóicas e, particularmente, da Grande Mãe.
Os bétilos, por exemplo, caídos do céu, os estalactites e estalagmites, encontrados nas grutas, são símbolos da presença divina em todas as culturas, como o Beith-el, o Betei (Casa de Deus), de Jacó; a pedra negra de Cibele e aquela encaixada na Caaba, tornando-se, portanto, a pedra o substituto do divino. O pilar simboliza, de um lado, o poder estabilizador das divindades cretenses, susceptível de substituir a forma humana dos deuses e, de outro, a relação entre os diversos níveis do universo e o canal por onde circula a energia cósmica, constituindo-se num centro irradiador dessa mesma energia. -59-
O escudo bilobado, que figura, as mais das vezes, ao lado da bipene, é a arma passiva, defensiva e protetora, como a Grande Mãe. A árvore tem uma importância muito grande: traduz a própria deusa da vegetação, já que representa a vida em perpétua evolução. O touro é o mais privilegiado animal sagrado de Creta: símbolo da força genésica, confundiu-se mais tarde com Zeus, que, sob a forma de touro, raptou Europa, e também com o monstruoso Minotauro. A serpente é o animal ctônio por excelência: entre suas múltiplas significações e símbolos, destaquemos, por agora, ser ela uma ponte entre o mundo de baixo, ctônio, e o mundo de cima, uma guardiã das sementes, projeção da Terra-mãe. O leão é a encarnação do poder, da sabedoria e da justiça, e retrata, de certa forma, o rei Minos, cujas características e virtudes se mencionarão um pouco mais adiante. As aves possuem também papel relevante, seja como símbolos das hierofanias, isto é, das aparições divinas, seja como "acompanhantes" das deusas, destacando-se a pomba, como já se mencionou.
A existência de deuses do sexo masculino na civilização minóica está mais do que comprovada. O culto ao escudo bilobado, a importância dos ritos de fecundidade, das hierogamias, do touro e mesmo do galo mostram claramente a existência de um princípio masculino em Creta, embora se tenha de admitir que "esses deuses" eram tão-somente divindades associados à Grande Mãe, como o deus-galo, Velcano, sem lhe terem jamais ameaçado o poder e a soberania. Trata-se, na realidade, de filhos ou amantes seus. Todo esse feminino cretense reflete talvez, como quer Bachofen[10], um primitivo e longínquo matriarcado, que se apóia na crença fundamental que une a mulher às potências geradoras da vida.
Não se quer dizer com isto que a mulher tenha sido o "cabeça do casal" na célula familiar e que tenha havido em Creta uma ginecocracia, stricto sensu. Minos é o rei e a história da civilização minóica não nos revela figura alguma feminina análoga à rainha-mãe dos Hititas. Na realidade, nada prova, até o momento, que a cretense exercesse efetivamente um papel político. Sua preponderância foi social e religiosa. Longe de estar enclausurada no gineceu, a mulher participa de todas as atividades da "pólis": trabalha, caça, é toureira, diverte-se, ocupa o lugar de honra nos espetáculos públicos, aliás maravilhosamente bem vestida, enfim tem e exerce direitos iguais aos dos homens... Religiosamente, a supremacia da mulher cretense é inegável e óbvia; ela é a sacerdotisa: os sacerdotes -60- surgiram mais tarde e apenas como acólitos. Afinal, a augusta divindade de Creta é a Grande Mãe... Não foi por ironia que Plutarco afirmou que os cretenses chamavam a seu país não de pátria (de patér, pai), mas de mátria (de máter, mãe). Na Ilha de Minos a mulher não governava, mas reinava.
Os gregos, que tanta influência tiveram da civilização minóica, esqueceram-se de herdar-lhe a dignidade da mulher!
O grande mitologema cretense do rei Minos está indissoluvelmente ligado ao palácio de Knossos e a seu labirinto, bem como ao arquiteto Dédalo, ao Minotauro e ao mito de Teseu e Ariadne.
Se, do ponto de vista histórico, Minos foi um nome dinasta, que governou Creta, ao menos como rei suserano de Knossos, miticamente a coisa é bem diversa. Filho de Zeus e Europa (que Zeus raptara sob a forma de Touro) ou do rei cretense Astérion e da mesma Europa, Minos tinha dois irmãos, Sarpédon e Radamanto, com os quais disputou o poder sobre Creta, eco evidentemente de lutas reais pela supremacia de Knossos sobre Festo e Mália, dois outros grandes centros políticos e econômicos da Ilha. Minos alegou que, de direito, Creta lhe pertencia por vontade dos deuses e, para prová-lo, afirmou que estes lhe concederiam o que bem desejasse. Um dia, quando sacrificava a Posídon, solicitou ao deus que fizesse sair um touro do mar, prometendo que lhe sacrificaria, em seguida, o animal. O deus atendeu-lhe o pedido, o que valeu ao rei o poder, sem mais contestação por parte de Sarpédon e Radamanto. Minos, no entanto, dada a beleza extraordinária da rês e desejando conservar-lhe a raça, enviou-a para junto de seu rebanho, não cumprindo o prometido a Posídon. O deus, irritado, enfureceu o animal, o mesmo que Héracles matou mais tarde (ou foi Teseu?) a pedido do próprio Minos ou por ordem de Euristeu. A ira divina, todavia, não parou aí, como se verá. Minos se casou com Pasífae, filha do deus Hélio, o Sol, da qual teve vários filhos, entre os quais se destacam Glauco, Androgeu, Fedra e Ariadne. Para vingar-se mais ainda do rei perjuro, Posídon fez que a esposa de Minos concebesse uma paixão fatal e irresistível pelo touro. Sem saber como entregar-se ao animal, Pasífae recorreu às artes de Dédalo, que fabricou uma novilha de bronze tão perfeita, que conseguiu enganar o animal. -61-
Pasífae colocou-se dentro do simulacro e concebeu do touro um ser monstruoso, metade homem, metade touro, o Minotauro. Esse Dédalo era ateniense, da família real de Cécrops, e foi o mais famoso artista universal, arquiteto, escultor e inventor consumado. É a ele que se atribuíam as mais notáveis obras de arte da época arcaica, mesmo aquelas de caráter mítico, como as estátuas animadas de que fala Platão no Mênon. Mestre de seu sobrinho Talos, começou a invejar-lhe o talento e no dia em que este, inspirando-se na queixada de uma serpente, criou a serra, Dédalo o lançou do alto da Acrópole. A morte do jovem artista provocou o exílio do tio na Ilha de Creta. Acolhido por Minos, tornou-se o arquiteto oficial do rei e, a pedido deste, construiu o célebre Labirinto, o grandioso palácio de Knossos, com um emaranhado tal de quartos, salas e corredores, que somente Dédalo seria capaz, lá entrando, de encontrar o caminho de volta. Pois bem, foi nesse labirinto que Minos colocou o monstruoso Minotauro, que era, por sinal, alimentado com carne humana.
Ora, se o rei já estava profundamente agastado com seu arquiteto, por haver construído o simulacro da novilha, estratagema através do qual sua mulher fora possuída pelo Touro, ficou colérico ao saber que Dédalo havia também planejado, com Ariadne, a libertação de Teseu, filho de Egeu, rei de Atenas. É que, com a morte de Androgeu, filho de Minos, morte essa atribuída indiretamente a Egeu, que, invejoso das vitórias do jovem cretense nos jogos por aquele mandados celebrar em Atenas, enviara o atleta para combater o Touro de Maratona, onde perecera, eclodiu uma guerra longa e penosa entre Creta e Atenas. Como a luta se prolongasse e uma peste (pedido de Minos a Zeus) assolasse Atenas, Minos concordou em retirar-se, desde que, de nove em nove anos, lhe fossem enviados sete rapazes e sete moças, que seriam lançados no Labirinto, para servirem de pasto ao Minotauro. Teseu se prontificou a seguir para Creta com as outras treze vítimas, porque, sendo já a terceira vez que se ia pagar o terrível tributo ao rei de Creta, os atenienses começavam a irritar-se contra seu rei. Lá chegando, foi instruído por Ariadne, que por ele se apaixonara, como se aproximar do monstro e feri-lo. Deu-lhe ainda a jovem princesa, a conselho de Dédalo, um fio condutor, para que, após a vitória sobre o monstro, pudesse sair da formidável teia de caminhos tortuosos de que era constituído o Labirinto. Livre deste e do Minotauro, Teseu fugiu com seus companheiros, levando consigo Ariadne, cujo destino será estudado, quando se tratar do mito de Dioniso e sobretudo do mito dos heróis. -62-
Louco de ódio pelo acontecido, Minos descarregou sua ira sobre Dédalo e o prendeu no Labirinto com o filho Ícaro, que tivera de uma escrava do palácio, chamada Náucrates. Dédalo, todavia, facilmente encontrou o caminho de saída e, tendo engenhosamente fabricado para si e para o filho dois pares de asas de penas, presas aos ombros com cera, voou pelo vasto céu, em companhia de Ícaro, a quem recomendara que não voasse muito alto, porque o sol derreteria a cera, nem muito baixo, porque a umidade tornaria as penas assaz pesadas. O menino, no entanto, não resistindo ao impulso de se aproximar do céu, subiu demasiadamente. Ao chegar perto do sol, a cera fundiu-se, destacaram-se as penas e Ícaro caiu no mar Egeu, que, daí por diante, passou a chamar-se Mar de Ícaro.
Este episódio tão belo foi narrado vibrante e poeticamente pelo grande vate latino, Públio Ovídio Nasão (43 a.e.c.-18 e.c.) em suas Metamorfoses, VIII, 183-235.
Dédalo chegou são e salvo a Cumae, cidade grega do sul da Itália. Perseguido por Minos, fugiu para a Sicília, onde o rei Cócalo o acolheu. O rei de Creta, porém, foi-lhe ao encalço. Pressionado, Cócalo prometeu entregar-lhe o engenhoso arquiteto, mas, secretamente, encarregou suas filhas de matarem o perseguidor de Dédalo, durante o banho, com água fervendo, ou, segundo uma variante, Cócalo substituiu a água do banho por pez fervente, talvez por instigação do próprio Dédalo, que havia imaginado um sistema de tubos, em que a água era repentinamente substituída por uma substância incandescente. Foi este, miticamente, o fim trágico do grande rei de Creta.
A interpretação dessa cadeia de mitos, já bastante enriquecidos pelo sincretismo creto-micênico, não parece muito difícil.
Minos é "um rei sacerdote", para usar da expressão de Arthur Evans, ou seja, é a personificação do deus masculino da fecundidade. Identifica-se ainda com o senhor do raio e da chuva, associando-se à Deusa Mãe, que personifica a Terra. A influência egípcia parece clara: encarnação do Touro, Minos lembra o touro Ápis, de Mênfis; sua união com Pasífae e o nascimento do Minotauro evocam as tríadas egípcias.
Minos não é o representante de divindade na terra, mas seu filho. Filho piedoso e submisso: de nove em nove anos, o rei se recolhia no mais temível e intrincado dos labirintos, no monte Iucta, para uma "entrevista secreta" com seu pai Zeus, a quem prestava -63- contas de "suas atitudes" e de seu governo. Se descontente com o rei, este permanecia no labirinto; se satisfeito, Zeus o reinvestia no poder para mais um período de nove anos. Historicamente, o tributo novênio cobrado a Atenas parece refletir, desde o Minóico Médio, ~ 2100-1580, a penetração e o domínio cretense na costa oriental do Peloponeso e na Arcádia, onde se instala a dinastia de Dânao; na Lacônia, dominada pela de Lélex; na Beócia, conquistada por Cadmo, e na Ática, onde os agentes de Minos cobravam um tributo, em espécie ou em homens. Do ponto de vista religioso, no entanto, "o sacrifício" de catorze atenienses ao Minotauro simbolizaria "um estado psíquico, a dominação perversa de Minos, mas, se o monstro é filho de Pasífae, a rainha cretense estaria também na raiz da perversidade do rei: ela refletiria um amor culpado, um desejo injusto, uma dominação indevida e a falta, reprimidos no inconsciente do labirinto. Os sacrifícios ao monstro são outras tantas mentiras e subterfúgios para adormecê-lo e outras tantas faltas que se acumulam. O fio de Ariadne, que permite a Teseu voltar à luz, representa o auxílio espiritual necessário para vencer o monstro.
No seu conjunto, o mito do Minotauro simboliza a luta espiritual contra a repressão"[11], uma espécie de luta entre Antígona e Creonte!
O retiro de Minos, de nove em nove anos, no labirinto do monte Iucta, é uma clara alusão ao processo iniciático, comum a reis e sacerdotes, periodicamente. A união de Teseu com Ariadne é um hieròs gámos, um casamento sagrado, com vistas à fecundidade e à fertilidade da terra.
Dédalo e Ícaro representam também algo de sério...
Dédalo é a engenhosidade, o talento, a sutileza. Construiu tanto o labirinto, onde a pessoa se perde, quanto as asas artificiais de Ícaro, que lhe permitiram escapar e voar, mas que lhe causaram a ruína e a morte.
Talvez se deva concordar com Paul Diel em que Dédalo, construtor do labirinto, símbolo do inconsciente, representaria, "em estilo moderno o tecnocrata abusivo, o intelecto pervertido, o pensamento afetivamente cego, o qual, ao perder sua lucidez, torna-se imaginação exaltada e prisioneiro de sua própria construção, o inconsciente".[12] -64-
Quanto a Ícaro, ele é o próprio símbolo da hýbris, da démesure, do descomedimento. Apesar da admoestação paterna, para que guardasse um meio-termo, "o centro", entre as ondas do mar e os raios do sol, o menino insensato ultrapassou o métron, foi além de si mesmo e se destruiu. Ícaro é o símbolo da temeridade, da volúpia "das alturas", em síntese: a personificação da megalomania.
Se, na verdade, as asas são o símbolo do deslocamento, da libertação, da desmaterialização, é preciso ter em mente que asas não se colocam apenas, mas se adquirem ao preço de longa e não raro perigosa educação iniciática e catártica. O erro grave de Ícaro foi a ultrapassagem, sem o necessário gnôthi s'autón, o indispensável conhece-te a ti mesmo.
Para fechar este capítulo, uma derradeira palavra sobre a Ilha de Minos. A influência cretense sobre a Grécia foi grande e benéfica. Aos minóicos devem os gregos aqueus uma parte de suas obras de arte e de suas técnicas, e do ângulo em que a civilização cretense nos interessa no momento, isto é, o religioso, a presença de Creta foi muito importante para o desenvolvimento da religião helênica. Mircea Eliade é taxativo: "Com efeito, a cultura e a religião helênicas são resultado da simbiose entre o substrato mediterrâneo e os conquistadores indo-europeus, descidos do Norte".[13]
A influência religiosa minóica não se restringe apenas à "importação" pura e simples de deuses, como os já citados Velcano, Britomártis, Réia, Ilítia, Perséfone e ao salutar sincretismo que se seguiu, mas também, e isto é importante, os gregos devem a Creta uma parte do mito de Zeus, algumas modalidades de jogos, os ritos agrários e certamente o culto de Deméter. E, se a capela creto-micênica, com sua tríplice divisão interna, teve seu prolongamento no santuário grego, o culto cretense do lar há de ter continuidade nos palácios micênicos.
No que tange especificamente a Deméter, as origens de seu culto são atestadas em Creta e o santuário de Elêusis data da época micênica.
O sueco Martin P. Nilsson diz que "Certas disposições, arquiteturais ou de outra espécie, dos templos de mistérios clássicos, parecem derivar, mais ou menos, das instalações constatadas na Creta pré-helênica.[14] É possível que Nilsson não tenha exagerado, ao afirmar que dos quatro grandes centros religiosos da Hélade, Delos, Delfos, Elêusis e Olímpia, os três primeiros foram herdados dos micênicos, que, por sua vez, os receberam dos cretenses.
Sem omitir, nem tampouco esquecer o quanto a Hélade deve ao Egito e à Ásia Menor em matéria de religião, cabe, no entanto, a Creta um lugar de destaque nesse quadro de influências.
Bastaria, para confirmá-lo, lembrar que a rainha do Hades grego é a cretense Perséfone e que, dos três juizes dos mortos, dois, Radamanto e Minos, tiveram por berço a Ilha de Minos...
Talvez da Grécia em relação a Creta se pudesse repetir, mutatis mutandis, o que disse o extraordinário poeta latino Quinto Horácio Flaco (65-8 a.e.c.) de Roma em relação à Grécia:
Graecia capta ferum uictorem cepit et artes intulit agresti Latio (Epist. 2, 1, 157): A Grécia conquistada conquistou seu feroz vencedor e introduziu suas artes no Lácio inculto. -66-

Os homens são miseráveis, porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance…


Embora Hera (Juno) seja sempre descrita como odiando Héracles (Hércules), em certa altura ela foi enganada, tendo-o alimentado como uma mãe. Enquanto ela estava dormindo, o impostor do deus Hermes (Mercúrio) levou o Héracles bebê para o Olimpo e colocou a sua boca junto ao seio de Hera, que imediatamente começou a dar-lhe de mamar, até que ele lhe mordeu, e ela acordou e o atirou pelos ares. Héracles não sofreu nada, mas o leito de Hera continuou a escorrer, esquichando para o céu onde formou a Via Láctea. Em outra versão, Atena foi quem enganou Hera e fez com que desse de mamar ao bebê Héracles.

O destemido Hipólito sabe que a morte se aproxima; seu carro desgovernado, puxado por quatro cavalos enlouquecidos pelo medo, ameaça tombar a qualquer momento. O touro monstruoso é incansável que o persegue desde as primeiras horas do dia queima agora suas costas com o hálito incendiado.
De onde terá surgido aquela horrenda criatura? A mando de quem o perseguia? Um pedaço rompido das rédeas está solto e chicoteia o ar, dificultando ainda mais o controle do carro. Quem dera Hipólito pudesse abandonar as frágeis rédeas e, num pulo ágil e certeiro, ir cair diretamente sobre o cachaço negro do touro, para então domá-lo e alcançar mais esta vitória retumbante. Já não fizera o mesmo, certa feita, durante as Festas Panatenéias, ao domar com sucesso um corcel soberbo e furibundo - e também negro, como a fera que agora o ameaça?
Não, desta vez não há mais platéia alguma; não haverá palmas nem risos de satisfação. Tampouco o cercarão olhares cobiçosos. Parece que os deuses, para não humilhá-lo em sua derradeira aventura, quiseram que o teatro de sua inevitável derrota fosse a amplidão desértica dos imensos Rochedos Cirônicos que o rodeiam, em silêncio.
E Artemis? Onde estará a deusa e amiga, neste instante derradeiro? Uma árvore ressequida está logo adiante; seus galhos nus, esticados em todas as direções, parecem braços esquálidos que imploram por uma ajuda humana ou divina. O carro de Hipólito ruma celeremente em sua direção, enquanto a rédea solta agita-se cada vez mais, sob o impacto da vertiginosa velocidade.
Hipólito vai, sem volta, de encontro ao seu destino.
...
Hipólito e Artemis haviam sido criados juntos. Habituado a conduzir seu carro com invejável maestria, ele e a deusa haviam simpatizado tão sinceramente um com o outro, que passearem juntos era a coisa mais normal deste mundo para ambos.
Mas este era um privilégio que a casta deusa - todos sabemos - concedia a bem poucos imortais e a nenhum mortal. Seu cortejo compunha-se invariavelmente de algum punhado de belas ninfas, e toda vez que algum mortal ousava tentar algum contato, era severamente punido, como aconteceu com o pobre Acteão, ao flagrá-la nua durante o banho.
Mas com aquele jovem era diferente: Hipólito era tão casto quanto sua divina amiga, e por isso o mundo acostumou-se com a notícia de sua fraterna amizade.
Mas havia alguém que não pensava assim.
- Veja, meu filho, como ela o abraça tão ternamente! - disse Afrodite, um dia, encolerizada pelo ciúme, a seu filho Eros. - Haverá somente pureza ali?
- Quem sabe, mamãe... - disse o jovem arqueiro, afetando despreocupação.
- Mas seu descaso para comigo passou de qualquer limite! - esbravejou a mais bela das deusas. - Nunca mais o vi render ofertas aos pés de minhas estátuas, nem freqüentar os paços de meus templos. Não, ele precisa ser punido!
Determinada a este fim, ordenou, então, que seu filho procurasse a madrasta de Hipólito, a bela Fedra, e alvejasse seu coração com a mais venenosa de suas setas.
- Quero que ela o ame como mulher nenhuma amou um homem antes. Eros saiu em sua procura. Chegando em Atenas, dirigiu-se, às ocultas, ao palácio de Teseu, esposo de Fedra, e encontrou-os no leito.
O rei parecia sedento dos abraços e carícias da esposa, pois recém retornara de uma longa expedição militar. Quanto a ela, Eros não pudera observar direito, pois o corpo forte e espadaúdo do marido cobria o da mulher em toda a extensão.
Terminado o amor, Eros sorriu baixinho.
Fedra, contudo, voltara-se de braços, cobrindo a nudez com o lençol.
"Acho que minha tarefa não é tão necessária aqui!", pensa Eros outra vez, pondo, ainda, nova malícia em seus pensamentos. "Por que não deixar que as coisas sigam simplesmente o seu rumo?"
Mas a recomendação de sua mãe ainda soa bem forte em seus ouvidos.
No dia seguinte, Eros aguarda que o rei abandone os aposentos, ficando só com a rainha. Ela parece pensativa, mas sem dar importância demais ao produto de suas elucubrações matinais. Eros, que tem o dom da clarividência, observa o desfile monótono dos pensamentos da rainha. Na maioria futilidades do dia-a-dia, que ela relembra, intercalando esse pobre desfile com um bocejo ou dois.
"Opa!", exclama mentalmente o deus arqueiro ao flagrar um pensamento mais indiscreto. Sim, a imagem de Hipólito surge agora em sua mente. Inadvertidamente, ela parece fazer uma comparação entre os dois, pai e filho - que ela também considera seu -, mas sem nenhuma malícia.
"A hora é agora", pensa Eros, sacando a sua mais afiada seta. Após embebê-la no filtro do Amor, assesta a pontaria para o coração de Fedra, que está inteiramente a descoberto debaixo da pele clara do seio quase desnudo. E quando a imagem de Hipólito retorna, finalmente, às suas cogitações, o deus dispara a seta, certeira como todas as que arremessa.
Fedra, sem saber como, vê-se de repente entontecida.
- O que é isto que sinto, Zeus poderoso? - exclama, cobrindo instintivamente o peito com o lençol.
E durante o resto do dia ficará com esta angústia na alma, sem saber o porque de tanta inquietação, até que seu enteado aparece, ao cair da noite, com o rosto radiante de quem se exercitou bravamente em seu carro puxado pela parelha dos velozes corcéis.
"Como é encantadoramente belo o filho de Teseu!", exclama mentalmente Fedra, como se o visse pela primeira vez. Depois repete baixinho, algo assustada: "O filho de Teseu!"
Eros parte pela janela, satisfeito, mais uma vez, de sua eficiência.
Fedra, esposa de Teseu e madrasta de Hipólito, está em Atenas para participar da Procissão das Panatenéias. Essa é a "Grande Festa", que se realiza de cinco em cinco anos, em oposição às "pequenas" Panatenéias, realizadas anualmente.
Atena, deusa homenageada, é reverenciada por meio de procissões náuticas e pedestres, às quais afluem milhares de atenienses e peregrinos de todo o mundo helênico, em busca de proteção às suas vidas e de alívio às suas tribulações.
Mas Fedra, mulher de Teseu, não consegue dar alívio à sua aflição: postada ao lado do enteado, está tomada pela inquietude. Seu esposo e rei, o grande Teseu, está em terra cuidando de outros afazeres.
- Nunca houve uma festa com tanto brilho, não lhe parece, minha madrasta?
Fedra ouve a pergunta que sai dos lábios de Hipólito, mas sua língua não consegue movimentar-se dentro de sua boca. Os dois estão ombro a ombro, e o contato daquele braço musculoso com o seu ombro nu impede qualquer outro pensamento.
"Seu ombro é cálido e viril", ela reflete, enquanto os hinos a Atena levantam-se de todas as partes; pode mesmo sentir, perfeitamente, a contração e relaxamento dos músculos rijos do braço do jovem a cada vez que ele ergue ou abaixa a mão para acenar ao povo. Somente quando suas peles se descolam é que a brisa vem alisar e secar em seu ombro o suor misturado de suas epidermes.
"Não posso mais agüentar esta tortura!", pensa a mulher de Teseu. Quando a procissão termina, Fedra, desvencilhando-se de todos, dirige a palavra ao enteado:
- Hipólito, filho de Teseu... O rapaz volta-se para ela.
- Engraçado, minha madrasta - diz ele, dando-se repentinamente conta de algo que antes não percebera. - Por que me chama, desde há algum tempo, de "filho de Teseu"?
- Como? Não o entendo... - balbucia Fedra, sentindo um rubor vivido tingir as suas faces.
- Antes chamava-me de "meu filho", como se fosse minha mãe, ou simplesmente de Hipólito - diz o jovem, com um sorriso alegre em seu rosto. - Por que esta mudança?
Fedra, atrapalhada, diz apenas, como se nada tivesse escutado:
- Vou subir para meus aposentos, no palácio. Faça as honras a Atena como manda e pede a piedade.
A esposa de Teseu sobe, então, até o terraço de seu palácio. Mas nem mesmo o vento que sopra no alto pode apagar a flama do desejo que arde em seu peito.
- Hipólito, filho de Teseu... - balbucia ela, esfregando os dois ombros, como se, longe do contato daquele ombro jovem e viril, se sentisse desamparada.
- Filho de Teseu... Sim, ele é filho de Teseu... - prossegue ela em seu devaneio. - Não, não é meu filho! - exclama, de repente, num misto de alegria e revolta. - Posso, então... Se é assim, posso então amá-lo, Hipólito adorado...
Fedra, descontrolada e excitada, erra de um lado para o outro, como quem foge de algo que deseja loucamente perseguir.
- Sim, posso amar-lhe, Hipólito! Por que não, filho de Teseu? - exclama, de repente, de maneira impensada.
Dando-se conta, então, da audácia dessa proclamação, cerra com as duas mãos a barreira dos seus lábios. Lá embaixo, entretanto, soam os gritos frenéticos da plebe ajuntada.
Numa arena armada, está um grande corcel negro, que cinco cavalariços trazem a custo para o centro. Escoiceando e espinoteando, o animal derruba três deles, que são levados em braços para fora da arena. Uma grande mancha redonda de sangue brilha sobre o solo, iluminada pelo sol - metálica e escarlate como um pequeno escudo tingido de vermelho que jaz perdido em meio ao fragor de uma batalha.
De repente Hipólito - sim, é ele! - adentra a arena. Fedra sente o coração dar um pulo dentro do seu peito, como se o seu próprio órgão tivesse adquirido quatro rijas patas e ameaçasse escapar pela sua boca.
- Hipólito, meu querido e amado... oh, amado, amado Hipólito! - sussurra Fedra, agoniada.
Desde que tomou a coragem de dizer a si mesma, com seus próprios lábios, as palavras tão temidas, Fedra as repete sem parar em sua gelada solidão. As mãos que ainda comprimem sua boca são agora um selo inútil e despegado, incapazes de reter as palavras que sua boca teima em repetir com a mesma determinação exaustiva de um coro que os fiéis endereçam a Atena.
Fedra assiste a toda a luta, a todos os lances de vigor e valentia que seu enteado protagoniza para dobrar a vontade do corcel imenso e insubmisso como a noite, até que finalmente a vontade e a inteligência humanas acabam por triunfar sobre o rude primitivismo do animal.
A madrasta de Hipólito, lá do alto, está radiante. Nunca admirara tanto a exuberância e vigor da juventude daquele jovem como naquele instante - naquele preciso instante em que admitira, finalmente, que o amava, para a dor ou a alegria, para a morte ou para a vida.
E quando Hipólito retorna ao palácio, com o corpo suado e exausto do prodígio, Fedra lança-se - à louca! - em seus braços, sem considerar mais nada.
- Hipólito, Hipólito amado! - diz ela, a sós com o enteado, beijando sua boca como quem bebe o alimento que lhe falta desde sempre.
- O que diz, Fedra, minha madrasta? - diz Hipólito, tentando desviar seus lábios daqueles outros, rubros e inchados, que os caçam com sofreguidão.
- Hipólito, amo você, meu adorado jovem! - exclama Fedra, descontrolada. - Ouça: seu pai nada mais representa para mim! Não amo mais Teseu, não o quero mais!
- O que diz, louca? - repete o jovem, sem ter outras palavras.
- Não, não quero mais o afeto insosso e cansado de seu pai, entende? Por que deveria, se não o quero mais? Quero os seus beijos, somente, meu jovem! Os seus, unicamente!
- Mulher maldita! - exclama Hipólito, irado com aquela injúria feita a seu pai. Depois, enxergando um pedaço da nudez do corpo de sua madrasta, que o acidente do encontro desnudara, diz a ela, num excesso de rigor: - Vamos, cubra de pudor a sua alma, já que o seu corpo o despiu de vez!
Fedra, recuando dois passos, permanece com a parte superior do tronco desnudo, em mudo desafio. Depois, recobrando lentamente o bom senso, ergue outra vez a parte de seu manto que havia descido até os laços que o prendiam na cintura. Correndo, a esposa de Teseu mete-se em outro aposento. Aos poucos vai-se dando conta da gravidade daquilo que perpetrara.
"Cubra sua alma de pudor!", é o que soa ainda em seus ouvidos.
Ela cobrira a alma de desejo, mas o mundo queria o pudor. Jamais a perdoariam. O filho dileto iria levar logo a notícia a Teseu, rei e esposo, prestes a se tornar vítima de terrível e injuriosa afronta.
Cega agora pela ira, ela diz de si para si:
- Fique, pois, o mundo maldito com o seu pudor! Levarei comigo apenas meu desejo! Sua mão rabisca uma carta, na qual acusa o enteado da infâmia horrenda que ela mesma perpetrara e, depois, arrancando fora o laço de seu manto, prende-o num laço sobre uma das vigas do teto. Sabe que não poderia enfrentar de outro modo a censura do marido, do rei e daquela horrenda sociedade, que pune o desejo raivosamente e às claras, mas o reverencia loucamente em segredo.
E enquanto seu corpo balançava-se, ainda com um resto de vida, seu manto desceu outra vez até a cintura, como em um protesto final contra a impossibilidade de amar que as Moiras sinistras lhe haviam decretado.
- Teseu, a rainha matou-se!
É com esta terrível notícia que o rei é recebido.
- Estão todos loucos? - grita Teseu, correndo até o local onde está o cadáver ainda quente de Fedra.
Abraçado ao corpo pendente da mulher, Teseu dá largas a sua dor.
- Por quê? Quem foi o responsável por este gesto? - pergunta.
A escrava aponta para a carta que Fedra deixara. Teseu a toma com suas mãos trêmulas.
- Onde está Hipólito? - diz ele, erguendo os olhos.
Um brilho frio torna ainda mais gelado o azul de suas pupilas. Hipólito surge diante do pai.
- Ousou, então, na minha ausência, levantar a mão para esta que tomou o lugar de sua mãe? - diz Teseu; sua voz é bem articulada, mas seus membros agitam-se como os músculos dos cavalos quando estão postados para a corrida.
Hipólito silencia. Sabe que nada que disser poderá fazer seu pai acreditar em sua inocência. Abandona o recinto e, mandando atrelar os cavalos à sua biga, parte no mesmo dia para o Peloponeso.
Teseu, a sós, ferve de ódio. Não há mais Fedra nenhuma a seu lado para acalmá-lo; nenhuma palavra, nenhuma carícia, nada poderá agora refrear o seu ódio. Os problemas políticos também se avolumam: Menesteu, seu rival, disputa com ele o poder, apoiado por nobres insatisfeitos - ou seja, por traidores.
Traidores por todos os lados!
Pondo-se em pé, Teseu chama por seu pai, Posídon.
- Meu pai, deus poderoso, é a ti que clamo neste momento! - diz, cerrando os punhos.
- Na condição de seu filho, peço agora que punas Hipólito ingrato, e que jamais possa ele chegar ao seu destino!
O jovem, nesse momento, atravessava os caminhos ásperos e íngremes de sua jornada, conduzindo sua biga, puxada por fogosos corcéis. Em sua cabeça agitavam-se pensamentos de dor e remorso: dor por haver levado o próprio pai a fazer um tão mau julgamento de si mesmo, e remorso por haver provocado uma morte, ainda que a morte de uma mulher perversa e lúbrica, que tramara a sua perdição e de sua casa.
Ao mesmo tempo em que torce as rédeas na mão, com o coração tomado pela raiva, não pode deixar de relembrar as carícias da madrasta, os beijos ardentes, as mãos que percorriam seu corpo em todas as direções, como que vasculhando uma escuridão em busca do acesso à liberdade, que para ela era somente um: a realização do seu nefando desejo.
Nesse exato instante Hipólito é surpreendido com o surgimento inesperado, vindo das profundezas do mar - situado um pouco abaixo da ravina que ele percorre velozmente -, de um monstro marinho assemelhado a um grande touro negro, que lança flamas ardentes pelas duas narinas frementes.
"Por Zeus, o que é isto?", pensa Hipólito, atônito com aquela monstruosidade. Algo, porém, lhe diz que ele vem como o mensageiro da destruição e do castigo. Sim, do castigo, também, pois fora ele, Hipólito, o causador, ainda que involuntário, de toda aquela tragédia.
Enquanto luta para se desvencilhar, desviando com mão firme o seu carro das investidas da terrível fera, Hipólito é assaltado por uma estranha visão, pois quando o temível touro aproxima-se, colocando-se quase ao seu lado, pode ver nas feições da fera o desenho do rosto de sua madrasta.
"O que é isso, estarei delirando?", pensa, em meio ao tumulto da fuga e da poeira que os cavalos levantam.
Às vezes da própria poeira surge Fedra, dissociada do monstro, inteiramente nua e de braços estendidos, para dali a instantes dissolver-se outra vez no turbilhão do pó. Hipólito não está sendo perseguido apenas por seu fado.
Quem sabe descobre em si mesmo, também, tardiamente, um sentimento até então estranho, que justifica agora, plenamente, o destino que se desenhava para si? No último instante, porém, lembra-se novamente de Artemis, a sua amiga e companheira. Onde estava ela?
...
Artemis, a casta deusa. Artemis, filha de Leto e irmã de Apolo. Artemis, que se afeiçoara pela primeira vez a um mortal - através de um sentimento absolutamente casto, como requeria a sua natureza -, estivera afastada durante todo este tempo. Não eram estes assuntos, com os quais inadvertidamente acabara por se envolver o seu amigo Hipólito, dignos de lhe despertar a atenção e o interesse.
Durante todo o episódio dos amores proibidos de Fedra e Hipólito, Artemis procurara se manter ausente. Seu amigo estava prestes a ser engolfado no turbilhão de uma paixão, e ela, deusa castíssima entre as deusas, temia ser envolvida naquela atmosfera que tanto temia. Alvo, certa feita, dos desejos indiscretos de Acteão, ele bem soubera dos desgostos que podiam acarretar a um mortal - e mesmo a uma divindade poderosa como ela - os furores inspirados por Afrodite.
Mas ao saber, finalmente, dos trágicos rumos que tomara aquela funesta paixão, Artemis resolvera intervir e tentar ainda, desesperadamente, salvar a vida de Hipólito, uma vez que contra ele se levantava a ira de dois pais: a de Teseu, seu irado pai, e a de Posídon, pai implacável de seu pai.
- Teseu, modere a sua ira - disse-lhe a deusa, surgindo diante do rei, após o terrível pedido que este endereçara ao deus dos mares.
- É você, deusa severa, que me vem aqui falar em moderação? - disse-lhe Teseu.
Mas Artemis, intransigente na defesa do amigo, não arredou pé.
- Vamos, Teseu, bem sabe que o seu filho é inocente.
Conduzindo, então, o rei até o espelho d'água do palácio, fez com que se desenrolassem ali as cenas da tragédia. Diante dos olhos estupefatos de Teseu surgiu uma nova Fedra, como ele nunca havia visto: a Fedra inquieta da procissão, a mulher desesperada no alto da sua torre desolada, os votos secretos de amor e o grande momento da sua declaração, quando seu seio desnudo agitava-se ao sabor de suas palavras ardentes.
- Hipólito, filho meu! - exclamou Teseu, cobrindo o rosto com as mãos.
- Acalme o seu coração e prepare-o para coisas ainda piores, pois o seu filho está à morte! - disse Artemis, mostrando a cena do confronto, que se desenrolava naquele instante, entre Hipólito e a terrível fera marinha.
O rei, descolando as mãos da face, mirou o espelho onde se desenrolava a cena mais cruel que seus olhos poderiam esperar um dia contemplar. Assistia, então, à cena da morte de seu próprio filho.
O carro de Hipólito avança rumo a arvore de galhos nus. Em seu delírio Hipólito enxerga nela o corpo de Fedra - uma Fedra deformada, de corpo nu e enrugado como a casca da velha árvore, agitando seus vários braços descarnados.
Fedra-árvore o chama, engelhada, com as mãos de galhos estendidas.
A rédea partida chicoteia o ar; Hipólito só tem nas mãos a outra, insuficiente para deter a marcha enlouquecida dos cavalos. O monstro o está quase alcançando. Suas vestes chamuscadas roçam por suas feridas abertas.
Então o carro conduzido por Hipólito ultrapassa a árvore fatal. Um dos galhos roça por seu rosto, porém sem feri-lo. Dir-se-ia que uma mão macia e quente deslizara por suas feições.
Mas logo em seguida aquela rédea solta que se agitava loucamente no ar prende-se - ou é segura? - por um dos galhos secos da árvore.
Um baque impressionantemente brusco faz com que Hipólito seja arrancado do comando da biga. Os cavalos, perdendo o passo bruscamente, enovelam suas patas umas nas outras, parecendo que uma força maléfica os tentava unir num único e monstruoso eqüino de mil patas desencontradas. A biga volta-se no ar e tomba sobre os animais, matando-os instantaneamente, enquanto que Hipólito tem seu corpo arrastado por vários metros sobre o solo pedregoso, repleto de pedras rudes e afiadas como navalhas. Hipólito ainda se volta, uma última vez, sobre a poeira e os detritos, deixando erguidos para o céu as suas feições marcadas e o seu corpo dilacerado.
Hipólito, filho de Teseu, que um dia seria rei, agora está morto.
Artemis, impotente para reverter um decreto mais forte que seu desejo, toma o corpo do amigo e o leva para Trezena. Ali, junto a um templo em homenagem a ela própria, Artemis, está colocado para sempre o túmulo do mortal Hipólito.

O deus Thor, filho de Odin, estava viajando rumo a Jotunheim, a terra dos Gigantes, junto com Loki e seu criado Thialfi, quando chegaram todos a uma grande floresta.
- Alto! - disse ele, erguendo o braço. - Vamos parar aqui e procurar um lugar protegido para passar a noite.
Cada qual seguiu para um lado até que Thor exclamou:
- Acho que encontrei um bom lugar!
Thor estava diante da entrada de uma imensa caverna; portando um archote, ele adentrou-a junto com os demais.
- É um lugar amplo e bem seco! - disse o servo Thialfi.
- Será que não é a toca de algum animal? - perguntou Loki.
- Vamos ver! - disse Thor, avançando mais para o interior.
Após investigar com cautela o local, perceberam que estava desabitado.
- Vejam! - exclamou Loki. - Há várias câmaras por aqui!
De fato, a caverna bifurcava-se em cinco câmaras amplas e separadas do tamanho de grandes salões.
- Vamos passar a noite nesta - disse o deus do trovão, acomodando-se junto com Loki e Thialfi na mais ampla das câmaras.
Os viajantes dormiram um bom pedaço da noite, quando, subitamente, foram despertados por um tremendo baque seguido de um ruído assustador, que lembrava o grito de mil ursos.
- O que foi isto? - exclamou Loki, pondo-se em pé.
Thor e Thialfi ficaram alertas, mas ao ruído seguiu-se um profundo silêncio. Então, todos voltaram a dormir e, como o ruído assustador não voltasse a acontecer, estiveram em paz o restante da noite.
Na manhã seguinte, saíram todos da caverna.
- Que ruído pavoroso terá sido aquele? - indagou Thialfi, que ainda estava intrigado com o incidente da noite.
- Esqueça - disse Thor -, florestas escuras como estas são pródigas em ruídos misteriosos.
Mas, o deus estava enganado, pois, logo adiante, deram de cara com um monstruoso gigante que, estirado na relva, ainda dormia profundamente.
- E esta agora? - disse Thialfi, amedrontado.
- Vamos embora, antes que ele acorde! - sussurrou Loki, dando as costas do gigante. Infelizmente, a orelha dele era tão grande, que captou o sussurro dos três e, logo, seus gigantescos olhos abriram, cobertos por remelas do tamanho de batatas fritas.
- Quem são vocês e o que fazem aqui? - gritou a criatura prodigiosa, erguendo-se com uma rapidez espantosa para alguém do seu tamanho e se pondo i procurar algo com grande avidez.
- Sou o poderoso Thor e venho com meus companheiros de Asgard no rumo de Jotunheim - disse o deus, empunhando por cautela o seu martelo Miollnir.
Mas o gigante continuava a andar de lá pra cá, sem dar muita atenção aos forasteiros até que, de repente, deu um grande grito:
- Ah, achei!...
Era a sua luva, que Thor e os demais haviam tomado por uma caverna. E a câmara, que todos haviam achado confortável e espaçosa, não era mais do que o polegar da luva!
- Sou Skrymir e vou indo também para Jotunheim - disse ele, enquanto ajeitava a luva. - Por que não vamos todos juntos?
Loki deu uma olhadela para Thor, mas este fez um sugestivo sinal com o martelo para que aceitassem o convite do gigante.
Após uma rápida refeição, seguiram em frente, tentando a muito custo acompanhar as enormes passadas do gigante, que andava adiante deles, balançando nas costas sua ruidosa mochila de provisões. Ao ver, entretanto, que os asgardianos também levavam algum mantimento, declarou com a mais cândida das vozes:
- Hum... vejo que vocês também têm o seu farnel! Partilhemos, então, como bons companheiros de viagem, as nossas provisões...!
Skrymir tomou as mochilas dos três e as introduziu dentro da sua e, com isto, estava feita a partilha.Assim, viajaram durante todo o dia com o gigante regalando-se de hora em hora, ao mesmo tempo em que os outros penavam sede e fome contínuas, até que o dia escureceu novamente e todos acomodaram-se sob uma grande árvore para descansar e passar a noite. O gigante, entretanto, antes de começar a roncar disse aos outros para que se servissem, livremente, dos mantimentos que havia em abundância na sua mochila, acrescentando cinicamente: "dormir de estômago vazio provoca pesadelos".
Não houve uma transição muito grande entre suas palavras e seu sono, pois antes que sua boca se fechasse novamente, fez-se ouvir por toda a floresta o som de seu poderoso ronco. Enquanto isso, Thor, tão faminto quanto os seus companheiros, tentava abrir a maldita mochila. Infelizmente, ela estava tão bem amarrada, que foi impossível desatar-lhe um único nó. Depois de lutar por um longo tempo com os nós cegos, Thor acabou por perder de vez a paciência e exclamou, irado:
- Definitivamente, este gigante sujo está debochando de nós!
O deus agarrou o seu martelo e avançou para o gigante, que permanecia adormecido, e desfechou um furioso golpe em sua testa. Um estrondo cavo ressoou por toda a floresta, como se um pavoroso trovão tivesse eclodido.
- O que houve? - disse Skrymir, abrindo um de seus olhos. - Oh, esta árvore deve estar cheia de ninhos de pássaros, pois acaba de cair uma pena de um filhotinho sobre a minha testa. - Depois, voltando-se para Thor e seus companheiros, perguntou: - Como é, já fizeram a refeição...? - Mas, antes que o deus pudesse responder - e certamente reclamar - Skrymir já havia adormecido outra vez.
Thor, inconformado com a desastrada tentativa, empunhou novamente o seu martelo e chegando ao pé do gigante desferiu-lhe novo golpe, agora, sobre o topo do crânio. Skrymir acordou e levando a mão à cabeça, resmungou:
- Diacho! Agora foi uma noz que caiu! - Em seguida, virou de lado e voltou a dormir, como se nada houvesse acontecido.
Loki e Thialfi observavam as infrutíferas tentativas de Thor sem nada dizer, temerosos de que a ira do deus acabasse por se voltar contra eles. Thor resolveu esperar que o dia começasse a amanhecer para tentar um último e definitivo golpe. "De manhã estarei descansado e, então, darei cabo deste miserável!", pensou, acomodando-se para dormir.
Tão logo o sol raiou, ele se pôs em pé, mais disposto, embora ainda esfomeado e percebendo que o gigante ainda dormia profundamente, tomou de seu martelo e aplicou-lhe um golpe tão violento, que o instrumento se enterrou até o cabo dentro da cabeça do desgraçado, que acordou com um grande bocejo.
- Ou estou muito enganado - disse ele, alisando os cabelos - ou algum passarinho largou uma titica sobre a minha cabeça! - Pondo-se em pé, Skrymir conclamou os demais para que também acordassem.
- Vamos, preguiçosos...! - disse ele, estendendo os braços e derrubando dezenas de árvores à direita e à esquerda. - O sol está alto e Jotunheim já está perto!
Já haviam começado a andar, quando Skrymir resolveu advertir-lhes:
- Preparem-se, pois lá encontrarão gigantes de verdade!
- Quê? - exclamou Thialfi, incrédulo. - São ainda maiores do que você?
- Maiores...? Você deve estar brincando! - disse o gigante, dando uma sonora gargalhada. - Meu nanico, logo vocês verão que eu não passo de um anão perto deles!
Andaram mais um pouco, até que chegaram a uma grande encruzilhada.
- Muito bem, aqui nos separamos - disse Skrymir abruptamente.
Os três entreolharam-se, surpresos, não sem uma ligeira e indisfarçada manifestação de alívio.
- Mas você não vai para Jotunheim? - perguntou Loki.
- Não, vou para o norte, mas vocês devem seguir a estrada que vai para leste. Dou-lhes, entretanto, o conselho para que evitem se mostrar arrogantes quando chegarem à terra dos gigantes, pois os habitantes do lugar, e em especial Utgardloki, não admitem que forasteiro algum demonstre presunção diante deles - ainda mais, umas formiguinhas feito vocês.
Antes que Thor pudesse responder, o gigante já estava tomando o seu rumo.
- Adeus, amigos! Foi um prazer viajar ao seu lado! - disse Skrymir, lançando para as costas a sua recheada mochila. Com duas ou três passadas, desapareceu pela floresta, deixando Thor e os outros a caminho do país dos gigantes.
***
Os três companheiros já haviam caminhado bastante desde a separação, quando avistaram uma cidade no fim de uma extensa e elevada planície.
- Vejam, lá está um grande palácio! - disse Loki, apontando para a construção, que mesmo de longe já era imensa.
Aquele era o castelo de Utgardloki, um dos reis de Jotunheim, o qual, embora o nome, não tinha parentesco algum com o acompanhante de Thor.
Na verdade, era um palácio tão alto que ao tentar avistar a mais alta de suas torres quase caíram todos de costas. Quando baixaram os olhos, novamente, deram-se conta de que os imensos portões estavam fechados.
- E agora, poderoso Thor? - disse o servo Thialfi, cocando a cabeça.
- Vamos tentar abri-los à força - disse o deus do trovão, apoiando as duas mãos na porta maciça, enquanto retesava os músculos das pernas para tentar entrar no palácio. Loki e o criado uniram-se aos esforços do deus, mas foi tudo em vão: as portas não moveram-se um único milímetro.
- Ufa!... - exclamou Loki, enxugando o suor da testa. - Por que não tentamos bater a aldrava?
De fato, havia uma gigantesca aldrava de bronze colocada no meio do portão, mas estava fora do alcance de qualquer um deles. Então, Thor, depois de estudar melhor a porta, descobriu que havia uma pequena fenda entre as duas pesadas folhas. Para os gigantes era uma fenda tão desprezível que seus olhos não podiam nem percebê-la, mas, para os visitantes, era uma passagem perfeitamente possível de ser atravessada - desde, é claro, que não se importassem em se espremer um pouquinho.
- Vamos entrar neste palácio nem que seja a última coisa que eu faça! - exclamou Thor, que possuía em grau admirável a virtude da persistência.
Thor se espremeu, então, até conseguir ultrapassar a estreitíssima fenda, sendo seguido imediatamente pelos dois companheiros.
- Ótimo! - exclamou Loki. - Já estamos dentro!
- Chhh! - fez Thor. - Temos de pegá-los de surpresa, senão nos expulsarão daqui antes mesmo que estejamos em seu salão. Ou esqueceu que deuses e gigantes são inimigos implacáveis?
Os três foram avançando, assim, pé ante pé, enquanto vozes retumbantes ecoavam pelos corredores. Por diversas vezes cruzaram com sentinelas postados à margem dos vastíssimos corredores, mas eles eram tão imensos em comparação com os intrusos, que, a menos que tivessem olhos nas canelas, jamais teriam sido capazes de percebê-los.
- É ali o salão dos gigantes! - disse Thor aos demais.
Tomando a dianteira, o deus escalou um pequeno banquinho e se fez anunciar dali com sua portentosa voz, que, no entanto, diante do vozerio assumiu as proporções diminutas do zumbido de um mosquitinho.
Loki, sempre apreciador do ridículo, seja humano ou divino, fazia um grande esforço para controlar o seu riso, enquanto que o criado Thialfi fingia ter perdido algo pelo chão. Tomando, então, Miollnir, o seu poderoso martelo, Thor começou a malhar o banco onde estava até fazê-lo em pedaços.
- Atenção, todos! Sou Thor e vim aqui para desafiá-los!
Algumas cabeçorras, atraídas pelo ruído do martelo, voltaram-se para a direção de onde provinha aquele minúsculo, mas agora nítido ruído. Ao avistar Thor, entretanto, puseram-se a rir, deliciados, apontando para os visitantes dedos enormes como toras de carvalho desprovidas de ramos.
- Oh, então, você é Thor, o famoso deus do trovão? - exclamou uma voz, postada na ponta da grande mesa onde estavam assentados os gigantes. Ela pertencia a Utgardloki, o maioral do lugar.
- Sim, é Thor, o matador de gigantes, quem está à sua frente! - esbravejou o deus num assomo verdadeiramente admirável de audácia.
- Oh, longe de nós querermos pôr à prova a veracidade de suas palavras - disse o líder dos gigantes, descobrindo os dentes num ar de evidente deboche, embora, interiormente, tivesse dúvidas se não seria mais prudente evitar um confronto com o famoso deus (vai que era mesmo verdade o que diziam de sua força...!).
- Muito bem, forasteiros, aproximem-se - disse Utgardloki, fingindo-se bom anfitrião. - Há sempre lugar à minha mesa para mais três bocas!
"Ainda mais deste tamanhinho!", disse ele à boca pequena (por assim dizer) aos seus vizinhos de mesa, que imediatamente caíram na gargalhada.
- Mas, para que desfrutem de minha generosa hospitalidade - continuou a dizer Utgardloki em tom grandiloqüente -, terão os três de nos brindar com algum prodígio de força ou habilidade!
Loki, que não estava para muitas conversas, e sentia dentro do estômago um buraco do tamanho daquelas criaturas, adiantou-se e disse:
- Quanto a mim, o único prodígio do qual me sinto capaz, neste instante, é o de comer mais do que qualquer um de vocês!
- Muito bem, está aceito o desafio! - disse um deles, erguendo-se no mesmo instante. Era Logi, um dos gigantes mais fortes - e seguramente mais esfomeado - de todo o bando. - Vamos começar o desafio imediatamente!
Loki sentou-se em frente ao gigantesco Logi e, logo, travessas imensas de carne foram postas diante dos dois. Para Loki, a carne foi servida sob a forma de pernis, enquanto, para o gigante, foram servidos bois inteiros.
Dado o sinal, os dois competidores arreganharam os dentes e lançaram-se às suas porções com terrível voracidade. Loki fez jus à sua fama de voraz comilão, tendo esvaziado a sua travessa no mesmo espaço de tempo que o adversário. Só que este, como a perfeita personificação da Fome, não só devorara a sua porção como também os ossos e a travessa, o que lhe valeu a vitória.
- Muito bem, agora é a sua vez, nanico! - disse Utgardloki a Thialfi, que aguardava em suspense a sua vez de provar o seu valor.
- Bem, se eu tenho alguma virtude, senhor gigante - foi dizendo o criado de Thor - é a de ser o mais veloz dos mortais. Por isto, desafio qualquer um dos presentes a me vencer numa corrida.
Hugi, o mais veloz dos gigantes ali presentes, bradou da outra ponta da mesa:
- Vamos, saiam da frente, que esta é comigo!
Thialfi voltou o rosto, rapidamente, em direção ao distante local de onde a voz soara, mas antes que seu eco tivesse terminado, ele já estava diante dele.
- Então, nanico, está pronto? - disse Hugi, com um sorriso superior.
O rei ergueu-se e foram todos para uma pista que havia no lado de fora do castelo. Os dois, Thialfi e Hugi, foram colocados lado a lado, até que Utgardloki concluiu, a seu modo, a contagem regressiva:
- Dez! nove! oito! sete! quatro! seis!... Dez! nove! oito! cinco! dois!... Dez! nove! sete! seis! meia dúzia!... Ora, inferno, partam de uma vez!
Os pés de ambos começaram a correr com tal agilidade, que ficou muito difícil observá-los. Mas, com um esforço maior podia-se divisar as pernas de Thialfi, as quais alternavam-se com tamanha rapidez que pareciam imóveis.
De repente, entretanto, percebeu-se num pasmo, que Hugi já estava voltando!
De fato, o gigante fora tão rápido, que chegara ao fim da pista e retornava agora, cruzando por Thialfi, com uma grande risada. E, antes que o pobre Thialfi conseguisse completar o trajeto, o gigante voltou e venceu-o pela segunda vez.
Com Thialfi derrotado, chegara a vez de Thor enfrentar o desafio. Como estivesse muito sedento, propôs aos gigantes uma disputa de bebida.
- Tragam-me o maior chifre que houver, repleto de hidromel e beberei tudo de um único gole! - disse o deus, confiante em seu fôlego prodigioso. Utgardloki trouxe um chifre verdadeiramente imenso - tão imenso, que não se podia enxergar a sua extremidade - e o colocou diante de Thor.
- Pronto, aqui está, falastrão! - disse ele. - Se for mesmo forte, beberá seu conteúdo de um só trago. Se não for tão resistente assim, precisará de dois grandes tragos. Agora, se for um maricas, então, terá de dar três longos goles. Mas, não creio que tal aconteça, pois nunca ninguém tão fraco assim se apresentou por aqui! - acrescentou o gigante, empinando logo o chifre.
Thor encheu os pulmões de ar e colou a boca ao bocal, puxando todo o conteúdo do gigantesco chifre. Suas bochechas ficaram infladas e lustrosas, mas tão logo engoliu aquele grande trago, percebeu que ainda havia muito para ser engolido. Na verdade, a marca que indicava a quantidade existente dentro do recipiente mal se movera. Derrotado na primeira tentativa, Thor tomou novo fôlego e puxou nova e assustadora quantidade para dentro da boca, que quase estourou de tanto líquido. Mas, foi em vão: a marca permanecia praticamente inalterada. Os gigantes entreolhavam-se com risos e caretas.
- Não quer tentar uma última vez? - disse Utgardloki ao pé do ouvido de Thor.
Enchendo os pulmões de ar, o deus sorveu um último e prodigioso gole, a ponto de o hidromel escorrer-lhe pelas barbas numa verdadeira cachoeira.
- Desisto! - disse Thor, sabendo que nem em mil goles conseguiria beber todo o conteúdo.
- Que pena! - exclamou Utgardloki, falsamente condoído. - Pensei que o poderoso deus fosse um pouquinho mais resistente! Mas, como você é uma divindade muito respeitada, vou dar-lhe uma nova chance em um novo desafio! - disse Utgardloki, fazendo sinal para que trouxessem o seu grande gato cinzento.
- Temos aqui uma nova competição da qual participam somente as crianças: consiste apenas em levantar do chão meu gato de estimação. É lógico que eu não teria me atrevido a propor tal brincadeira ao grande Thor seja não tivesse comprovado a sua lamentável fraqueza!
O magnífico gato, apesar de também ser gigantesco, não parecia, de fato, representar um desafio acima das forças de Thor. Por isso, o deus acolheu o desafio com um sorriso de alívio.
Thor aproximou-se do bichano, dizendo: "Aqui, Mimi, aqui!" O gato aproximou-se de mansinho com suas patas branquinhas da cor da neve e ronronou suavemente. Então, o deus envolveu o gato em seus poderosos braços e começou a suspendê-lo - ou a imaginar que o suspendia, pois na verdade o gato apenas esticara um pouco as suas pernas para dar a impressão de que cedia aos esforços do deus.
- Está difícil, deus do trovão? - disse o gigante, escarnecendo.
Todos os demais riam fungado, fazendo coro com o rei, inclusive, o gato, que parecia ter na boca ornada por elegantes bigodes um sorriso sutil de ironia.
Por mais que Thor forcejasse, nada conseguiu, além de fazer o gato erguer uma de suas patas brancas, o que pareceu, por fim, mais uma condescendência do bichano do que qualquer mérito seu.
- É fracote mesmo! - disse um dos gigantes, dobrando-se de tanto riso.
Utgardloki balançava a cabeça numa fingida desolação.
Thor, entretanto, tornara-se a tal ponto irado por causa de tantas humilhações, que resolveu lançar um último desafio aos atrevidos gigantes.
- Está bem, sou pequeno - disse o deus, espumando de raiva -, mas quero ver qual de vocês está disposto a lutar comigo!
- Meu amigo - disse Utgardloki, olhando para os homens sentados nos bancos -, aqui os fortes só brigam com os fortes. No entanto, conheço alguém a quem talvez você possa fazer frente. Chamem Elli, a minha velha ama - disse o rei a um lacaio.
Dali a instantes entrou no salão uma velha de cabelos ralos e brancos, que endereçou a Utgardloki um sorriso deserto de dentes.
- Velha Elli, aí está um desaforado que diz poder derrotá-la! - disse o gigante à velhota, que, no mesmo instante, começou a arregaçar as saias, preparando-se para o embate. - Mostre a ele quem é o mais forte por aqui!
O deus e a velha postaram-se no centro do salão e a um sinal do gigante a luta começou. Thor arremessou-se à adversária com certa cautela, pois não pretendia maltratar aquela velha centenária. Mas, ela não era nada daquilo que aparentava, e dando um pulo para o lado, que fez inveja ao próprio gato, esquivou-se do ataque e veio postar-se às costas de Thor. Em seguida, aplicou uma valente chave em um dos braços do adversário com tal força, que Thor viu-se obrigado a se ajoelhar e a reconhecer a derrota.
Com isto, encerraram-se as disputas. Thor e seus humilhados companheiros receberam um leito cada qual para descansar antes de partir na manhã seguinte. Tão logo os primeiros raios do sol surgiram no horizonte, já estavam os três prontos para ir embora daquela terra infamante. Utgardloki mandou que lhes servissem uma mesa repleta de iguarias e bebidas. Depois, acompanhou-os até a porta da cidade, e, antes que partissem, perguntou:
- E, então, Thor, gostou da viagem e da hospitalidade?
- Se lhe agrada saber, direi que nunca fui tão humilhado em toda a minha vida! - disse o deus, cabisbaixo, louco para ganhar a estrada.
- Bem, agora já pode se acalmar - disse Utgardloki, tão logo haviam transposto os portões do palácio. - Agora, que você está fora da cidade posso lhe contar o que, verdadeiramente, ocorreu.
Os três entreolharam-se, sem nada entender.
- Palavra de honra, se soubesse que possuía uma força tão descomunal e companheiros tão extraordinariamente competentes jamais teria permitido que aqui entrassem. Na verdade, iludi-os o tempo todo com minhas artimanhas. Primeiro, na floresta, onde amarrei a mochila com arame para que não pudesse desamarr
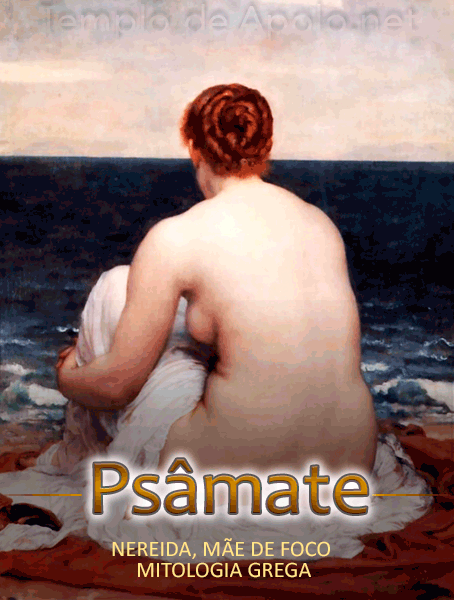

Os Gregos e os Troianos não montavam cavalos de guerra durante as batalhas; o combate prolongado corpo a corpo sobre um cavalo esteve dependente da invenção do estribo, o que viria a ser introduzido na Grécia séculos depois da era clássica. Os pobres combatiam a pé, enquanto os ricos e poderosos possuíam carros puxados por cavalos. Cada carro tinha um guerreiro e um condutor, e no campo de batalha o guerreiro tanto podia combater do carro como saltar para o chão e lutar corpo a corpo. O Cavalo de Tróia, não era, portanto, uma representação gigantesca de um cavalo de batalha como os dos cavaleiros do Rei Artur devem ter utilizado. Provavelmente deriva dos engenhos de artilharia como
os usados pelos Gregos da antiguidade que eram torres móveis cheias de homens armados.