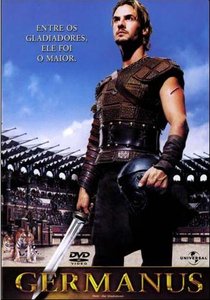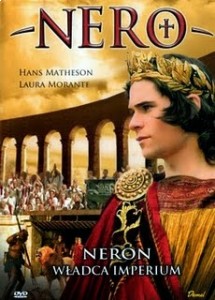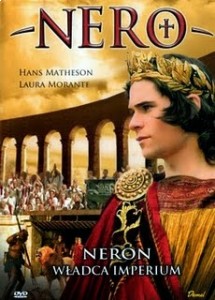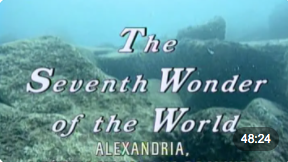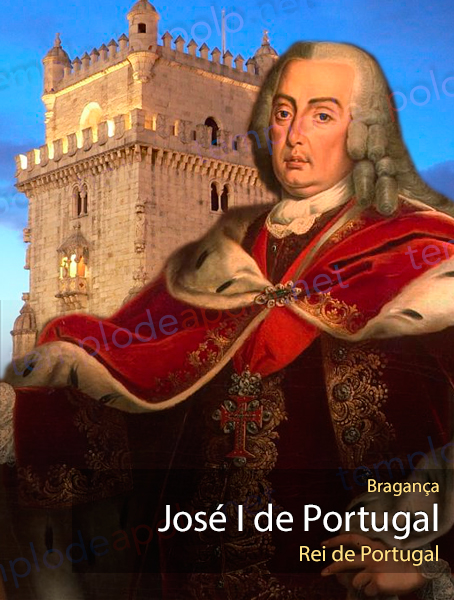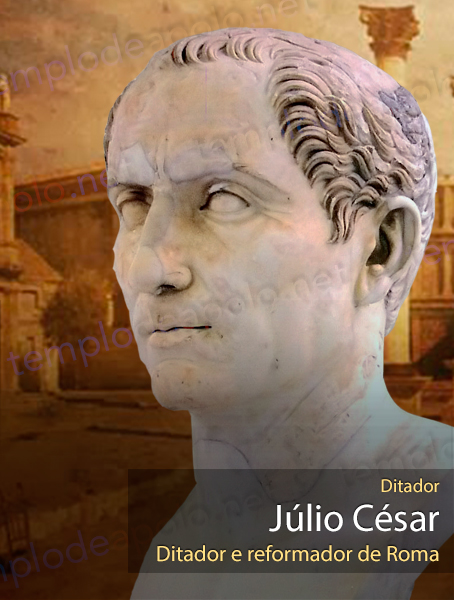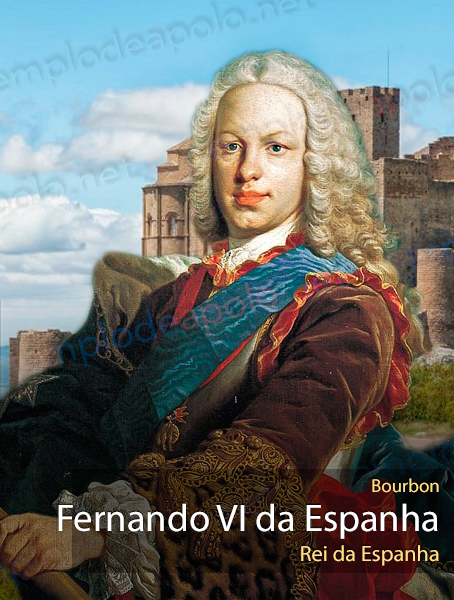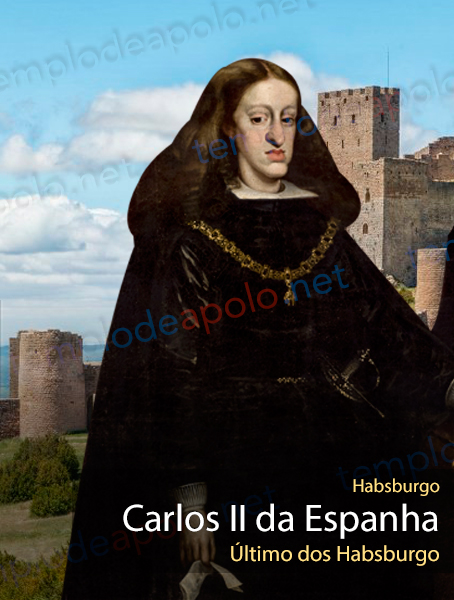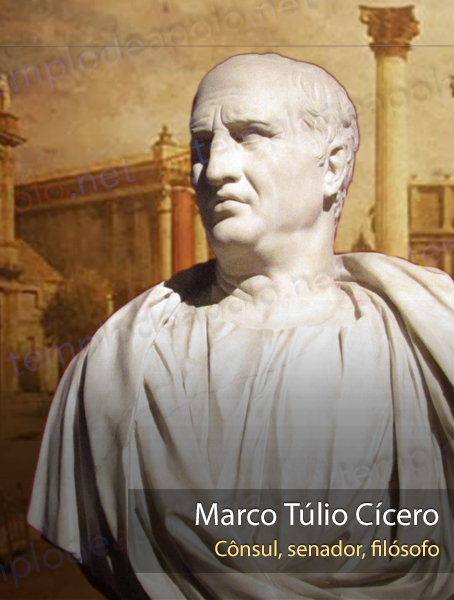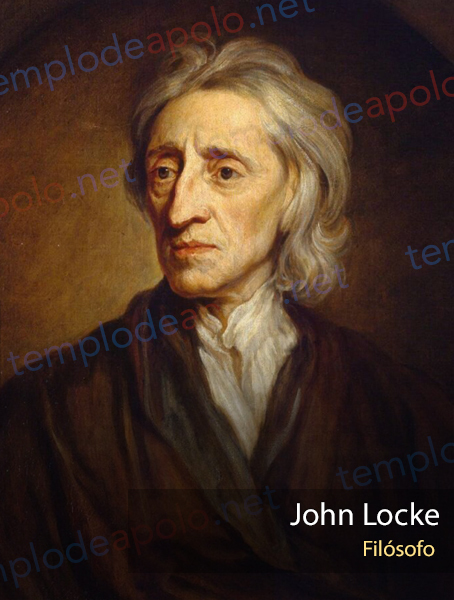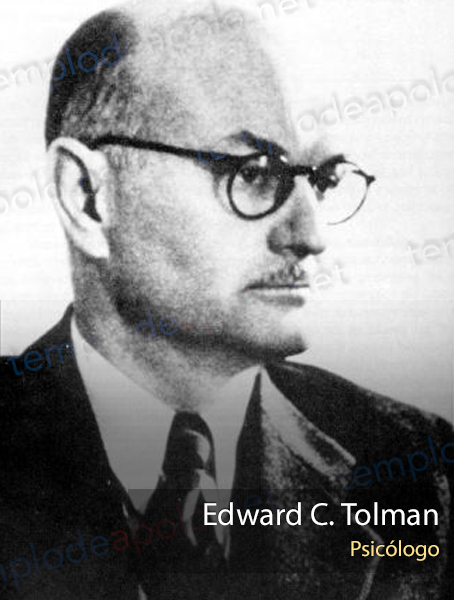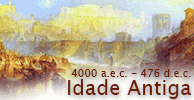





Organizada de forma piramidal, no topo da hierarquia social egípcia destacava-se o faraó. Tido como o soberano todo poderoso era considerado um deus vivo, filho de Amon-Rá, o deus-sol, e a encarnação de Hórus, o deus-falcão. Dessa forma, além de se fazer intermediário entre os deuses e os homens, sua figura sagrada também era objeto de culto. Como tal, em seu governo teocrático [sistema em que a autoridade política é exercida por pessoas que se consideram re presentantes de Deus na Terra), ele tinha autoridade absoluta, já que concentrava poderes administrativos, militares e religiosos, embora os delegasse para não se sobrecarregar. De acordo com essa hierarquia, no degrau abaixo da pirâmide social dos dominantes, destacavam-se os nobres, representados pelos familiares do faraó, altos funcionários do palácio, oficiais superiores do exército e chefes administrativos. Normalmente, eles ocupavam cargos de sacerdotes e nomarcas ou eram grandes proprietários de terras, isso quando não ocupavam os principais postos do exército.
Entre os nobres, os sacerdotes que na escala de poder ficavam somente abaixo do faraó, presidiam as cerimônias, conheciam as características e funções dos deuses, transmitiam as respostas das divindades às perguntas dos dominantes, comandavam os rituais após a morte do rei e, além de serem dispensados do pagamento de impostos, mesmo sendo proprietários de terras, ainda se enriqueciam com as oferendas feitas aos deuses. Consequentemente, a função sacerdotal era lucrativa e honrosa, por isso muito insistiam com a hereditariedade do cargo. Em seguida, vinham os chefes militares. Responsáveis pela segurança do território egípcio tinham que preparar e organizar o exército de forma eficiente, pois uma derrota ou fracasso podia lhes custar a própria vida. Mas, em momentos de guerra, sempre ganhavam destaque. Depois surgiam os escribas. Responsáveis pela escrita egípcia (hieroglífica e demótica), eles registrarem os acontecimentos, principalmente sobre a vida do faraó, em papiros, paredes de pirâmides e em placas de barro ou pedra, mas também eram encarregados da cobrança de impostos, da organização escrita das leis, dos decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral. [53]
Costumeiramente, a classe mais elevada dos dominantes usava perucas de fibra de papiro (planta perene da família das ciperáceas, abundante as margens do rio Nilo] para se proteger do sol e tinta preta, à base de antimônio, ao redor dos olhos para diminuir o excesso de luminosidade e se prevenir contra oftalmias. Os sacerdotes ainda raspavam a cabeça e os demais pelos do corpo, tanto para manter a higienização durante as oferendas feitas nos templos quanto para se livrar dos piolhos e outros parasitas que proliferavam e infestavam o Egito.
Já a classe dos dominados congregava soldados, artesãos, camponeses e escravos. Os soldados nunca podiam atingir o posto de comando, que era reservado exclusivamente aos nobres. Eles viviam graças aos produtos que recebiam pelos serviços prestados e de saques realizados durante as guerras. Por sua vez, os artesãos dedicavam-se as mais diversas profissões. Eram pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives, entre outros. Quando contratados por empreiteiros para exercerem suas atividades em grandes obras públicas, em troca do trabalho prestado, recebiam apenas alimentos.
Já os camponeses formavam a maioria do povo. Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes e, apesar de terem o direito de conservar uma pequena parte dos produtos colhidos, viviam submetidos a uma violenta repressão por parte da camada dominante, que os ameaçava constantemente com exércitos profissionais, para forçá-los a pagar impostos. Muitas vezes, principalmente nos períodos de cheia do rio Nilo, eles também eram convocados para trabalhar nas obras faraônicas. Por último, na escala hierárquica da sociedade egípcia, surgiam os escravos. Normalmente provenientes da dominação de outros povos durante campanhas militares ou levados a essa condição devido às dívidas, eles faziam serviços domésticos, trabalhavam nas pedreiras e nas minas, sem receber nada pelos serviços prestados.[54]
Quanto às mulheres, desde os tempos mais antigos, elas detinham um lugar na sociedade. Caso o marido morresse, elas assumiam a chefia da família, inclusive nas classes mais altas, nas quais chegavam a tratar de assuntos de estados. Também podiam ser sacerdotisas nos templos. Mas se traíssem o esposo, era normal serem assassinadas. No entanto, o homem, inclusive o faraó, podia ter mais de uma mulher e, mesmo assim, ainda lhe era permitido ter amantes em sua própria casa. Além disso, como a linhagem de poder do topo da pirâmide era repassada pela mulher, caso ela tivesse filhos homens, um deles (usualmente o mais velho) seria o novo faraó. Porém, se ela só tivesse filhas, após aprovação sacerdotal, o indivíduo que se casasse com a mais velha assumia o trono e se tornava o eleito dos deuses para exercer o reinado. Mas em virtude da política e dos jogos de interesses vigentes, por vezes, as mulheres ainda se casavam com seus próprios irmãos, para legitimá-los no trono, sem que isso configurasse incesto.
A vida no palácio dos faraós
Segundo Olavo Leonel Ferreira em "Egito: terra dos faraós" (pp. 27-28), "os faraós e sua família viviam em meio a tal luxo e conforto, que mesmo hoje causa admiração. Os palácios eram equipados com móveis de cedro, revestidos às vezes de ouro e de marfim, os utensílios de uso diário eram também de qualidade superior, demonstrando a riqueza daqueles que possuíam, bem como a habilidade e a perícia dos artesãos que os fabricavam. A presença de uma legião de servidores, criados, músicos, cantores, dançarinas e copeiros colaborava ainda mais para tornar confortável a vida diária dos governantes do país. As caçadas e pescarias freqüentes, a prática de jogos diversos contribuía, também, para que fosse agradável o dia a dia dos 'deuses vivos' que governavam o Egito e daqueles que com eles conviviam (...). Os faraós egípcios casavam-se frequentemente com pessoas da própria família, muitas vezes com as próprias irmãs. Os casamentos consanguíneos tinham como motivo a preocupação em manter a pureza do sangue real. Muitos faraós mantinham mais de uma esposa, como resultado, seu número de filhos podia chegar a dezenas. Ramsés II, por exemplo, teve mais de 160."
A economia
De acordo com a organização social, em território egípcio instalou-se o chamado modo de produção asiático, em que todas as terras pertenciam ao Estado que, por sua vez, intervinha na economia, controlando a produção, recrutando mão-de-obra e cobrando impostos. Dessa forma, os camponeses tinham o direito de cultivar o solo desde que pagassem um imposto coletivo. Como eles plantavam trigo, cevada, frutas, legumes, linho e algodão, esse imposto era pago em espécimes que ficavam estocados nos armazéns reais. Em conseqüência, todos eram obrigados a trabalhar para sustentar o faraó. Mas, além da agricultura, [55] ainda havia a criação de animais, a indústria artesanal de tecidos e de vidro, a cerâmica, o comércio externo, o forjamento de cobre e ouro, a construção de barcos e a produção de armas. Porém, como os egípcios não conheciam o dinheiro, todo o comércio funcionava a base de trocas, prática que se tornou mais intensa no Novo Império, quando as importações e exportações se intensificaram, favorecendo os contatos com a ilha de Creta, Palestina, Fenícia e Síria, de onde era trazido marfim, peles de animais, perfumes e outros utensílios usados pelos ricos. Os lucros obtidos com o comércio ainda ajudavam a pagar a construção das pirâmides.
Com as construções das pirâmides, se durante as cheias do Nilo, os egípcios faziam as pedras flutuar até a orla do deserto, em outros períodos, eles as transportavam em navio, construídos com madeira do Líbano. Conforme consta em diversos papiros, esses navios contavam com grandes remos, presos à popa. Posteriormente, os egípcios também foram os primeiros a usar velas. Mas para atravessar o Nilo, pescar e caçar, os homens comuns utilizavam barcos de junco. Os cavalos só passaram a ser criados e usados no transporte, após a invasão dos hicsos em 1750 a.e.c., que os utilizaram contra os exércitos egípcios, que copiou a estratégia em guerras posteriores. [56]
A escrita hieroglífica
Constitui provavelmente o mais antigo sistema organizado de escrita do planeta e apenas os sacerdotes, membros da realeza, funcionários de altos cargos e escribas conheciam a arte de ler e escrever esses sinais "sagrados". Utilizada em inscrições formais nas paredes de templos e túmulos, com o tempo evoluiu para formas mais simplificadas, como o hierático, uma variante mais cursiva que se podia pintar em papiros ou placas de barro. Mais tarde, com a influência grega, os hieróglifos adquiriram ares demóticos, fase em que os sinais iniciais se tornaram bastante estilizados e ainda ganharam a inclusão de alguns símbolos gregos. Apesar desses aspectos, durante quase 4 mil anos, os hieróglifos que perfaziam um total de cerca de 6.900 sinais, reinaram soberanos a sombra dos faraós.
Entretanto, no século IV, devido ao cristianismo que se expandia, os escribas foram desaparecendo com o que ainda restava da velha cultura egípcia, levando consigo as chaves que decifravam a escritura sagrada. Em conseqüência, por muito tempo, afirmou-se que os hieróglifos eram uma esfinge que nunca seria decifrada.Também nas primeiras dinastias, um texto não continha mais do que 700 sinais, mas no final dessa civilização já eram usados milhares de hieróglifos, o que complicava muito a leitura e tornava impraticável o uso constante dos sinais.
Por volta de 1600 e.c., o jesuíta alemão Athanasius Kircher tentou de cifrar os hieróglifos, porém teve que desistir diante da complexidade dos sinais que, por milhares de anos, isoladamente representavam um objeto único. Entre esses sinais, havia partes do corpo humano, plantas, animais, edifícios, barcos, utensílios de trabalho, profissões, armas, etc. Embora tenham sido substituídos gradativamente por figuras mais simplificadas ou por símbolos gráficos, apenas no século XVIII, Jean-François Chapollion (1790-1832), professor francês, lhes deu um significado inteligível. Se inicialmente, Champollion estava convencido de que os hieróglifos eram puramente simbólicos, sem qualquer valor fonético, togo ele concluiu que o cóptico, a língua falada pelos cristãos egípcios ainda existentes, correspondia ao último estágio da antiga língua egípcia e essa foi a sua grande vantagem sobre o médico inglês Thomas Young, que também investigava o significado dos sinais, embora com menos sucesso. No entanto, após estudar várias inscrições hieroglíficas que continham nomes reais, tais como as do obelisco de Bankes e as da Pedra de Roseta, finalmente ele descobriu que muitos tinham um efeito fonético comum aos ideogramas. Contudo, o estudo da antiga língua egípcia, vinculada nos hieróglifos, avançou de forma concreta somente durante o século XX, a partir do trabalho de linguistas como Sir Alan Gardiner e Hans Jacob Polotski, que permitiu uma melhor compreensão da gramática e do sistema verbal da civilização egípcia.
Atualmente sabemos que as inscrições hieroglíficas existem desde antes de 3000 a.e.c. Mas é possível que a última tenha sido feita sobre uma pedra descoberta na Ilha de Philae - que fica próxima à primeira catarata do Nilo e antigamente era chamada de Pilak -, cuja data [57] aproximada é de 394 e.c.. De forma bem resumida, nesse sistema de escrita, para representar sentimentos como ódio e amor ou ações como amar e sofrer, os egípcios desenhavam objetos, cujas palavras que os designavam, tinham sons semelhantes aos das palavras que os hieróglifos se referiam concretamente, com um sinal vertical ao lado de cada figura. Ao se referirem a algo abstrato, acrescentavam aos sinais o desenho um rolo de papiro. Caso os hieróglifos correspondessem à determinada pessoa, eles traziam a imagem de uma figura feminina ou masculina, com um pequeno sol. O sistema que por si só é bem complicado, ainda apresenta outra característica complexa: os hieróglifos podiam ser escritos da direita para a esquerda ou vice-versa e, nesse caso, o sentido dos mesmos dependia da direção dos olhos das figuras humanas ou dos pássaros representados a lado deles.
A arte
A arte no Antigo Egito tinha objetivos políticos e religiosos. Robusta, sólida e solene, de modo geral, ela se manteve homogênea durante as diversas dinastias, embora haja algumas nuances no seu eixo estruturador, em grande parte, devido à sucessão de acontecimentos históricos. Dessa maneira, além de representar, exaltar e homenagear constantemente o faraó e as diversas divindades egípcias, ela ainda era aplicada em peças ou espaços relacionados ao culto dos mortos, porque a transição da vida à morte era compreendida de forma antecipada e preparada como uma passagem suprema. Logo, todas as suas representações estão repletas de significados que caracterizam figuras, estabelecem níveis hierárquicos e descrevem situações.
A simbologia em si ainda estruturava, simplificava e clarificava a mensagem transmitida, criando um forte sentido de ordem e racionalidade extremamente importantes. A hierarquia social e religiosa, por exemplo, traduzia-se artisticamente na atribuição de diferentes tamanhos aos vários personagens, de acordo com sua importância. Portanto, o faraó sempre era a maior figura numa representação bidimensional. Essa harmonia e equilíbrio tinham que ser mantidos, porque qualquer [58] perturbação implicaria em um distúrbio pós-morte. Esse objetivo também era atingido com linhas simples, formas estilizadas, níveis retilíneos de estruturação de espaços, cores uniformes que transmitem limpidez e às quais se atribuem significados próprios.
Embora muito estilizada, a arte egípcia tinha um pormenor realista, que tentava apresentar o aspecto mais revelador de determinada entidade. Ainda que, com restritos ângulos de visão, tal estilo tem um forte componente de estática, que apresenta uma imobilidade solene. Por conseguinte, diante de tais representações são só possíveis três pontos de vista pela parte do observador: de frente, de perfil e de cima. Por isso, as imagens do corpo humano, especialmente a de figuras [59] importantes, eram sempre representadas a partir de dois pontos de vista simultâneos, que oferecem maior informação e favorecem a dignidade da personagem: os olhos, os ombros e o peito representam-se vistos de frente; a cabeça e as pernas representam-se vistos de lado.
As cores utilizadas não cumpriam apenas a função decorativa. Nelas também havia um simbolismo intríseco. O preto usado nas sobrancelhas, perucas, olhos e bocas estava associado à noite e à morte, mas ainda poderia representar a fertilidade, a regeneração ou as inundações anuais do Nilo, que traziam a terra que fertilizava o solo [por esta razão, os Egípcios chamavam de Khemet, "A Negra", à sua terra). Osíris, muitas vezes, foi representado com a pele negra, assim como a rainha deificada Ahmés-Nefertari. O branco era a cor da pureza e da verdade. Como tal era utilizado nas vestes dos sacerdotes, nos objetos rituais, nas casas, nas flores e nos templos. O vermelho tinha um significado ambivalente, se por um lado representava a energia, o poder e a sexualidade, por outro lado estava associado ao maléfico deus Set, cujos olhos e cabelo eram pintados de vermelho, e ao deserto, local que os egípcios evitavam. O amarelo, devido ao Sol e ao ouro, era a cor da eternidade, tanto que as estátuas dos deuses, assim como os objetos funerários do faraó, incluindo a máscaras, eram feitos com esse metal. O verde simbolizava a regeneração e a vida. Muitas vezes, Osíris tinha a pele pintada com essa cor. Por fim, o azul aparecia associado ao rio Nilo e ao céu. No entanto, em virtude das poucas inovações, também é quase certo que o estilo de arte dos egípcios, seguia rígidos cânones e normas, que os artistas deveriam obedecer e que, de certo modo, impuseram barreiras ao espírito criativo individual.
Todas essas características ainda se refletiram na produção de esculturas e na confecção de joias. Mas se as estátuas de grandes dimensões se associavam à arquitetura, as pequenas representações de deuses e faraós, como também de animais, primavam pelo relevo descritivo (hieróglifos) e pelo busto. Ambas se destacavam nos templos e monumentos, principalmente, nos funerários. Já a joalheria, que apresentava grande qualidade, se evidenciava nos objetos do cotidiano e no mobiliário requintado adotado pelas classes dominantes. As peças, geralmente em ouro, eram adornadas com gemas e símbolos, entre os quais escaravelho, nó de ísis, olho de Hórus, esfinge, entre outros de grande significado simbólico. [60]
A arquitetura
As pirâmides, inquestionavelmente, representam a expressão máxima da arquitetura egípcia. Segundo a crença desse povo, como a terra dos mortos ficava no oeste, lugar onde o sol se põe, as pirâmides deveriam estar alinhadas com a estrela polar do norte. Os sacerdotes, encarregados desse trabalho, demarcavam os pontos do nascimento e do acaso da estrela, estabeleciam o norte com exatidão e escolhiam os funcionários para trabalhar na pirâmide. Em cada dez homens, um sempre era convocado. Havia fiscais, operários que trabalhavam com metais, pedreiros, carpinteiros, além dos pintores e escultores, que decoravam templos. Em conjunto, eles arrastavam enormes blocos de pedra, que chegavam a pesar 3 toneladas cada um. Para cortarem as pedras, esses abriam uma fenda estreita com cunhas de madeira que, ao serem fixadas com um macete, eram encharcadas com água, que dilatavam a madeira e separavam a rocha. Durante a construção em si, os egípcios erguiam uma rampa e arrastavam os blocos de pedra para cima em trenós.
Algumas das ruínas de construções inacabadas mostram rampas construídas em direção reta. Mas de acordo com a necessidade da construção, ela podia ser mais longa e mais alta. Ao mesmo tempo, eles edificavam o templo mortuário, encostado à pirâmide. Porém, conforme as paredes de ambos iam sendo erguidas, os operários enchiam o interior dos mesmos com areia para que os blocos ficassem bem assentados. Depois que tudo estava pronto, a areia era removida gradativamente, porque os entalhadores e pintores ainda a usavam como se fosse uma espécie de andaime. Entre uma série de suposições, a mais aceita é que tais edificações foram construídas com calcário, extraído do próprio local. [61] Mas em meio às construções, as colunas de pedra merecem um destaque especial. Se antigamente elas seguravam os telhados dos templos e colunatas, hoje, conforme o formato do seu capitel é possível estimar a data da construção. A forma palmiforme (inspirada nas palmeiras] surge no Antigo Império e vai passando por transições até chegar ao pilar e depois à coluna. As papiriformes ou flores de papiro tinham seu corpo fasciculado em arestas, mas quando apresentavam às umbrelas abertas, o capitel passava ser chamado de campaniforme.
As lotiformes apresentavam ramos de lótus com corolas fechadas e no corpo reproduções de caules atados por um laço. Também eram construídas estátuas do rei que, por sua vez, eram colocadas no vale ou nos templos mortuários. Na seqüência, eles construíam separadamente a pirâmide da rainha que sempre era bem menor que a do seu rei. Depois que a pirâmide alcançava a altura desejada, os trabalhadores ainda colocavam as pedras de revestimento, cujos encaixes eram tão perfeitos que não passava nem uma lâmina de faca entre eles. Por fim, davam o polimento final, com calcário branco vindo da Turá. Atualmente, a pirâmide de Quéfren é a única que ainda tem no seu topo parte desse revestimento.
Considerando que, de acordo com a lenda da criação do mundo, como outrora tudo era água até que surgiu uma colina, na qual o deus-sol ficou em pé para criar o mundo, a pirâmide provavelmente simbolizava tanto a primeira colina da terra, que seria a pedra consagrada a Rá, quanto uma rampa para o céu.
Entretanto nem a morte do faraó punha no fim no trabalho. Quando o rei morria, os homens ainda tinham que enterrar, perto de sua pirâmide, o barco que ele utilizava em vida (Um dos maiores barcos encontrados no Egito, pertenceu ao rei Quéops. Descoberto ao lado de sua pirâmide, em bom estado de conservação, hoje ele está exposto no museu de Gizé, embora haja outro que ainda se encontra sob as areais do local), lacrar a entrada do túmulo para toda a eternidade e construir um poço que serviria como obstáculo para ladrões e curiosos.
Posteriormente, quando os faraós passaram a construir seus túmulos no Vale dos Reis, eles começaram a recrutar somente os habitantes do povoado de Deir el-Medina, que ficava na margem ocidental de Tebas, para fazer as construções, acima do povoado, nos rochedos locais. Nessa época, os túmulos variavam em tamanho e traçado, mas todos tinham uma minipirâmide esculpida em cima do seu telhado.
Curiosamente, a preocupação com a vida após a morte explica por que a maioria das casas e palácios não resistiu aos 3 mil anos de história egípcia, já que só restam ruínas dos templos, tumbas e pirâmides. As moradias comuns eram feitas em tijolos muito frágeis, porém na construção da casa dos mortos, os egípcios utilizavam pedras, metais e madeira. Graças a isso, além das pinturas com cenas cotidianas como guerras, recepção de visitantes estrangeiros, cenas familiares, higiene pessoal, trabalho e festas religiosas, também chegaram até nós [62] documentos escritos pelo povo, registros de estoques de armazém, anotações de escribas, correspondência particular de homens ricos, entre outros itens, que ficaram abrigados nos templos sagrados.
A música e a dança
Estudiosos acreditam que a música no Antigo Egito tenha surgido entre os séculos XVIII e XV a.e.c., tal como ocorreu na Mesopotamia e, graças às pinturas dos templos e túmulos, eles reconstruíram com uma relativa precisão o desenvolvimento dos instrumentos musicais e o uso da música na civilização egípcia. Entre o sexto e o quarto milênio a.e.c., após o estabelecimento das primeiras cidades, a dança era a principal manifestação em que se empregava a música. Supostamente, nessa época, os instrumentos vinham do sul da África e da Suméria. Na época do Império Antigo, entre a III e X Dinastias, a música atingiu seu ápice, como revelam diversas representações - nas quais se destacam pequenos conjuntos musicais com cantores, harpas e flautas - e inscrições que descrevem danças realizadas para o faraó. Segundo os egiptólogos nesse período houve um grande florescimento da arte musical. Já no Império Médio, representações indicam conjuntos maiores e até orquestras, compostas por harpas, alaúdes, liras, flautas, flautas de palheta dupla (oboés), trombetas, tambores e crótalos. Por sua vez, no Império Novo os instrumentos se aperfeiçoam e a música passou a ter papel ritual e militar.
Quando o Egito começou a entrar em decadência, em virtude das sucessivas invasões, a cultura musical do território passou a ser influenciada pelos gregos e romanos, perdendo totalmente sua identidade, entre outras causas porque músicos estrangeiros foram contratados para integrar a corte e trouxeram consigo alguns de seus instrumentos. Como até uma espécie de órgão hidráulico foi encontrado durante escavações, alguns musicólogos acreditam que os últimos vestígios da música faraônica podem ser identificados apenas na liturgia copta. Esses fatos estão comprovados porque muitos instrumentos surgiram durante as escavações das pirâmides, templos e túmulos subterrâneos, principalmente no Vale dos Reis. No entanto, como nenhum deles tinha afinação fixa, a possibilidade de definir que tipo de escalas musicais era utilizado, inviabilizou-se.
Também não foram encontrados textos que permitam deduzir a existência de um sistema de notação e nem sobre teoria musical. Aparentemente isso se deve ao fato de que os músicos não gozavam, entre os egípcios, do mesmo status que tinham entre os sumérios, por exemplo. Em afrescos, eles sempre aparecem ajoelhados e vestidos como escravos. Logo, a posição subalterna do músico não permitiria a transmissão de uma arte, tão pouco valorizada, por meio de textos. [63]
As ciências
Os egípcios não tiveram interesse por questões filosóficas nem abstratas, mas se dedicaram a construção de templos e pirâmides, a cura de doenças, a duração das estações agrícolas, a um método eficiente de contabilidade comercial, etc. Eles também foram os primeiros a manipular as substâncias químicas (arsênio, cobre, petróleo, alabastro, sal, sílex moído), que deram origem à fabricação de diversos remédios e composições simples. Até a palavra química provém do egípcio kemi, que significa terra preta.
A astronomia também se desenvolveu bastante no Antigo Egito. Como as estrelas orientavam os egípcios tanto na navegação quanto na agricultura, eles elaboraram mapas do céu, distinguindo estrelas, planetas e constelações. Desenvolveram ainda o calendário solar de 365 dias, divididos em 12 meses de 30 dias, mais 5 dias festivos e, em conseqüência, também ampliaram a astrologia, relacionando as trajetórias dos astros com o nascimento de um indivíduo e suas caracterís ticas pessoais.
Em relação à matemática, eles também conheciam as três operações fundamentais: soma, subtração e divisão. E, sem nenhum tipo de símbolo para representar o zero, eles constituíram o sistema decimal e passaram a calcular com precisão a área do triângulo, do retângulo, do trapézio e ainda o volume dos sólidos. Mas, graças às transações comerciais e o período de cheias do Nilo, que exigiam uma padronização de pesos e medidas e um sistema de notação numérica de contagem, também se desenvolveram a álgebra e a geometria. [64]
No campo da medicina, como os progressos sempre estiveram relacionados com a anatomia humana, há mais ou menos 3000 anos a.e.c., no Antigo Egito, os médicos já tinham uma noção interna do corpo humano, em virtude do costume religioso de embalsamar os mortos, dos quais se retiravam as vísceras, que eram guardadas em vasos especiais, próximo ao corpo. Segundo os egiptólogos, o médico mais antigo do Egito viveu nesse mesmo período. Chamado Hesy-Ra, ele só cuidava de dentes, mas nessa época já havia outras especialidades como nariz, olhos, ânus e abdômen. Portanto, foi a partir de técnicas de mumificação que eles acumularam conhecimentos, reconheceram a importância do coração em relação aos outros órgãos do corpo, desenvolveram técnicas para tratar fraturas, realizar pequenas cirurgias e suturar cortes profundos. Os egípcios também foram os primeiros a afirmar que as doenças tinham causas naturais e, para combatê-las, elaboraram listas de remédios, formando a primeira farmacopeia de que se tem notícia. Conforme a doença, eles indicavam medicamentos que variavam desde sangue de lagarto, livro velho fervido em azeite, leite de mulher que tinha dado à luz até excremento de crocodilo.
Os médicos do Antigo Egito se dividiam em três grupos de terapeutas: os sacerdotes de Sekhmet, os magos e os sunus. Os sacerdotes de Sekhmet acreditavam que a deusa de mesmo nome era a causadora de todas as doenças. Então, eles mantinham um bom contato com ela, induzindo-a a não castigar certa pessoa com doenças. Por sua vez, os magos diziam que as doenças eram provenientes de maus espíritos que atacavam as pessoas. Logo, eles tinham como função o exorcismo. Já o sunus recebiam instruções médicas da PerAnkh ou da "Casa da Vida" e, antes de terminarem seus estudos em certa área do corpo humano, já exerciam suas funções, em seus próprios consultórios. Eles trabalhavam junto aos uts, os primeiros enfermeiros de que se têm notícia e, ao mesmo tempo em que podiam ser um sacerdote da deusa Sekhmet ou um mago. conforme papiros encontrados, ainda ocupavam cargos paralelos de administrador, arquiteto ou escriba. Contudo, eles defendiam que o organismo humano era o medicamento mais potente contra qualquer doença, já que podia produzir por si mesmo o medicamento necessário, no momento preciso; sabiam como se dava a fecundação, que só o esperma tinha o poder de gerar um indivíduo e que o papel da mulher era o de recebê-lo. Diziam que, para saber se uma mulher estava grávida, o segredo era urinar sobre um punhado de grãos. Se em alguns dias, eles germinassem, um novo indivíduo estaria a caminho.
Curiosamente, enquanto os sunus se impressionavam com a possibilidade do sangue coagular e as artérias endurecerem, a maior preocupação da classe dominante era o ânus, tanto que cada faraó possuía um médico nessa área. Eles temiam os vermes que, por serem encontrados em múmias, acabaram sendo identificados como os legítimos mensageiros da morte. De certa forma, eles estavam certos, porque se os mesmos insistiam em aparecer, eles também estavam prenunciando a chance de uma diarréia fatal. [65]

Prometeu, enumerando na tragédia de Esquilo os benefícios que a humanidade primitiva lhe deve. dava à medicina o primeiro lugar. "Sobretudo", diz ele, "quando os homens caíam doentes, não tinham para seu alívio nada que comessem, nada que bebessem, nenhum unguento: tinham de perecer. Fui eu que os ensinei a preparar remédios benéficos, que lhes permitiram defender-se de toda a espécie de doenças."
Hipocrates, apoiando-se numa longa tradição, foi, no século V, o Prometeu da medicina.
Esta tradição é um saber médico laico e prático, transmitido em tal ou tal corporação de homens da arte, e que remonta, para nós, até à Ilíada. Neste poema da presença da morte, encontramos mais que um médico, e mesmo simples profanos, capazes de desbridar feridas, desinfectá-las, ligá-las, aplicar compressas, por vezes pós feitos de raízes moídas. Acontece a estes médicos da Ilíada praticarem verdadeiras operações.
Homero conhece e descreve, muitas vezes com precisão, cento e quarenta e uma feridas. Conhece também um grande número de órgãos do corpo humano. A profissão de médico é, no poema, exercida por homens livres, respeitados por todos. "Um médico", escreve, "vale só por si alguns homens."
A medicina mágica não ocupa, por assim dizer, nenhum lugar na Ilíada. Na Odisseia, que é um conto de fadas, são praticados exorcismos por ninfas enfeitiçadoras encontradas em terra exótica.
Nos séculos seguintes (incluindo o século V) uma corrente mística de origem oriental ganha força, parece invadir a consciência popular e obscurecer, mesmo aos olhos de filósofos, a investigação médica e científica. [351]
Nos santuários de Esculápio, em Trica, na Tessália, sobretudo em Epidauro. afluem os peregrinos e fervilham os milagres. Inscrições de Epidauro, redigidas por padres em forma de ex-voto, trazem-nos o eco destas curas miraculosas, que se operam sempre durante o sono, no seguimento de uma intervenção do deus em sonho (cura pela fé, dizem ainda hoje certos crentes). Eis uma entre muitas, e não a mais estranha.
"Ambrósia de Atenas, a zarolha. Esta mulher veio ao templo do deus e troçou de certas das suas curas, declarando que não se podia acreditar que coxos e cegos recobrassem a saúde, simplesmente por um sonho. Em seguida, adormeceu no templo e teve um sonho. Pareceu-lhe que o deus se aproximava e lhe dizia que a curaria, mas que era preciso que ela lhe oferecesse, no templo, um porco de prata em testemunho da sua estupidez. Tendo assim falado, fendeu-lhe o olho doente e deitou nele um remédio. No dia seguinte, ela foi-se embora, curada.
Empédocles, nas suas Purificações, o próprio Platão em mais de uma passagem, dão testemunho de que a crença na virtude das encantações e da medicina mágica não era estranha ao pensamento da Grécia clássica.
As inscrições de Lourdes-Epidauro são contemporâneas das obras atribuídas a Hipócrates.
Seria erro grave admitir, como o fazem alguns hoje, que a medicina grega tenha saído dos santuários. Houve na Grécia, em plena época de racionalismo. duas tradições médicas paralelas, mas inteiramente distintas.
Enquanto na órbita dos santuários se multiplicam os exorcismos, os sonhos, os sinais, os milagres — tudo isto dócil à voz dos sacerdotes — verifica-se na mesma época a existência duma arte médica, inteiramente laica e independente, aliás de tendências muito diversas, mas que nunca se inclina para a superstição e em que nunca aparece, seja como objecto de crítica ou de troça, o vulto do sacerdote curador ou intérprete do deus curador.
Por um lado, não se fala nunca de pesquisa científica metódica visando a estabelecer as causas materiais das doenças nem regras que vão além do caso particular de cada doente, mas apenas de milagres cumpridos arbitrariamente, graças ao bom querer da divindade. Por outro lado, sem que o espírito do médico seja de modo algum ateu, vêmo-lo afastar resolutamente toda a explicação referida a Deus e só a Deus.
Característica e singularmente ousada é a abertura do tratado intitulado Do Mal Sagrado. O autor declara:
"Penso que a epilepsia, também chamada [352] mal sagrado, não é mais divina ou mais sagrada que os outros males. A sua natureza é a mesma. Os homens deram-lhe primeiro uma origem e uma causa divinas por ignorância, espantados dos seus efeitos, que não se parecem com os das doenças comuns. Perseveraram depois em ligar a ela uma ideia de divindade, por não saberem destrinçar-lhe a natureza, e tratam-na conforme a sua ignorância... Vejo aqueles que santificaram a epilepsia como pessoas da mesma espécie que os magos, os encantadores, os charlatães, os impostores, tudo gente que quer fazer acreditar ser muito piedosa e saber mais que o resto dos homens. Lançaram o manto da divindade sobre a sua incapacidade de procurar qualquer coisa de útil aos seus doentes."
Este tratado do Mal Sagrado faz parte daquilo a que se chama, desde os Alexandrinos, a Colecção Hipocrática, isto é, um conjunto de cerca de setenta tratados, atribuídos pelos antigos ao grande médico de Cós. A maior parte destas obras foram, com efeito, redigidas em vida de Hipócrates, na segunda metade do século V ou no começo do século IV. Alguns, aliás difíceis de distinguir, são da própria mão do mestre de Cós ou dos seus discípulos imediatos. Outros, pelo contrário, têm por autores médicos de escola ou de tendência rivais das de Cós.
Muito sumariamente, é permitido distinguir na Colecção Hipocrática três grandes famílias de médicos. Há os médicos teóricos, filósofos amadores de especulações aventurosas. Em oposição, situam-se os médicos da escola de Cnide, em quem o respeito dos factos é tal que eles se mostram incapazes de os ultrapassar. Finalmente — e este terceiro grupo é o de Hipócrates e dos seus discípulos, o da escola de Cós — há os médicos que, apoiando-se na observação, partindo dela e só dela, têm a constante preocupação de interpretar, de compreender. Estes últimos médicos são espíritos positivos: recusam-se às suposições arbitrárias, apelam constantemente para a razão.
Estes três grupos de escritores são igualmente opostos à medicina dos santuários. Mas só o último grupo funda a medicina como uma ciência1. [353]
*
Os médicos teóricos não nos demorarão muito tempo. Trata-se de brilhantes jogadores de palavras, que participam nesse movimento muito vasto, tocante a todas as actividades humanas, muitas vezes com justeza, a que se dá o nome de sofística.
O seu método procede, aliás, inversamente ao método científico são. Em vez de partir do exame dos factos, os autores dos tratados deste grupo partem quase sempre de ideias gerais colhidas na filosofia ou nas crenças da época: contentam-se com aplicar, muito arbitrariamente, tal ou tal dessas ideias aos factos médicos que têm de explicar. Estas ideias são, frequentemente, simples ideias preconcebidas: é o caso do papel predominante do número 7 nas actividades humanas.
O tratado Das Carnes, o Feto de Sete Meses, seguido do Feto de Oito Meses, mostram ou pretendem mostrar que se o feto é viável ao fim de sete meses, e depois aos nove meses e dez dias, é porque nos dois casos conta um número exacto de semanas, a saber, respectivamente, trinta e quarenta. Estes tratados apresentam, igualmente, a título de provas, que a resistência do homem normal ao jejum é de sete dias, que as crianças têm os dentes aos sete anos, que as crises das doenças agudas se produzem ao fim de meia semana, de uma semana, de uma semana e meia, de duas semanas.
O tratado Dos Ventos, em que alguns persistem em ver a chave da doutrina de Hipócrates, é menos um tratado médico que uma dissertação, ornamentada sobre o papel do ar e da respiração, ao mesmo tempo como princípio da marcha do universo, da mudança das estações, e como causa de todas as doenças: febres epidêmicas ou pestilenciais, catarros, fluxões, hemoptises, hidropisias, apoplexias, cólicas, e até os bocejos.
Uma dezena de tratados da nossa Colecção liga-se a esta medicina sofística, brilhante e oca, tão afastada quanto é possível da prática de Hipócrates. Contudo, nos menos maus, encontram-se ainda indicações judiciosas que parecem fruto duma experiência autêntica.
No tratado Do Regime, que começa por dissertar no vazio sobre a natureza do homem, sobre a natureza da alma, que é mistura de água e fogo, sem esquecer os sexos, os gémeos e as artes, encontramos com surpresa um catálogo muito bem feito das plantas hortenses e das suas propriedades, [354] nomeadamente uma enumeração das virtudes dos cereais, conforme, por exemplo, a cevada seja absorvida com o seu invólucro ou descascada, cozida ou torrada, conforme o pão de cevada seja consumido logo que amassado ou algum tempo depois, ou ainda, para o pão de fromento, conforme seja branco, de rolão ou fermentado. Há páginas e páginas sobre os vegetais, outras sobre as propriedades das carnes, a partir da vaca e não esquecendo o ouriço. O tom discursador e pseudofilosófico do começo do tratado dá lugar a incríveis ementas, tendo à margem todos os riscos de flatulência, os efeitos evacuantes. diuréticos ou nutrientes de cada alimento. As teorias nebulosas da introdução (Aristófanes troça deste género de medicina nas Nuvens) cedem o passo à onda das recomendações sobre a utilidade dos vómitos repetidos, o perigo dos excrementos pútridos e o bom uso dos passeios. Notemos, de passagem, que o autor declara elaborar os seus regimes para "o comum dos homens, aqueles que, ganhando apenas para o seu sustento, não têm os meios de renunciar a todo o trabalho para se ocuparem da sua saúde". Feito isto, elabora outro regime, que é sua "bela descoberta", para uso das pessoas de meios. Ninguém tinha pensado em tal antes dele, diz. E aqui o nosso homem cai num anfiguri de distinguo em que a sua vacuidade se compraz: deixou decididamente o caminho da ciência ao nível da terra, que durante certo tempo pacientemente seguira.
Façamos também justiça ao tratado Do Feto de Sete e de Oito Meses que, a par de divagações septenárias e lunares, contém pelos menos uma página justa, comovente até, sobre os perigos que a criança corre após o nascimento.
"Modificadas (pelo nascimento), as condições de alimentação e de respiração constituem um perigo. Se, com efeito, os recém-nascidos absorvem qualquer germe malsão, é pela boca e pelo nariz que o absorvem. Ao passo que precedentemente não entrava no organismo senão o que era exactamente suficiente e nada mais, doravante penetram nele muito mais coisas; e, em razão desta sobreabundância de contributos de fora como em razão da constituição do corpo da criança, as eliminações tornam-se necessárias: fazem-se, por um lado, pela boca e pelo nariz, por outro lado, pelo intestino e pela bexiga. Ora nada disto acontecia anteriormente.
"Em vez, pois, de respirações e de humores que lhe eram congéneres e aos quais, na matriz, estava aclimatada, como que num comércio de familiaridade, a criança, desde o nascimento, usa de coisas que lhe são estranhas, ásperas, rudes, menos humanizadas: desde aí, é necessidade que de tal resultem sofrimentos e muitas mortes. Em vez de estar envolvida de carne e de humores [355] tépidos, húmidos, concordes com a sua natureza, a criança acha-se vestida de panos como o adulto. O cordão umbilical é, primeiramente, a única via pela qual a mãe comunica com a criança. É por ele que a criança participa no que a mãe recebe. As outras estão-lhe fechadas e só se abrem após a sua vinda à luz: nesse momento tudo se abre nela, ao passo que o cordão se adelgaça, se fecha e se resseca."
*
Entretanto, nos antípodas destes médicos teóricos, destes iatrosofistas situa-se, na Colecção Hipocrática, a medicina da escola de Cnide, rival ou émula da de Cós (a de Hipócrates). Os tratados que melhor representam esta medicina cnidiana no Corpus são as Afecções Internas e as Doenças (secção II). Juntemos-lhes uns doze tratados que, sem serem rigorosamente cnidianos, são aparentados de perto ou de longe com esta escola. Nomeadamente diversos tratados de ginecologia.
O grupo cnidiano caracteriza-se pelo gosto da observação precisa e mesmo minuciosa, pela preocupação de dar descrições concretas e pormenorizadas das doenças, evitando toda a generalização abusiva, toda a evasão "filosófica". O médico é, nesta escola, reconduzido ao que em todo o tempo constituiu o núcleo da sua arte: a observação clínica. Estes Cnidianos são, pois, principalmente, práticos. Não vão além da observação directa, temem forçar — interpretar demasiadamente — as palavras do doente. Têm em relação aos factos uma fidelidade um pouco limitada que lhes estreita o horizonte. Contentam-se com classificar as doenças e, quanto a tratá-las, atêm-se a uma terapêutica experimentada pela tradição.
Não se empenham em debates médicos. Não procuram as causas das doenças, reduzidas ao comportamento de dois "humores", bílis e fleuma. Fogem dos problemas difíceis, insolúveis para eles. Em suma, não procuram compreender.
As suas classificações multiplicam as divisões e parecem multiplicar as doenças. As Afecções Internas e as Doenças II enumeram e descrevem três espécies de hepatites, cinco doenças do baço, cinco espécies de tifo, quatro [356] doenças dos rins, três espécies de anginas, quatro pólipos, quatro icterícias, cinco hidropisias, sete tísicas, um grande número de afecções cerebrais.
Algumas destas distinções são justificadas, e novas. Por exemplo, a do reumatismo articular agudo e da gota, chamada podagra. Mas a maior parte delas são insuficientemente fundamentadas ou imaginárias.
Eis, a título de exemplo, a maneira como é descrita uma das tísicas mencionadas.
"Esta é produzida por excessos de fadiga. Os acidentes são mais ou menos os mesmos que no caso precedente, mas a doença oferece mais remissões e afrouxa no Verão. O doente expectora, mas os escarros são mais espessos. A tosse é mais premente nos velhos. As dores no peito são mais fortes. Parece que uma pedra pesa sobre ele. As costas também doem. A pele é húmida. Com o mais pequeno esforço, o doente arqueja e fica oprimido. Morre-se em geral desta doença ao fim de três anos."
Na descrição doutra tísica:
"À medida que a doença avança, o doente emagrece, excepto nas pernas, que incham. As unhas retraem-se. Os ombros tornam-se delgados e fracos. Sente-se a goela como se estivesse cheia de penugens: a garganta silva como através de um tubo. A sede atormenta. Todo o corpo enfraquece. Neste estado, não se vai além de um ano."
A descrição é frequentemente muito expressiva. Alguns traços forçam a atenção: o doente que procura respirar "abre as narinas como um cavalo que corre; deixa sair a língua como um cão que no Verão é queimado pelo calor do ar". Imagens exactas e impressionantes.
Mas os médicos de Cnide, nas suas classificações, são tomados por uma espécie de delírio nosológico. É de notar que a esta profusão de descrições corresponde uma assaz pobre terapêutica. É sempre purgar, fazer vomitar (o vómito é, para os antigos, uma purga por cima), dar leite, cauterizar.
Notemos, entretanto, um tratamento singular preconizado pelos Cnidianos. Os "errhins" são uma prática estranha que consiste em colocar no nariz substâncias de composição variada a fim de curar as doenças cuja sede se situa, para o médico, na cabeça: apoplexia, icterícia, tísica, etc. Estes "errhins" são purgativos da cabeça". O seu emprego supõe uma comunicação entre o nariz e o cérebro. Mas não dizemos nós ainda uma constipação da cabeça?
Salientemos igualmente o processo de exploração do pulmão empregado pelo médico, que tem necessidade, antes de tentar uma intervenção, de conhecer a posição exacta de um derramamento de cuja presença na cavidade pleural [357] suspeita. O texto indica que depois de ter "colocado o doente sobre um assento sólido e enquanto um ajudante segura as mãos do paciente", o médico "agarra-o pelos ombros e imprime-lhe uma sacudidela, ao mesmo tempo que aplica o ouvido sobre as costelas, a fim de saber se é à direita ou à esquerda que está o mal". Este processo chamado "sucussão hipocrática". embora seja cnidiano, esquecido ou não reconhecido pela tradição médica posterior, mostra bem o engenho inventivo dos médicos de Cnide na observação dos factos. Laènnec declara tê-lo empregado segundo os tratados antigos e ter tirado dele vantagem.
Esta "sucussão hipocrática" lembra-nos, a propósito, que a velha medicina cnidiana — cujo empirismo tendia a tornar-se puro pragmatismo, para não dizer rotina — foi levada, como compensação da sua fidelidade à observação, a várias descobertas, das quais a principal é a auscultação. Uma outra passagem, além da já citada, o atesta. O médico, escreve o autor de Doenças II. "aplicando durante muito tempo o ouvido contra as costelas, ouve um rumor como vinagre a ferver". Outras passagens confirmam ainda que a auscultação praticada pelos médicos do século V era sem dúvida uma invenção cnidiana.
Encontramos ainda, nestes tratados cnidianos ou aparentados a Cnide, a menção de numerosas intervenções cirúrgicas e a descrição dos instrumentos que as permitem. O tratamento dos pólipos do nariz é simples e brutal: ora se pratica a cauterização por meio de ferramentas aquecidas ao rubro, ora o arrancamento por meio de um pauzinho munido duma "corda de nervo": o médico ajusta-a e puxa vigorosamente. As incisões no rim são aconselhadas em três das quatro doenças renais: a incisão, especifica o autor, deve fazer-se "no sítio onde o órgão está mais inchado"; deve ser "profunda". As incisões na caixa torácica são numerosas: são intercostais, e o cirurgião usa primeiro um "bisturi convexo", depois continua com um "bisturi afilado". A operação mais ousada praticada pelos Cnidianos é a trepanação do crânio, a fim de dar saída a um derramamento líquido que ameaça a vista, sem que haja lesão do olho. As curas obtidas são mencionadas, assim como as duas espécies de trépano empregadas.
Basta. A medicina de Cnide representa incontestavelmente um imenso esforço dos homens de ofício, com vista a assentar a sua disciplina em, observações rigorosas de factos numerosos. Contudo, há que reconhecê-lo. esse esforço não chega a termo. O grande mérito destes médicos é terem-se recusado aos atractivos de hipóteses filosóficas inverificáveis. Não querem conhecer e transmitir senão os factos observados pela tradição médica; acrescentam a esta tradição os casos que eles próprios recolheram. Apenas conhecem doentes: o seu ofício é tratá-los segundo os métodos que consideram mais experimentados.
Notar-se-á, sem dúvida, e não sem razão, que esta desconfiança dos Cnidianos em relação à especulação e à hipótese provocou, na prática quotidiana da sua arte, uma espécie de desconfiança inconsciente mais geral para com a inteligência. Pensar a medicina não é com eles.
Efectivamente, é muito raro que os seus escritos produzam a menor ideia geral, a menor fórmula que tenha o estilo do pensamento. Muito raro, mas não excluído. Citemos uma dessas reflexões — talvez a única. Incide ela sobre o método que permitirá à medicina progredir.
Esta reflexão encontra-se no tratado intitulado Os Lugares no Homem. O autor do escrito é um médico, senão cnidiano, pelo menos estreitamente aparentado com a escola. É, em muito, o tratado mais interessante que encontrámos até aqui. O autor escreve isto: "A natureza do corpo é o ponto de partida do raciocínio médico", frase que vai muito além do vulgar empirismo cnidiano.
O autor desta fórmula compreendeu que todas as partes do corpo são solidárias entre si. Razão por que, baseando-se na reflexão de método que citei, faz preceder a exposição patológica que empreende de uma descrição de anatomia geral. Assim, para ele, a medicina não tem outra base mais sólida que o estudo do organismo humano.
A propósito desta frase dos Lugares no Homem, alguns modernos pronunciaram o nome de Claude Bemard. Grande honra feita ao modesto prático anónimo que escreveu este tratado, e honra merecida. Nenhum outro escrito de tendência cnidiana provocaria uma tal aproximação.
Quanto à descrição anatómica do nosso autor, ainda falta muito para que ela seja exacta. Contudo, o médico que escreveu Os Lugares no Homem não ignora que os órgãos dos sentidos estão ligados ao cérebro; observou exactamente as membranas do olho e as do encéfalo; sabe que a veia cava superior leva o sangue ao coração. Em compensação, parece confundir a veia cava inferior com a acorta.
De resto, não é tanto de notar aqui a exactidão dos resultados do seu inquérito como dizer a justeza de um método que tenta fundar a patologia sobre o conhecimento anatómico. [359]
Antes de deixarmos os honestos práticos de Cnide para nos voltarmos para os autores propriamente hipocráticos da Colecção, digamos algumas palavras a respeito do notável tratado intitulado Do Coração. Esta obra sofreu aqui e além a influência da escola de Cnide: foi, recentemente, atribuída, com verosimilhança, a um médico da escola siciliana, o sábio Filistião. Este médico professava no começo do século IV em Siracusa, e Platão conheceu-o bem. Filistião manipulou, sem dúvida, de escalpelo em punho, um coração humano. Não somente o afirma, referindo-se a um antigo uso dos Egípcios neste domínio, mas sobretudo a exactidão da sua descrição anatómica deste órgão confirma, com efeito, que "extraiu o coração de um homem morto". E o nosso sábio praticou, não só a dissecação, mas também a vivissecção dos animais. A não ser assim, como teria ele descoberto que os aurículos continuam a contrair-se quando os ventrículos já deixaram de bater?
O facto é exacto, e o aurículo direito é, por essa razão, chamado ultimun moriens.
Que conhecimento anatómico do coração tem pois o nosso autor? Sabe que o coração é "um músculo muito potente, não pelas suas partes tendinosas. mas pela feltragem da carne". Sabe que o coração possui dois ventrículos e dois aurículos; distingue o coração direito e o coração esquerdo e sabe que não existe entre eles nenhuma comunicação directa. Observa: "Os dois ventrículos são a fonte da vida do homem. De lá partem os (dois) rios (artéria pulmonar e aorta) que irrigam todo o interior do corpo: por eles é irrigada a habitação da alma. Quando estas duas fontes se esgotam, o homem está morto."
Mas Filistião faz observações mais delicadas ainda. Distingue as veias e as artérias, segundo a natureza diferente dos seus tecidos. Nota muito justamente que o coração está inclinado para a esquerda, que a sua ponta é formada unicamente pelo ventrículo esquerdo e que o tecido deste é mais espesso e mais resistente que o do ventrículo direito. Finalmente — e esta é a obra-prima da observação — , descreve com brevidade mas com grande precisão as válvulas que fazem comunicar ventrículos e aurículos e as que estão colocadas sobre a artéria pulmonar e sobre a aorta: compostas de três pregas membranosas — válvulas sigmóides ou semilunares — estão em condições de fechar rigorosamente o orifício arterial, observa que as válvulas da artéria pulmonar resistem mais debilmente à pressão que as da aorta.
Surpreender-nos-á talvez que um observador tão sagaz, um sábio que tenta uma verdadeira experiência (na verdade, mal conduzida) num porco para [360] descobrir a origem do líquido que se encontra no pericárdio e banha o coração — surpreender-nos-á que um tal sábio possa contentar-se, para explicar a função fisiológica do coração, com hipóteses extravagantes. O facto é esse. Esse facto indica que o autor do tratado Acerca do Coração não ultrapassou muito o nível de exigência científica dos médicos cnidianos. Mas o nosso espanto seria muito pouco científico. A ciência edifica-se lentamente num estranho amálgama de verdades, de "intuições justas" e de erros. A sua edificação foi durante longos séculos uma história de Torre de Babel. Os erros dos sábios, no fim de contas, são-lhe tão proveitosos como as justas intuições, porque são eles os primeiros a pedir rectificação.
Esta análise sumária da Colecção Hipocrática quereria contribuir para mostrar a marcha sempre ziguezagueante da ciência que nasce.
*
Eis agora, no centro da Colecção, alguns tratados — sete ou oito — cuja raça se conhece imediatamente: são os filhos do génio. Se não é possível apresentar a prova de que fosse Hipócrates em pessoa o autor, pode-se, pelo menos, assegurar que estes tratados são obra dos seus mais próximos discípulos. Que tal ou tal tratado seja do mestre de Cós, é mais do que provável. Mas qual?... Não nos percamos em falsos problemas. Sabemos que Hipócrates escreveu: oito obras lhe são hoje atribuídas, ora por um crítico, ora por outro, e os sábios que lhe reconhecem essa paternidade são da mais circunspecta espécie.
Os tratados são: Dos Ares, das Aguas e dos Lugares, Do Prognóstico, Do Regime nas Doenças Agudas, os livros I e III das Epidemias, Aforismos (as quatro primeiras secções), finalmente Das Articulações e Das Fracturas, tratados de cirurgia, obras-primas da Colecção.
Digna do mestre, e contudo certamente de uma outra mão, é a obra Da Antiga Medicina, contemporânea da juventude de Hipócrates (440 ou 430). Nesta obra se define com rara mestria a medicina de espírito positivo, a medicina racional que será a de Hipócrates na sua plena maturidade.
A esta enumeração de obras maiores, deverá mais adiante acrescentar-se algumas obras de tendência ética — O Juramento, A Lei, O Médico, O Decoro, Os Preceitos, etc. — que farão desabrochar nos finais do século V, começos do século IV, a medicina científica de Hipócrates em humanismo médico. [361]
"Uma nuvem paira sobre a vida de Hipocrates - , escreve Littré. Consideremos primeiramente os factos mais seguros.
Hipocrates nasceu em Cós. A ilha. colonizada pelos Dórios, era de civilização e de dialecto jónios. A data do seu nascimento é mais certa do que comumente para um autor antigo: Hipocrates nasceu em 460, contemporâneo exacto de Demócrito e de Tucídides. Pertence à família dos Asclepíades. corporação de médicos que pretende descender do grande médico dos tempos homéricos, Asclépio. (Foi somente após Homero que Asclépio foi considerado um deus.) Entre os Asclepíades, um saber médico humano transmite-se de pai para filho, de mestre para discípulo, Hipocrates teve filhos médicos, um genro médico e numerosos discípulos.
Esta corporação dos Asclepíades, a quem também se dá o nome de escola de Cós, conserva no século V, como toda a corporação cultural, quadros e usos religiosos: a prática do juramento, por exemplo, que liga estreitamente os alunos ao mestre, aos seus confrades, aos deveres da profissão. Mas este carácter religioso da corporação, se implica uma certa atitude moral, não altera em nada a pesquisa da verdade, que continua a ser de intenção rigorosamente científica.
A medicina que se funda na Grécia do século V, nomeadamente a de Cós. é inimiga de todo o sobrenatural. Se se quisesse procurar para o médico hipocrático um antepassado, não seria o padre, nem mesmo o filósofo da natureza que se deveria designar. Isto o compreendeu muito bem o autor da Antiga Medicina. Escreve uma obra polémica destinada a defender a medicina como uma arte. (A palavra que emprega é intermédia entre técnica e ciência). Ataca sobretudo Empédocles, que foi médico e filósofo, de uma filosofia cheia de intuições geniais, é certo, mas também de armadilhas para a razão, e que se engana quando declara "que é impossível saber a medicina quando não se sabe o que é o homem e que é essa precisamente a ciência que deve ter adquirido aquele que quer tratar correctamente os doentes". Não, responde o autor da
Antiga Medicina, a arte de curar não deriva nem do conhecimento da natureza, nem de qualquer filosofia do género místico. Rejeita toda a filiação do filósofo (ou do sacerdote) ao médico. O antepassado do médico, quere-o ele humilde, ocupado de humildes tarefas, necessárias e positivas: é, diz ele, o cozinheiro.
Explica, com grande perspicácia, que os homens, na origem, comiam a sua alimentação crua, à maneira dos animais selvagens. Este regime "violento e brutal" tinha como consequência uma forte mortalidade. Foi preciso um [362] longo período de tempo para descobrir uma alimentação mais "temperada". Pouco a pouco, os homens aprenderam a descascar a cevada e o fromento, a moer o grão, a amassar a farinha, a cozê-la no forno, a fazer o pão. Em tudo, "eles temperaram os alimentos mais fortes pelos mais fracos, fizeram massas, ferveram, assaram"... até que "a natureza do homem estivesse em condições de assimilar o alimento preparado e que daí resultasse para ela nutrição, desenvolvimento e saúde". E conclui com este ponto: "Ora, a esta busca e a esta descoberta, que nome mais justo atribuir que o de Medicina?"
Foi a esta cozinha destinada à criatura humana, a esta medicina da saúde tanto como da doença, a dos corpos atléticos tanto como dos mais sofredores, que Hipócrates serviu com uma paixão fervorosa durante a sua longa vida. Viajou muito pela Grécia e fora da Grécia, continuando a tradição dos médicos itinerantes ou "periodeutas". Estes médicos viajantes dos tempos homéricos, vêmo-los nós, através da obra de Hipócrates, instalarem-se para uma longa estada num país novo e aí praticarem a medicina, ao mesmo tempo que observam os costumes dos habitantes.
Hipócrates teve, em vida, a maior celebridade. Platão, uma geração mais novo, mas seu contemporâneo, no sentido amplo da palavra, comparando num dos seus diálogos a medicina com as outras artes, põe Hipócrates de Cós em paralelo com os maiores escultores do tempo, Policleto de Argos e Fídias de Atenas.
Hipócrates morreu numa idade avançada, pelo menos em 375, isto é, aos oitenta e cinco anos, no máximo aos cento e trinta anos. A tradição antiga, unânime, atribui-lhe uma grande longevidade.
Tais são os factos seguros desta vida toda votada ao serviço do corpo humano. Ao lado deles floresce, mesmo em vida do mestre, uma lenda fecunda. A prática natural da medicina parece um espantoso prodígio e faz nascer a lenda como um acompanhamento obrigatório duma melodia demasiado pura. Deixaríamos estes ornatos de parte, se alguns desses relatos não encontrassem ainda hoje crédito. É o caso da presença de Hipócrates em Atenas aquando da famosa "peste" (que o não foi) e do que ele fez para desinfectar a cidade. Nada disto repousa em testemunho sério. Tucídides, que dá sobre esta epidemia numerosos pormenores e fala dos médicos que a combateram, não diz uma palavra a respeito de Hipócrates. Argumento e silentio, sem dúvida, mas na ocorrência plenamente decisivo. Do mesmo modo é pura lenda o relato da recusa dos presentes de Artaxerxes. Do mesmo modo ainda o relato do [363] diálogo entre Hipócrates e Demócrito, a que acima fiz alusão, por brincadeira, citando La Fontaine.
O que conta para nós infinitamente mais que estas "histórias", é o pensamento, é essa prática da medicina que enche de acções e de reflexões em absoluto convincentes os escritos autênticos do mestre.
O que impressiona em primeiro lugar, nestes textos, é o insaciável apetite de informação. O médico começa por olhar e o seu olho é agudo. Interroga e toma notas. A vasta colecção dos sete livros das Epidemias não é mais que uma sequência de notas tomadas pelo médico à cabeceira do doente. Apresentam, na desordem de uma volta médica, os casos encontrados e ainda não classificados. O texto é frequentemente cortado por uma reflexão geral, sem relação com os casos próximos, mas que o médico parece ter notado ao acaso do seu pensamento sempre em movimento.
Uma dessas reflexões vagabundas reporta-se à maneira de examinar o doente, e a palavra decisiva, reveladora, irrompe muitas vezes com rigor, ultrapassando a preocupação da simples observação e mostrando o contorno do espírito do sábio. "O exame do corpo é coisa complexa: reclama a vista, o nariz, o tacto, a língua, o raciocínio." Esta última palavra é uma surpresa que nos deslumbra, uma prenda de valor.
O tratado dos Aforismos, célebre entre todos — que Rabelais explicava no texto grego aos seus estudantes de Montpellier, proeza sem exemplo em 1531. e de que dava a primeira edição moderna — , esse tratado dos Aforismos não é outra coisa que a compilação destas reflexões sobrevindas como raios de luz no decurso do exame, anotadas no ardor do trabalho.
Todos conhecem o primeiro desses aforismos, denso como a soma de um método longamente experimentado. "A vida é curta, a arte é longa, a ocasião fugaz, a experiência fugidia, o juízo difícil.". Toda uma carreira de médico se resume nestas palavras, com os seus reveses, os seus riscos, as suas conquistas sobre a doença arrancadas pela ciência assente na prática, pelo diagnóstico ousadamente lançado no meio da dificuldade. A experiência não se separa aqui da razão que dificilmente se enraizou num terreno "escorregadio".
Eis, nas Epidemias /, uma longa reflexão sobre o exame do doente.
"Quanto a estas doenças, eis como as diagnosticamos: o nosso conhecimento apoia-se na natureza humana comum-a todos e sobre a natureza própria de cada indivíduo; sobre as doenças, sobre o doente; sobre as substâncias ministradas, [364] sobre aquele que as prescreveu — porque tudo isto pode ter contribuído para uma modificação para o bem ou para o mal —, sobre a constituição geral da atmosfera e as condições particulares de cada céu e de cada lugar; sobre os hábitos do doente, o regime de vida, as ocupações, a idade de cada um; sobre as palavras, os modos, os silêncios, os pensamentos que o ocupam, o sono, as insónias, a natureza e o momento dos sonhos; sobre os gestos desordenados das mãos, as comichões e as lágrimas; sobre os paroxismos, os excrementos, as urinas, os escarros e os vómitos; sobre a natureza das doenças que no doente se sucederam, assim como sobre o que delas ficou, princípios de destruição ou de crise; sobre o suor, o arrefecimento, a tosse, o soluço, o arroto, os gases silenciosos ou ruidosos, as hemorragias e as hemorróidas. São estes dados e o que eles permitem apreender que devemos examinar com atenção."
Note-se a extrema amplitude destas exigências. O exame do médico não tem em conta apenas o estado corporal presente do doente; tem em conta igualmente doenças anteriores e os rastos que elas podem ter deixado, tem em conta o seu género de vida, o clima em que vive, não esquece que este doente é um homem como os outros e que, para o conhecer, é preciso conhecer os outros homens; o exame sonda os seus pensamentos. Até os próprios "silêncios" o informam! Tarefa esmagadora, em que se perderia um espírito sem a necessária envergadura.
Esta medicina é claramente psicossomática, como hoje se diz. Digamos mais simplesmente que é a medicina do homem total (corpo e alma) ligada ao seu meio como ao seu passado. As consequências desta amplitude do exame incidirão no tratamento, que exigirá que o doente, por sua vez, sob a orientação do médico, participe inteiramente também, de corpo e alma, na sua cura.
Ao alargamento da investigação junta-se a rapidez do golpe de vista. Porque "fugaz é a ocasião" de mudar para bem o curso da doença. A famosa descrição, que atravessou os séculos, do "fácies hipocrático" — esse fácies que denuncia a morte próxima — atesta a segurança e a acuidade do olhar do mestre.
"Nas doenças agudas", diz o autor do Prognóstico, "o médico fará as observações seguintes: examinará primeiro o rosto do doente e verá se a fisionomia é semelhante à das pessoas com saúde, e sobretudo se é parecida consigo mesma. Esta seria a aparência mais favorável, e quanto mais dela se afastar, maior será o perigo. As feições atingiram o último grau de alteração quando o nariz está afilado, quando os olhos estão fundos, as fontes cavadas... [365] os lóbulos das orelhas afastados, quando a pele da fronte está seca, tensa e árida, a pele de todo o rosto amarela ou negra, ou lívida, ou cor de chumbo.. Se os olhos fogem da luz, se se enchem involuntariamente de lágrimas, se se afastam do seu eixo, se um se torna mais pequeno que o outro... se estão ou agitados, ou saindo para fora da órbita, ou profundamente encovados, se as pupilas estão ressequidas e baças... o conjunto destes sinais é mau. Igualmente se dará um prognóstico funesto se os lábios estão soltos, pendentes, frios e pálidos."
A extrema atenção dada nesta passagem à pessoa do doente, como nos inúmeros casos estudados nas Epidemias, em que se sente o médico, por mais apressado que esteja, preocupado em nada anotar que não seja exacto e dado pela "sensação", esta abundante observação imediata não impede Hipócrates de dar uma atenção igual às condições do meio em que vivem os homens.
Dos Ares, das Aguas, dos Lugares é um estudo do mais alto interesse sobre as relações do meio com a saúde das populações.
Bourgey observa a propósito: "O médico (antigo) interessa-se não só pelos doentes, mas em maior grau do que hoje se faz, pelo homem com saúde, prescrevendo com este objectivo toda uma higiene de vida." Vimo-la mais acima: a Antiga Medicina declarava que a arte médica, atravancada de filosofia ou empolada de sofística, podia ser redescoberta a partir de uma pesquisa sobre a alimentação conveniente ao homem são e ao doente. Hipócrates segue esta linha de pesquisa. Não quer ser apenas curador, quer informar os homens sobre as condições desse bem precioso entre todos os bens, a saúde. Hipócrates é o médico da saúde, mais ainda que da doença.
Em Dos Ares, das Aguas, dos Lugares estuda o género de vida de um grande número de povos e descreve-o com um rigor e um relevo impressionantes. Hipócrates sabe que o conhecimento do género de vida de cada homem é útil para o médico e para o higienista.
O médico não pode ignorar se o seu paciente é amigo do vinho, inclinado à boa mesa, à volúpia, ou se prefere a ginástica e o esforço a estes prazeres mais fáceis. Só a natureza do meio social e, em primeiro lugar, físico, o informará. Põe uma perspicácia e uma consciência sem igual na determinação das relações precisas, das relações de causa e efeito que unem, em todas as regiões, o homem ao seu meio natural.
Numerosas regiões da Europa e da Ásia alimentam com factos o seu inquérito. [366]
Em cada uma delas, interroga o clima e daí tira consequências relativas a certas doenças locais, como febres, por exemplo, que se esforça por melhor tratar, após ter descoberto a sua origem.
Interroga atentamente as estações. Investiga a sua influência e a das suas mudanças, nos equinócios e nos solstícios, sobre diversas doenças. Algumas estações têm um carácter "desregrado" e, se assim se pode dizer, anormal. (Fala do assunto noutro tratado.) Essas estações são como as doenças do ano. Engendram por sua vez doenças na população. Não ignora as recrudescências das febres intermitentes durante o Verão.
Interroga as águas, trata dos efeitos que certas águas podem exercer no organismo, particularmente as águas pantanosas provenientes das lagoas, e as águas demasiadamente frias. As águas estagnadas provocam as febres quartãs. Manda que sejam fervidas certas águas...
E nada disto é feito de afirmações banais repisando que o homem é dependente do meio físico, que a natureza da terra contribui para modelar a natureza do corpo, etc. Trata-se, pelo contrário, para Hipocrates, de saber se tal homem, vivendo em tal lugar da crosta terrestre, submetido a tal e tal influência, comendo isto, bebendo aquilo, não estará sujeito a contrair tal doença determinada.
É entregando-se a esta investigação concreta, percorrendo os países da Europa e da Ásia, que Hipocrates chega a desenvolver verdadeiros estudos de costumes, a mostrar que o solo e o céu exercem uma clara influência nas disposições psicológicas dos povos. Faz o que antigamente se chamava etnopsiquia. O homem pensa e age de acordo com o meio que habita.
No entanto, em tudo isto, o autor não se esquece de evocar a influência das condições sociais sobre o desenvolvimento e a própria constituição do organismo. A este propósito introduz a distinção familiar aos sofistas entre a natureza (physis) e o costume (nomos).
Todas estas considerações, e muitas outras, fazem de Dos Ares, das Águas, dos Lugares uma tentativa solidamente documentada, talvez a única feita em dois mil anos para estudar atentamente e num mesmo lanço os factos médicos e os factos geográficos, sem falar nos factos meteorológicos. E isto que faz desta obra modesta uma das mais originais que a Antiguidade nos deixou. Habituados às compartimentações das ciências, os nossos espíritos modernos ficam desconcertados pela multiplicidade dos factos reunidos aqui por Hipocrates e orientados para uma única finalidade: a saúde dos homens. [367]
*
Mas, em Hipócrates, a observação não fica por aí.
Nos tratados propriamente hipocráticos da Colecção, uma forte vontade domina o que primeiro não parece ser mais que um amontoado de observações — a vontade de compreender os factos recolhidos, de lhes dar um sentido útil aos homens.
"Convém", escreve o autor do Regime das Doenças Agudas, "aplicar a inteligência a todas as partes da arte médica, quaisquer que sejam." Fórmulas semelhantes encontram-se na maior parte dos tratados atribuídos a Hipócrates. O pensamento está sempre presente na observação. Essa é a atitude fundamental que distingue um médico de Cós de um médico de Cnide.
Aqui temos o Prognóstico. O médico está perante uma otite. Nota os seus numerosos sintomas. E acrescenta, sobretudo: "É preciso imediatamente, e desde o primeiro dia, prestar atenção (espírito, inteligência) ao conjunto dos sinais."
Eis as Epidemias, essa compilação de fichas de clínico. A cada momento vemos o médico, que pareceria dever estar submergido pela observação, libertar-se dela ou antes apoiar-se nela para tentar generalizar o caso individual em regra geral ou para elaborar um raciocínio. Diante de uma doença sujeita a recidiva, anota: "Importa dar atenção aos sinais de recidiva e lembrar que nesses momentos da doença as crises serão decisivas para a salvação ou para a morte, ou, pelo menos, que o mal se inclinará sensivelmente para o melhor ou para o pior." Inteligência sempre disponível, sempre visando a acção.
Ou ainda, nas Feridas da Cabeça: "Se o osso foi descamado, aplique-se a inteligência em tentar distinguir o que não é visível aos olhos, em reconhecer se o osso está fracturado e contuso, ou apenas contuso, e se tendo o instrumento vulnerante produzido uma hedra (lesão oblíqua), há contusão ou fractura, ou contusão e fractura ao mesmo tempo." O espírito está atento, pronto a interpretar a observação. Poderiam citar-se inúmeros exemplos.
Assim, a abundância da observação de modo algum dispensa o sábio do esforço e compreensão. Os verbos que em grego significam pensar, reflectir são numerosos: Hipócrates escolhe, na maior parte dos casos, aquele que apresenta a reflexão como uma atitude permanente do espírito, e põe-no no tempo em que se inscreve a duração. De modo que reflectir é trazer sempre consigo no coração. Hipócrates trouxe consigo, alimentou com o seu [368] pensamento os casos que a observação lhe propõe, os dados dos sentidos, a vista, a auscultação, a palpação. Hipócrates tem essa paciência do espírito que faz frente às dificuldades e resolve os problemas.
Eis um exemplo manifesto, entre muitos, que mostra claramente a novidade do método de Cós em relação ao de Cnide. O tratado Das Articulações, que é um tratado de cirurgia, enumera os diferentes acidentes a que estão sujeitos os membros do corpo: fracturas do braço, do nariz, da perna, luxação do húmero, do fémur, etc... Indica, com abundantes pormenores, os múltiplos processos que permitem reduzir fracturas e luxações. Feito isto, escolhe entre estes processos e dá com precisão as razões dessa escolha. Os médicos que não sabem fazer e justificar esta escolha reflectida — os médicos cnidianos — são severamente julgados. O autor escreve: "Entre os médicos, há-os que têm as mãos hábeis, mas que não têm inteligência." Cnide, aqui, é apontada a dedo.
O estabelecimento do prognóstico é um dos objectivos essenciais da medicina hipocrática: traz-nos um belo exemplo da união da observação e do pensamento.
O médico hipocrático propõe-se, como é sabido, reconstituir a doença total com as suas causas, as suas complicações, a sua terminação, as suas sequelas. Quer, segundo as Epidemias e o tratado Do Prognóstico, "dizer o que foi, conhecer o que é, predizer o que será." Mais tarde, a escola de Alexandria dará nomes a estas três operações: a anamnese, evocação do passado: o diagnóstico, determinação da doença pelos sintomas presentes; finalmente, o prognóstico, previsão do futuro.
Na maior parte das histórias da medicina, não se presta inteira justiça ao prognóstico hipocrático, do qual se diz que é um meio destinado a estabelecer a autoridade do médico sobre o doente e os que o rodeiam. Sem dúvida, e a Colecção Hipocrática di-lo também, acessoriamente. Este juízo sobre o prognóstico tem paralelo na frase humorística de um professor de Lausana aos seus estudantes: "Um diagnóstico rigoroso espanta-vos a vós mesmos. Um tratamento eficaz espanta o confrade. Mas o que espanta o doente é um prognóstico exacto." Juízo humorístico.
Contudo, este humor erra o alvo. Em todo o caso, o prognóstico não é um punhado de poeira atirado aos olhos do doente por um charlatão. Se é. por um lado, uma maneira de inspirar confiança ao doente, é sobretudo, para o médico, a solução dada a um problema de grande complexidade. [369]
Um doente no seu leito é um terrível nó que ali está para ser desatado. Causas obscuras, antigas e recentes o levaram ali. Quais? E que vai acontecer-lhe? A morte, ou a cura? O prognóstico — que aliás não será comunicado ao doente se for desfavorável — é uma ordenação, através do pensamento do médico, do extraordinário emaranhado de sinais que a observação lhe propõe. Hipócrates é muito sensível à grande complexidade de factos oferecidos aos médicos por qualquer doença. Por outro lado, conhece o valor relativo desses factos. Não ignora, por exemplo, que os sinais mais certos de um desenlace mortal podem ser contraditados, em certas doenças que nomeia, por sinais favoráveis que o médico fará bem em não esquecer. É sobre um conjunto de inúmeros sinais que o médico deve estabelecer o seu prognóstico: e ainda assim esse prognóstico tem sempre um carácter hipotético e, por assim dizer, movediço. Uma fórmula admirável aparece, mais que uma vez. sob formas diversas, nos textos de Hipócrates. Esta: "É preciso ter ainda em consideração os outros sinais. Palavras de honestidade intelectual, mas também palavras de esperança. A vida é um fenómeno demasiado complexo para que se não possa sempre, por um desvio inesperado, tentar salvá-la e muitas vezes consegui-lo.
A falar verdade, os sábios modernos não deixam de sublinhar as fraquezas do prognóstico hipocrático: estas fraquezas provêm de um facto que deve ser constantemente lembrado, a ignorância quase total do médico em anatomia e sobretudo em fisiologia. Como, persuadido, por exemplo, de que as artérias conduzem ar (!), estará o médico em condições de elaborar um prognóstico assente, como ele quereria, nas causas da doença? Contudo, há já casos em que os poucos conhecimentos que tem dessas matérias lhe permitem fazê-lo. Desde que saiba mais, o seu prognóstico tornar-se-á mais firme.
De resto, para Hipócrates, o prognóstico não tem o seu fim em si mesmo. E nele que assenta o tratamento (e neste sentido equivale ao diagnóstico moderno). Ora, em matéria de tratamento, os outros médicos que não pertenciam à escola de Cós estavam entregues à imaginação ou ao acaso. Ou se apoiavam em considerações teóricas arbitrárias, ou aceitavam sem verificação os tratamentos ditos provados pela tradição. O autor do Regime das Doenças Agudas fala com ironia dos tratamentos contraditórios a que chegavam estes médicos ignaros. Escreve:
"Os médicos não têm o hábito de agitar tais problemas. Se os agitassem, certamente não encontrariam soluções para eles. Contudo, daqui ressalta, para o público, um grande desfavor sobre toda a profissão médica, a tal ponto que [370] se chega a crer que a medicina é simplesmente uma arte inexistente. Verifica-se, com efeito, que, nas doenças agudas, os práticos diferem de tal maneira entre si que a prescrição ordenada por um como a melhor será pelo outro condenada como detestável. Deste ponto de vista, há que comparar a medicina com a arte dos adivinhos que olham a mesma ave como de bom augúrio se voa à esquerda, como de mau augúrio se voa à direita... Mas outros adivinhos têm, sobre as mesmas coisas, opiniões diametralmente opostas. Digo, pois, que a questão que acabo de levantar é de uma extrema beleza e toca a maior parte dos pontos da arte médica e os mais importantes; porque ela pode muito, para todos os doentes quanto ao seu restabelecimento, para as pessoas saudáveis quanto à conservação da saúde, para as pessoas que se entregam aos exercícios ginásticos quanto ao aumento das suas forças; numa palavra, aplica-se a tudo quanto se quiser."
Esta passagem é de um bom senso que faz pensar em Molière, não sem razão. A indignação do autor, o seu entusiasmo por esta medicina que levanta questões "de extrema beleza", brilham através da ironia.
Outros textos indicam claramente o bom método a seguir nas prescrições a dar. Não entremos no pormenor. Indiquemos antes uma das direcções que se afirmam, a propósito, na Colecção Hipocrática: essa direcção é também uma linha de cumeada do pensamento de Hipócrates.
Hipócrates conhece os limites da ciência que está fundando. Esses limites estão fixados ao mesmo tempo pela natureza do homem e pela natureza do universo. O homem-microcosmo e o mundo-macrocosmo são, cada um, o espelho do outro. Nesta maneira de pensar e de exprirmir não entra nenhuma concepção mítica do mundo natural. Nada mais que um realismo fundamental. Hipócrates reconhece que para as conquistas da medicina sobre a doença e a morte existem barreiras.
Admite, por outro lado, que estes dois mundos — microcosmo e macro-cosmo — , apoiados um no outro, são ao mesmo tempo fronteiras da ciência e caminho da cura. A cura produz-se no homem graças ao concurso da natureza e, em primeiro lugar, pelo trabalho do organismo humano. O objectivo de Hipócrates — que começa por parecer modesto — é a de dar uma ajuda à acção curativa da natureza. "A natureza é o médico das doenças", diz-se nas Epidemias V. "É a própria natureza que abre à sua acção os caminhos. Ela não tem de reflectir... A língua executa sozinha o seu ofício. Muitas outras coisas [371] se fazem assim. A natureza, que não recebeu ensinamentos, que nada aprendeu, faz o que convém." Noutra passagem, lê-se: A natureza age sem mestres. O médico, cuja função é manter o homem com saúde, procura e encontra no mundo natural e no corpo humano aliados que sabe serem benéficos. O tratamento ordinário do doente consiste em abrir à acção da natureza medicadora um caminho justo, um caminho apropriado a cada caso determinado. Porque o corpo organizado possui como que uma vitalidade activa que lhe é própria: tende, por si mesmo, a manter-se na existência empregando recursos múltiplos. Por isso mesmo, o concurso do homem da arte, graças ao seu conhecimento dessas actividades salvadoras do corpo, não é de modo algum descurável: casos há em que é decisivo.
Esta concepção da natureza medicadora não é, como certos historiadores pensaram, a de uma medicina preguiçosa, que resultaria em deixar a natureza agir sozinha. É, pelo contrário, um conhecimento assente sobre factos observados, segundo o qual cada organismo humano é um reservatório de forças biológicas, de forças que se defendem espontaneamente contra a sua própria destruição. O médico ajuda o homem na medida em que conhece o jogo dessas forças que o animam e constituem a vida. Conhecimento-acção, eis um dos temas clássicos da civilização grega.
Alguns dos processos de defesa do corpo funcionam por si mesmo. Mas é permitido pensar que este jogo de defesa pode ser também ajudado pelo médico que penetrou os seus poderes. A natureza precisa por vezes de ser amparada: Hipócrates pede ao médico que esteja sempre pronto a responder aos apelos e às possibilidades do organismo e a remediar as insuficiências que nele se encontrem.
O exemplo clássico nesta matéria é a prática da respiração artificial. Já o pulmão, privado de oxigénio, tentou aumentar o seu ritmo respiratório. O sangue multiplica os glóbulos vermelhos. Defesa natural e espontânea. O médico que pratica a respiração artificial não faz mais que suprir as lacunas da natureza: manobra as últimas reservas de um corpo cuja capitulação estava próxima.
Este médico, colaborador da natureza, não preencherá uma função mais alta e inteligente que o taumaturgo ignorante que se louvaria de "criar saúde" a partir de nada?
O médico que espreita "a ocasião fugaz" sobre o próprio terreno da "experiência escorregadia" é um modesto mas eficaz fabricante de vida. Tal como o poeta não fabrica as suas imagens a partir do nada, mas a partir do [372] real, o médico fabrica o homem com saúde a partir do que encontra no corpo do doente, a partir da natureza humana observada e utilizada.
Não foi ao nada, foi ao Sol que Prometeu arrancou o fogo.
*
Tais são os passos rigorosos da medicina hipocrática, tal é a filosofia da profissão médica que Hipocrates tira da natureza e do corpo humano. Nesta exposição insisti mais nos métodos da ciência que Hipocrates fundou do que nos resultados que obtém. É que a ciência progride mais pela justeza dos métodos que pela acumulação dos resultados.
Tanta altura intelectual, tanta modéstia e elevação de pensamento encontram a sua conclusão, o seu coroamento esplêndido no comportamento moral que Hipocrates exige dos discípulos e ele próprio pratica.
Indiquei acima os textos de carácter ético da Colecção — O Juramento, A Lei, O Médico, etc. Lembro que foram sem dúvida escritos no tempo da velhice de Hipocrates ou pouco depois da sua morte, mas conformemente aos seus princípios e à sua prática. Precisemos que o Juramento, que dá forma escrita a um uso antigo e sem dúvida primitivo da Escola, é, por um lado, o texto mais antigo da Colecção, e, por outro lado, e ao mesmo tempo, na sua forma actual, um pouco mais recente que os grandes tratados hipocráticos do século V. É também o mais importante dos textos éticos.
Eis a tradução integral desse juramento, que os médicos pronunciavam no momento de abordar a profissão:
"Juro por Apolo médico, por Esculápio, por Higia e Panaceia, por todos os deuses e deusas, tomando-os por testemunhas, que cumprirei, segundo o meu poder e o meu juízo, o juramento e o compromisso seguintes:
"Terei por aquele que me ensinou a arte da medicina o mesmo respeito que pelos autores dos meus dias; partilharei com ele os meus bens e, se for necessário, proverei às suas necessidades; seus filhos serão para mim meus irmãos e, se eles desejarem aprender a medicina, ensiná-la-ei sem salário nem compromisso.
"Darei parte dos preceitos, das lições orais e do resto do ensino que recebi a meus filhos, aos filhos de meus mestres e aos discípulos ligados por um compromisso e por um juramento à fé médica, mas a ninguém mais. [373]
"Dirigirei o regime dos doentes em seu benefício, segundo o meu poder e o meu juízo, com vista a afastar deles todo o mal e todo o dano.
"Não entregarei a ninguém veneno, mesmo se me pedirem, nem tomarei a iniciativa de o aconselhar. Igualmente não darei a mulher alguma pessário abortivo.
"Passarei a minha vida e exercerei a minha arte em continência e pureza
"Não praticarei a operação da talha e deixá-la-ei àqueles que dela se ocupam.
"Seja qual for a casa em que eu entre, entrarei nela para bem dos doentes, preservando-me de todo o erro voluntário, de toda a corrupção e particularmente da sedução de mulheres e de rapazes, livres ou escravos.
"Tudo quanto eu tiver visto ou ouvido no exercício e mesmo fora do exercício da minha profissão e que não deve ser divulgado, eu o calarei encarando o silêncio como meu estrito dever.
"Se me mantiver fiel a este juramento e o não infrigir, que me seja dado a gozar afortunadamente a minha vida e a minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se o violar e for perjuro, que eu sofra a sorte contrária."
A maior parte dos estados modernos exigem que os médicos sejam ajuramentados. Mas o próprio emprego da palavra juramento se tornou as mais das vezes abusivo. Em geral, o médico apenas se compromete pela sua honra ou faz uma promessa. A evolução das crenças, os progressos da ciência parecem ter praticamente esvaziado o velho texto de Hipócrates do seu conteúdo.
Na minha terra, o cantão de Vaud, o médico compromete-se nestes termos perante o prefeito do distrito, representante do Conselho de Estado, que exerce o poder executivo.
"Depois de ter tomado conhecimento dos princípios fundamentais da deontologia e das disposições legais que regulam a minha profissão, comprometo-me, por minha honra, a respeitá-los fielmente, prometo exercer esta profissão com a consciência, a dignidade e a humanidade que a sua finalidade auxiliadora exige."
Nada ficou da interdição de receitar venenos: o médico de hoje, que dominou os elementos tóxicos que um remédio pode conter, prescreve "venenos" remédios durante todo o dia. Nada sobre a interdição do aborto solicitado: esse aborto tornou-se legal, em mais de um caso. Ficou a deferência para corm os colegas, prevista pelas disposições da deontologia. Ficou o segredo profissional protegido — pelo menos teoricamente — pela Lei Sanitária de 9 de [374] Dezembro de 1952 e igualmente pelo Código Penal Suíço, cujo artigo 321 dispõe que aqueles "que tiverem revelado um segredo médico que lhes fora confiado em virtude da sua profissão, podem ser punidos com prisão e multa".
Ficam, sobretudo, na promessa de Vaud, tomada a título de exemplo, essas belas palavras de consciência, dignidade, humanidade, esse prosseguimento de uma única finalidade auxiliadora, que são como que um eco longínquo mas autêntico do amor que Hipócrates dedicava aos seus doentes e que ele exigia dos seus discípulos.
A promessa do médico genebrino, intitulada ainda Juramento de Genebra, está mais perto do juramento de Hipócrates. É prestada perante a assembleia geral da Associação dos Médicos, não perante a autoridade política. Nestes termos:
"No momento de ser admitido no número dos membros da profissão médica:
"Tomo o compromisso solene de consagrar a minha vida ao serviço da Humanidade.
"Conservarei para com os meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhe são devidos.
"Exercerei a minha arte com consciência e dignidade.
"Considerarei a saúde do meu paciente como meu primeiro cuidado. "Respeitarei o segredo de quem a mim se tiver confiado.
"Manterei, na medida de todos os meus recursos, a honra e as nobres
tradições da profissão médica.
"Os meus colegas serão meus irmãos.
"Não permitirei que considerações de nação, de raça, de partido ou de
classe social venham interpor-se entre o meu dever e o meu paciente. "Guardarei o respeito absoluto da vida humana, desde a concepção. "Mesmo sob ameaça, não admitirei fazer uso dos meus conhecimentos
médicos contra as leis da Humanidade.
"Faço estas promessas solenemente, livremente, por minha honra."
Este Juramento de Genebra foi adoptado pela assembleia geral da Assembleia
Médica Mundial, em Genebra, em Setembro de 1948.
*
O Juramento, a Lei, e os outros tratados éticos de Hipócrates suscitam ainda outras observações. [375]
A primeira, não destituída de importância, é que as instruções dadas ac médico sobre a prática da sua profissão, se estão reunidas e reforçadas nestes escritos pela forma do juramento, nunca são contraditadas mas pelo contrário confirmadas pelos outros tratados da Colecção, nomeadamente por aqueles que é permitido atribuir a Hipócrates. Estamos pois perante a simples codificação de usos antigos, e esta codificação é feita conformemente à inspiração do Mestre, numa inteira fidelidade à sua memória.
Nenhuma das práticas interditas pelo Juramento se encontra nos sete livros das Epidemias, notas que, como vimos, foram redigidas sem cuidados, sem preocupação de publicidade, e de que uma parte pelo menos é do punho de Hipócrates; o conjunto, espelho sem mancha da prática da escola.
Outro aspecto. Os escritos éticos dão a maior atenção ao porte do médico, ao seu comportamento físico e moral. Ele só entra nas casas "para bem do doente". Esse doente, qualquer que seja, qualquer que seja a sua condição social, quer se trate de uma mulher, de um homem ou de uma criança, seja de condição livre ou escravo — não é para o médico mais do que um ser sofredor, um "paciente" no sentido forte e etimológico do termo. Tem direito às atenções, ao respeito do médico, e este respeita-o como deve respeitar-se a si próprio.
"O médi", escreve o autor da Boa Conduta, "como o bom filósofo, com quem se parece, pratica o desinteresse, a reserva, o pudor; veste com modéstia; tem a seriedade, a tranquilidade do juízo, a serenidade, a pureza da vida... Possui o conhecimento de tudo o que é útil e necessário, está liberto da superstição."
O autor do livro intitulado Do Médico declara por sua vez que o médico deve possuir a continência e "conservar as mãos puras... Os seus costumes são honestos e irrepreensíveis e, com isto, será grave e humano para com todos."
Numa palavra, a sua atitude é a do "homem de bem" e ele mostra-se "amável com as pessoas de bem". Diante do doente "nem impulsivo, nem precipitado". Nunca está de mau humor, "sem ser no entanto duma alegria excessiva".
"Não é coisa de somenos, na verdade", continua o mesmo autor, "as relações do médico com os seus doentes", mas relações que requerem "justiça-. a do juízo (a justeza) e a da conduta.
Uma das virtudes mais necessárias deste médico homem de bem é a modéstia, virtude intelectual tanto quanto moral. O médico pode enganar-se: reconhecê-lo-á logo que disso se aperceba, e diante do doente, pelo menos se se [376] tratar de "pequenos erros". A sua formação, que foi longa e feita sob a direcção de mestres esclarecidos, guardá-lo-á em geral dos erros graves. Se os comete e se eles podem levar à morte, não deve reconhecê-los na presença do doente, sob pena de comprometer a calma deste. Preferirá consigná-los nos escritos, a fim de esclarecer os médicos das gerações seguintes.
A modéstia, por outro lado, impõe ao médico o dever de apelar para os confrades se se encontrar embaraçado. Lê-se nos Preceitos:
"O médico que, por causa da sua inexperiência, não está vendo claro, reclamará a assistência doutros médicos, com quem consultará sobre o caso do doente e que se associarão a ele para encontrar a solução... Os médicos que vêem em conjunto um doente não discutirão nem se cobrirão reciprocamente de ridículo. Porque, afirmo-o sob juramento, nunca um médico que propõe um raciocínio deverá invejar o raciocínio de um confrade. Se o fizer, só mostra a fraqueza do seu."
Finalmente, sempre por modéstia, o médico recusar-se-á a empregar processos que teriam um ar ostensivo, procurando com isso impor-se ao doente. Porque "seria vergonhoso que depois de muito barulho, muita exibição e muitas palavras acabasse por chegar, no fim de contas, a coisa nenhuma". O médico deve escolher em todas as circunstâncias o meio de cura onde se encontre o mínimo de ostentação. Esta atitude é a única digna de um "homem de coração e de um homem da arte", ao mesmo tempo. Os dois termos implicam-se um ao outro, porque a arte do médico está ao serviço dos homens. Os Preceitos recordam-no numa fórmula inesquecível: "Lá onde houver amor dos homens, há também amor da arte."
A modéstia do médico resulta em primeiro lugar do amor que ele dedica à arte que exerce; o médico conhece com efeito a imensidade das exigências da sua arte; toma conhecimento delas quotidianamente no exercício da sua profissão, como toma consciência dos limites das suas capacidades. Mas em segundo lugar, porque ele ama os homens que trata, porque tem o sentimento agudo do carácter precioso e complexo da vida que deseja proteger, a modéstia impõe-se ao médico que tem em si a responsabilidade dessa vida.
O amor dos homens e o amor da arte são os dois pólos do seu humanismo. [377]
*
Insistamos, para terminar, num último aspecto, apenas indicado até aqui.
A Colecção Hipocrática nunca faz, em nenhum dos seus numerosos tratados, a menor distinção entre os escravos e as pessoas de condição livre. Uns e outros têm os mesmos direitos à atenção, ao respeito e aos cuidados do médico. Não apenas os escravos, mas os pobres, que começam a ser muitos em todo o mundo helénico, pelos finais do século v, e cuja vida, muitas vezes, não é menos dura que a dos escravos.
Nos livros das Epidemias não redigidos por Hipócrates (que indica raramente nas suas notas a profissão dos pacientes), eis algumas das profissões designadas pelo médico: carpinteiros, sapateiros, correeiros, pisoeiros, vinhateiros, hortelões, mineiros, pedreiros, mestres primários, taberneiros, cozinheiros, palafreneiros, atletas profissionais, diversos funcionários (que podem ser escravos públicos), etc. Num grande número de casos, a profissão não é dada. Há também muitas mulheres, livres ou escravas. Vê-se que estas profissões são modestas ou modestíssimas. É de crer que alguns dos operários indicados sejam escravos. Essa indicação é dada mais que uma vez.
Escravo, estrangeiro ou cidadão, para o médico não faz qualquer diferença. O autor dos Preceitos chega mesmo a pedir "que se trate com atenção particular o doente estrangeiro ou pobre".
Ora, acontece que este "preceito" é seguido, e mais do que isso. Se relermos as fichas de doentes de um só livro das Epidemias, tomado ao acaso, o quinto livro, verificamos que em cem doentes dezanove e talvez mais (é muitas vezes difícil distinguir) são seguramente escravos (doze do sexo masculino, sete mulheres). Alguns foram tratados em Larissa de Tessália, durante a estada assaz longa que ali fez o médico periodeuta que redige o livro V. Todos parecem ter beneficiado de cuidados vigilantes e prolongados. Uma das mulheres escravas morre duma afecção encefálica por altura do quadragésimo dia. depois de ter estado muito tempo sem conhecimento.
Eis o caso de um moço de cavalariça, um escravo escolhido entre estes dezanove. Tem onze anos, e foi ferido por uma patada de cavalo na testa, por cima do olho direito. "O osso parece não estar são", diz o médico, "e dele saiu um pouco de sangue. O ferido foi amplamente trepanado até à díploe (sutura de duas placas ósseas formando a superfície interna e externa do crânio). Em seguida foi tratado, conservando-se o osso a descoberto, e o tratamento [378] ressequiu a porção de osso primeiramente serrada. Por alturas do vigésimo dia, começou uma tumefacção perto da orelha, com febre e arrepios; o inchaço era mais considerável e doloroso durante o dia; o movimento febril começou por um estremecimento; os olhos tumeficaram-se, assim como a fronte e todo o rosto; o lado direito da cabeça era o mais afectado; mas a tumefacção passou também para o lado esquerdo. Não aconteceu nada de desagradável; para o fim, a febre foi menos contínua; isto durou oito dias. O ferido escapou: foi cauterizado, tomou um purgante, e teve aplicações medicamentosas sobre o inchaço. A ferida nada tinha que ver com estes acidentes."
São muito diversas as afecções de que sofrem os doentes deste livro V. Exemplo: angina, surdez, gangrena ou esfacelo, pleurisia, peripneumonia, tísica, diarreias e outras perturbações do intestino ou do estômago, tumor no ventre, perturbações da bexiga, cálculos, anorexia febril, erisipela, e muitas outras. Muitas vezes trata-se de chagas resultantes de acidentes, ou de casos de gravidez. Em geral, o médico não parece tratar ou anotar nas suas fichas senão doenças graves: não se interessa pelos pequenos achaques.
A mortalidade é muito elevada. Dos dezanove escravos tratados no livro V. doze morrem. Mas a proporção dos mortos não é menos forte para o conjunto dos doentes que para os escravos. Em quarenta e dois casos assinalados nos livros I e II das Epidemias, vinte e cinco têm desenlace mortal. Um médico do final da era pré-cristã declara que devem ser lidas as Epidemias porque elas são "uma meditação sobre a morte". Os homens desse tempo ainda morriam como moscas! E como poderia ser doutra maneira? A medicina, tal como a descrevemos. ignorando o essencial da anatomia, porque a dissecação lhe é interdita pelos costumes, não está ainda em condições de baixar a taxa "natural" da mortalidade. Natural? Quero dizer: aquela que o meio natural e o seu próprio corpo tinham fixado à espécie humana. Contudo, virá uma dia em que os médicos poderão dizer, e não só como em Molière: "Nós modificámos tudo isto."
Pelo menos entre estes homens tão perigosamente mortais, a medicina não distingue. Os escravos, para ela, são também criaturas humanas. Trata-se de um facto tão surpreendente que vale a pena pô-lo em evidência, antes de concluir. É certo que o proprietário pode ter interesse em conservar este capital humano. Mas que vale este rapaz de onze anos, cuja história contei? Menos do que nada, menos do que as despesas do prático, sem dúvida.
Aliás, o tom em que são redigidas as anotações do médico, idêntico qualquer que seja a condição social do paciente, parece revelador desse misto
[379] de interesse científico e de simpatia humana que define o humanismo de Hipócrates.
Pensemos nos dois grandes filósofos dos séculos seguintes, no seu desprezo por essas "ferramentas animadas" que são os escravos!
Pelo seu espantoso apetite de saber, pelo rigor da sua pesquisa sempre vivificada pelo raciocínio, enfim, pelo seu devotamento à criatura sofredora, por essa amizade oferecida a todos os homens sem distinção, a medicina de Hipócrates atinge o nível mais alto do humanismo de século V e ultrapassa mesmo ousadamente, neste último ponto, as maneiras de viver e de pensar desta época.
Oferecendo a todos os homens a salvação corporal que, no meio das dificuldades, procura para eles, é, nas trevas da sua ignorância, a mais bela das promessas.
Quanto ao resto, não esqueçamos as palavras de Bacon (que cito de memória): "A medicina pode mais do que julga." [380]

O túmulo do faraó Tutmósis III, no Vale dos Reis, é de difícil acesso,- primeiro temos de subir uma escada de metal instalada pelo Serviço das Antiguidades e depois entrar num estreito túnel que penetra rocha adentro. Os claustrófobos vêem-se obrigados a desistir; mas o esforço é recompensado porque, no fim da descida, descobrimos duas salas: uma de teto baixo, com paredes decoradas com figuras de divindades, e outra mais vasta, a Câmara da Ressurreição. Em suas paredes, os textos e as cenas do Amâuat, "O Livro da Câmara Oculta", revelam as etapas da ressurreição do Sol nos espaços noturnos e a transmutação da alma real no Além.
Num dos pilares, uma cena surpreendente: uma deusa, saída de uma árvore, amamenta Tutmósis III. Amamentado desse modo para a eternidade, o faraó é regenerado para sempre. O texto hieroglífico indica-nos a identidade dessa deusa de inexaurível generosidade: ísis. Mas ísis é também o nome da mãe terrena desse rei, uma mãe cujo rosto foi preservado numa estátua descoberta no famoso esconderijo do templo de Karnak:1 de faces cheias, tranqüila e elegante, a mãe real ísis exibe longas tranças e um vestido de alças. Está sentada, com a mão direita sobre a coxa, e tem na mão esquerda um cetro floral. Apenas sabemos que o filho a venerava, e que ela tinha o nome da mais célebre das deusas do Antigo Egito.
A paixão e a demanda de ísis
ísis, a Grande, reinara nas Duas Terras, o Alto e o Baixo Egito, muito antes do nascimento das dinastias. Em companhia do seu esposo Osíris, governava com sabedoria e conhecia uma felicidade perfeita. Até que Seth, irmão de Osíris, o convidou para um banquete. Tratava-se de uma cilada, pois Seth estava decidido a assassinar o rei para ocupar o seu lugar. Utilizando uma técnica original, o assassino pediu ao irmão que se deitasse num caixão para ver se era do seu tamanho. Imprudente, Osíris aceitou. Seth e seus acólitos pregaram a tampa e lançaram o sarcófago ao Nilo.
Os pormenores dessa tragédia são conhecidos graças a um texto de Plutarco, iniciado nos mistérios de ísis e Osíris,- as fontes mais antigas mencionam apenas a morte trágica de Osíris, cujas desgraças prosseguiram, pois o seu cadáver foi retalhado. Seth convenceu-se de que aniquilara o irmão para sempre.
Ísis, a viúva, recusou a morte.
Mas o que podia ela fazer, além de chorar o marido martirizado? Um projeto insano nasceu em seu coração: encontrar todos os pedaços do cadáver, reconstituí-lo e, graças à magia sagrada cujas fórmulas conhecia, restituir-lhe a vida.
Assim começou a busca de ísis, paciente e obstinada. E quase conseguiu! Todas as partes do corpo foram reunidas, menos uma: o sexo de Osíris, engolido por um peixe. Desta vez ísis tinha de desistir.
Mas não desistiu: convocou a irmã Néftis, cujo nome significa "a senhora do templo", e organizou uma vigília fúnebre.2 Eu sou a tua irmã bem- amada, disse ela ao reconstituído cadáver de Osíris, não te afastes de mim, clamo por ti! Não ouves a minha voz? Venho ao encontro, e nada me separará de ti! Durante horas, Isis e Néftis, de corpo purificado, inteiramente depiladas, com perucas encaracoladas, a boca purificada com natrão (carbonato de sódio), pronunciaram encantamentos numa câmara funerária obscura e perfumada com incenso, ísis invocou todos os templos e todas as cidades do país para que se juntassem à sua dor e fizessem a alma de Osíris regressar do Além. A viuva tomou o cadáver nos braços, seu coração bateu de amor por ele, e murmurou-lhe ao ouvido: Tu, que amas a vida, não caminhes nas trevas.
O cadáver, desgraçadamente, permaneceu inerte.
Isis transformou-se então num falcão fêmea, bateu as asas para restituir o sopro da vida ao defunto e pousou no lugar do sexo desaparecido de Osíris, que ela fez reaparecer por magia. Desempenhei o papel de homem, afirma ela, embora seja mulher. As portas da morte abriram-se diante de Isis, que conheceu o segredo fundamental, a ressurreição, agindo como nenhuma deusa o fizera antes: ela, a quem chamavam "a Venerável, nascida da Luz, saída da pupila de Aton (o princípio criador)", conseguiu fazer regressar aquele que parecia ter partido para sempre e ser fecundada por ele.
Assim foi concebido o seu filho Hórus, nascido da impossível união da vida e da morte. Um acontecimento importante, porque este Hórus, filho do mistério supremo, foi chamado a ocupar o trono do pai, doravante monarca do Além e do mundo subterrâneo.
Seth não se deu por vencido. Só havia uma solução: matar Hórus. Ciente do perigo, ísis guardou o filho entre os papiros do Delta. Não faltaram perigos -— a enfermidade, as serpentes, os escorpiões, o assassino que ronda... Mas Isis, a Maga, conseguiu preservar seu filho Hórus de todas as desgraças.
Seth não admitiu o fracasso e contestou a legitimidade de Hórus, que era no entanto sobrenatural, convocando então o tribunal das divindades para conseguir a condenação do herdeiro de Osíris. Como o tribunal se reuniu numa ilha, Seth usou o seu engenho para que uma decisão iníqua fosse adotada: o barqueiro devia impedir as mulheres de entrarem em sua barcaça, e assim Isis não poderia defender a sua causa.
Mas iria a viúva desistir, ao cabo de tantas provações? Por conseguinte, ela convenceu o barqueiro, oferecendo-lhe um anel de ouro,- apresentou-se diante do tribunal, venceu a má fé e os argumentos infundados, e fez aclamar Hórus como faraó legítimo.
Esposa perfeita, mãe exemplar, Isis tomou-se também a responsável pela transmissão do poder régio — aliás, o seu nome significa "o trono". Percebe-se que, segundo o pensamento simbólico egípcio, é o trono ou, por outras palavras, a Grande Mãe, a rainha ísis, que gera o faraó.
Isis, maga e sábia
Isis é a mulher-serpente3 que se transforma em uraeus, a naja fêmea que se ergue na fronte do rei para destruir os inimigos da Luz,- uma desastrosa evolução e o desconhecimento do símbolo primitivo tomaram a boa deusa-serpente no réptil tentador do Gênesis que causa a perdição do primeiro casal. ísis e Osíris, pelo contrário, afirmam a vivência de um conhecimento luminoso graças ao amor e ao que está para além da morte.
Sob a forma da estrela Sótis, ísis anuncia e desencadeia as cheias do Nilo; debruçada em choro sobre o corpo de Osíris, faz subir as águas benfazejas que depositam o limo nas margens e asseguram a prosperidade do país — aliás, a cabeleira de ísis não forma os tufos de papiros emergindo do rio?
Essa magia cósmica de ísis nasce da sua capacidade para conhecer os mistérios do universo e, entre eles, o nome secreto de Rá, encarnação da Luz divina. É certo que o coração de Isis era mais hábil do que o dos bem-aventurados e que era conhecida dos céus e da Terra, ignorando apenas o famoso nome secreto de Rá, que este não confiara a ninguém, nem mesmo às outras divindades. Isis lançou-se ao assalto do bastião: recolheu um escarro de Rá, amassou-o com terra e formou uma serpente. Escondeu o réptil sagrado num arbusto que ficava no caminho do deus e, quando este passou, o réptil o mordeu. O coração de Rá ardeu e, depois de tremer, os seus membros arrefeceram. Embora fora do alcance da morte, o veneno causou-lhe grande sofrimento, e ninguém conseguiu curá-lo.
ísis decidiu intervir e restituir-lhe a saúde, contanto que Rá lhe confiasse o seu nome secreto. O divino Sol tentou enganá-la, confiando-lhe vários nomes, mas nunca mencionando o nome correto. Intuitiva, ísis não se deixou enganar, e Rá, exausto, foi obrigado a revelar-lhe o seu verdadeiro nome. ísis curou-o... e guardou o segredo para sempre.
Os lugares de ísis
Cada parte do corpo de Osíris deu origem a uma província, e assim todo o Egito foi assimilado ao seu ressuscitado esposo, animando a totalidade do país. ísis sentia-se, pois, em toda parte como na sua própria casa.
Por isso, quando percorremos o Egito, descobrimos três lugares particularmente ligados a ísis, de norte para sul: Behbeit el-Hagar, Dendera e Filae.
Behbeit el-Hagar, no Delta, é um local desconhecido dos turistas. Uma vez saídos de um labirinto de ruelas, sofremos uma viva decepção quando chegamos lá. O que resta do grande templo de ísis, além de um monte de enormes blocos de granito ornados de cenas rituais? ísis foi venerada ali, mas o seu templo foi destruído e utilizado como pedreira, sem nenhum respeito pelo seu caráter sagrado. É impossível deixar de pensar na época em que ali se erguia um santuário colossal dedicado à senhora dos céus.
O nascimento de ísis é situado simbolicamente em Dendera, no Alto Egito. O santuário da deusa Hathor está parcialmente conservado, mas o templo coberto e o mammisi (templo do nascimento de Hórus) existem ainda, bem como um pequeno santuário, onde, segundo os textos, a bela ísis veio ao mundo com uma pele rosada e uma cabeleira negra. Foi a deusa dos céus que lhe deu vida, enquanto Amon, o princípio oculto, e Chu, o ar luminoso, lhe concediam o sopro vital.
Na fronteira meridional do Antigo Egito reina Filae, a ilha-templo de ísis,- ali viveu a derradeira comunidade iniciática egípcia, aniquilada por cristãos fanáticos. Ameaçados de destruição pela inundação do "alto dique" — a grande barragem de Assuã—, os templos de Filae foram desmontados pedra por pedra e reconstruídos numa pequena ilha vizinha. A "pérola do Egito" foi salva das águas. A visão daquele lugar constitui uma experiência inesquecível. De acordo com a vontade dos egípcios, os ritos continuam a ser celebrados graças aos hieróglifos gravados na pedra,- a presença de Isis é inteiramente palpável, e ouvem-se as palavras pronunciadas nas cerimônias pelas sacerdotisas da grande deusa: Isis, criadora do universo, soberana do céu e das estrelas, senhora da vida, regente das divindades, maga de excelentes conselhos, Sol feminino que tudo marca com o seu selo; os homens vivem às tuas ordens, sem o teu acordo nada se faz4.
A eternidade de Isis
Vitoriosa sobre a morte, isis sobreviveu à extinção da civilização egípcia, desempenhando um importante papel no mundo helenístico até o século V seu culto espalhou-se por todos os países da bacia mediterrânica e mais além.
Tornou-se a protetora de numerosas confrarias iniciáticas, mais ou menos hostis ao cristianismo, que a consideravam o símbolo da onisciência, detentora do segredo da vida e da morte, e capaz de assegurar a salvação dos seus fiéis5.
Mas Isis não exigia apenas uma simples devoção, - para a conhecerem, seus adeptos deviam sujeitar-se a uma ascese, não se contentando com a crença, mas subindo na escala do conhecimento e transpondo os diversos graus dos mistérios.
Sendo o passado, o presente e o futuro, a mãe celestial de infinito amor, Isis foi durante muito tempo uma temível concorrente do cristianismo. Mas nem mesmo o dogma triunfante conseguiu aniquilar a antiga deusa; no hermetismo, tão presente na Idade Média, ela continuou sendo "a pupila do olho do mundo", o olhar sem o qual a verdadeira realidade da vida não poderia ser apercebida. Aliás, não se dissimulou ísis sob as vestes da Virgem Maria, tomando o nome de "Nossa Senhora" à qual tantas catedrais e igrejas foram dedicadas?
Isis, modelo da mulher egípcia
Uma civilização molda-se de acordo com um mito ou conjunto de mitos. Todavia, no mundo judaico-cristão, Eva é pelo menos suspeita, e daí o inegável e dramático déficit espiritual das mulheres modernas que se regem por esse tipo de crença. Isso não acontecia no universo egípcio, pois a mulher não era fonte de nenhum mal ou deturpação do conhecimento. Muito pelo contrário,- era ela que, através da grandiosa figura de Isis, enfrentava as piores provações, tendo descoberto o segredo da ressurreição.
Modelo das rainhas, Isis foi também o modelo das esposas, das mães e das mulheres mais humildes. Aliava à fidelidade uma indestrutível coragem perante a adversidade, uma intuição fora do comum e uma capacidade fantástica para penetrar nos mistérios. Por conseguinte, a sua busca servia de exemplo a todas quantas procuravam viver a eternidade.

Sabemos agora, graças à onomástica, que os Semitas estão estabelecidos na Babilônia e na Suméria desde as origens da história. De resto, um texto de Abu Salabih esta escrito em língua Acadiana. Há, pois, que considerar a sociedade mesopotâmica, no III milênio, como uma sociedade bilíngüe, mesmo admitindo que o elemento cultural sumério seja nela o mais forte. Através das fontes, textos oficiais, contratos de cessão de bens imobiliários, textos administrativos e econômicos, transparece a imagens de um sistema socioeconômico dominado pelo confronto entre duas concepções antinômicas das relações sociais de produção. Em resumo, assiste-se, ao longo do segundo terço do III milênio - e provavelmente já há muito tempo -, ao abandono progressivo de uma economia domestica de auto-subsistência, em que a circulação dos bens, encerrados num tecido de laços muito complexos e socialmente valorizados, seguia os esquemas da dádiva, da prestação e da redistribuição, e cujo grupo social de base era a comunidade domestica não igualitária, coletivamente gestionária da terra, geralmente dividido em classes de idades; em seu lugar, a Mesopotâmia opta por um sistema de economia complementar que considera os bens como mercadorias e em que a terra é objeto de uma apropriação individual. A hierarquia social reflete a desigualdade da repartição do acréscimo de produção, estando a sociedade dividida, para nós ficarmos por uma apreciação, muito geral, entre ricos e pobres.
A historia da Mesopotâmia é dominada, ao longo da época, pelas interferências entre estas duas concepções. Daí resultam tensões difusas e locais, por vezes breves incidentes de percurso. A sociedade já não esta em condições de impor as suas normas; as celebres "reformas" de Uru'inimgina são um testemunho precioso, embora muito obscuro, desse estado de coisas. O fato mais importante é de caráter irreversível e o progressivo desaparecimento dos grandes patrimônios, geridos coletivamente, e o açambarcamento da terra por indivíduos que se tornam seus proprietários. Ignoramos tudo acerca de um pequeno campesinato independente cuja existência não podemos avaliar e que está condenado, de fato, a uma agricultura de subsistência. Nesta época, a estrutura econômica dominante é a grande exploração agrícola, quer se trate do palácio real, do templo ou do domínio privado. É principalmente o arquivo do domínio da rainha, em Girsu, que nos esclarece quanto ao seu funcionamento e a sua organização.
Os bens fundiários estão repartidos em três lotes principais: domínio do "senhor", destinado às necessidades do culto, as terras de subsistência, destinadas ao sustento do pessoal, e as terras de lavoura, dadas em arrendamento. Para a manutenção das suas terras e o funcionamento das suas oficinas e armazéns, o mesmo domínio emprega cerca de 1200 pessoas que pertencem a todos os ofícios necessários ao bom andamento de uma célula econômica autônoma: agricultores, jardineiros, pastores, ferreiros, tecelões, operários da construção. A administração destes bens está confiada a um intendente, ficando a direção nas mãos, de um sanga.
Os rendimentos das explorações agrícolas e os dos arrendamentos constituem a principal fonte de riqueza do domínio. O comercio longínquo proporciona metais e pedras preciosas que se vão procurar até ao Egito ou nas regiões do Indo. Os gastos não são descuráveis: necessidades do culto, pagamento dos produtos importados, remuneração do pessoal que é feita em gêneros.
Só para a cidade de Lagash são conhecidos uns vinte templos. Todos eles prestam contas a uma instância central: o ê.gal. É impossível saber Se se trata do palácio do ensi ou do templo principal, já que ê.gal significa "grande casa" e tanto pode designar um como o outro.
O palácio, residência do rei, apresenta-se como um vasto complexo de mesmo tipo que o do templo, com a particularidade de o elemento militar desempenhar nele um papel essencial. Tal é, pelo menos, o caso em Shuruppak onde as tabuinhas fazem menção de listas de tropas e de reparação de carro. Os efetivos são, geralmente, pouco elevados, entre 500 e 700 homens; as inscrições reais tem uma forte propensão para aumentá-los exageradamente.
A vida de uma cidade está admiravelmente resumida em alguns traços, pelos dois painéis do celebre "estandarte de Ur", que figura respectivamente os trabalhos da guerra e da paz. O "estandarte", descoberto nos túmulos de Ur, é de fato um cofrezinho de madeira revestido com um mosaico de conchas. As cenas representadas estão dispostas em registros. Do lado da guerra, carros e homens de armas pisam os cadáveres de inimigos vencidos. Armados de lanças e de machados, os soldados usam capacete e capa cravejada. Prisioneiros nus e amarrados de pés e mãos são arrastados perante o rei que se mantém no meio do registro superior. Do lado da paz homens conduzem onagros ou levam fardos, outros tocam animais destinados ao sacrifício ou ao banquete que, acompanhado por uma orquestra, se desenrola no registro superior na presença do rei.

Denominada dessa forma pelos egiptólogos do século XIX, essa obra é um conglomerado de fórmulas mais ou menos longas, enriquecidas de ilustrações [chamadas "vinhetas"), necessárias para o acompanhamento do defunto no túmulo e no além. Atestado desde o Novo Império (1580-1085 a.e.c.), refere-se a todos os indivíduos, excluído o faraó, cuja sobrevida requer rituais específicos. Sem dúvida composto na região de Tebas, o Livro dos mortos é designado pelos escribas com o nome de Rolo de saída ao dia, contém, com efeito, conselhos dados ao defunto para sair de seu túmulo durante o dia e seguir o curso do Sol. Com suas variantes, se compõe de quatro partes (divididas em capítulos): Sair e caminhar para a necrópole, dirigir orações a Rá e a Osíris; Sair e regenerar-se, lutar contra todos os inimigos, procurar a presença mágica; transfiguração do defunto, utilização do barco divino, julgamento perante o tribunal divino; As glorificações do defunto, entre as quais alguns rituais para festas fúnebres. Remonta a fontes muito antigas, como os textos dos sarcófagos (Médio Império). A redação desses textos mescla fórmulas religiosas com fórmulas mágicas, algumas das quais remontam aos textos das pirâmides (que apareceram no reinado do rei Unas, Antigo Império, 5ª dinastia), em princípio destinados unicamente aos faraós. Um contexto de enfraquecimento do poder central explica talvez a usurpação, por altos funcionários das provinciais, de alguns privilégios faraônicos.

A percepção da música na antiguidade era muito mais abrangente no uso dos sentidos e na proposta de harmonização entre homem e universo.

O que opõe o Norte industrial ao Sul agrícola é uma divergência mais de ordem econômica: o primeiro é protecionista, o segundo quer a liberdade de comércio. Não é, portanto, a questão do escravismo que pode explicar a origem das hostilidades e de um conflito que causará a morte de mais de 600 mil estadunidenses

Mesmo se o desejasse, no terceiro quarto do século V a.e.c., Atenas não poderia pretender ser reconhecida como a capital política do mundo grego. Também não era a capital economica. Há, porém, um domínio no qual da pôde legitimamente ser considerada capital do mundo grego: o do pensamento e das boas-artes.

Conhecida como Idade das trevas, o período que ficou oficialmente batizado como Idade Média é lembrado como uma série de perseguições religiosas, reinados poderosos, cavaleiros andantes e o total controle da Igreja Católica exercia sobre a vida de seus seguidores.
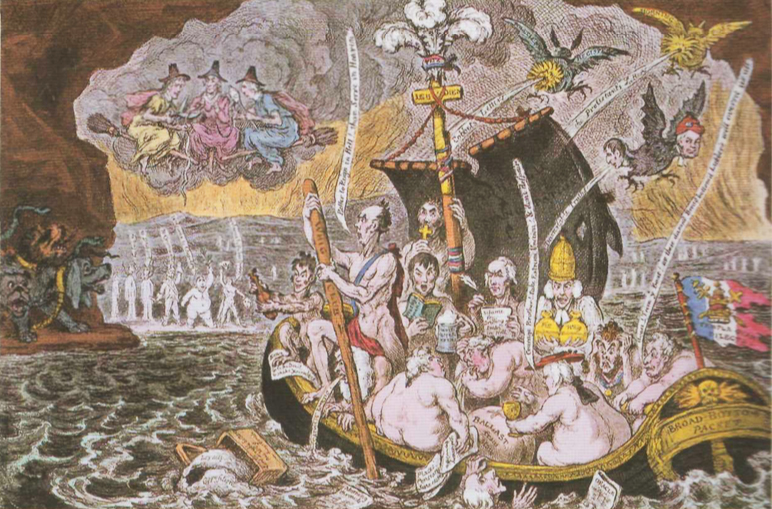
Na Grécia Clássica, a crença de que os rituais fúnebres tinham de ser feitos corretamente ao morto era muito importante. Estes tanto podiam ser a cremação ou um enterro, em que o morto levava uma moeda na boca para pagar ao barqueiro Caronte para atravessar a alma
do morto pelo rio Estige até ao mundo dos mortos. Os que fossem deixados sem funeral, ou sem a moeda, ficavam para sempre na margem do Rio Estige e voltavam para dar caça aos vivos.Também os que morriam afogados e cujos corpos não eram nunca recuperados, ficavam ao lado do Rio Estige como almas penadas. Aqueles a quem era facultado um funeral em condições não tinham um destino muito mais animado. já que se tornavam sombras cinzentas e chilreantes no reino de Hades, mas pelo menos ficavam onde pertenciam.

Uma das características essenciais da filosofia dos gregos — e, antes, sob certo aspecto, a característica da qual dependem largamente todas as outras — consiste na pretensão, nela alojada desde as origens (e mantida no curso de cerca de doze séculos), de medir-se com a totalidade das coisas, ou seja, com o todo do ser. Aqui queremos fornecer, como complemento ao que dissemos, uma documentação que ilustre de maneira essencial este conceito capital e alguns conceitos corolários estreitamente ligados a ele.
A aspiração a medir-se com o todo constitui o que podemos chamar de cifra ontológica ou metafísica da especulação antiga. É sobre esta cifra que devemos, antes de tudo, nos deter.
Que se entende, exatamente, quando se fala da “totalidade das coisas” ou da “totalidade da realidade” como objeto da filosofia, e, portanto, do todo?
A totalidade não é só o conjunto das coisas individuais; e isso significa que o todo não é mera soma das partes. Em poucas palavras, no problema do todo não está em questão a quantidade da realidade que se quer dominar, mas a qualidade da aproximação a essa realidade, ou seja, a angulação em função da qual se quer dominá-la. Quando se diz que “o filósofo aspira a conhecer todas as coisas enquanto isto é possível" — explica exatamente Aristóteles — não se quer dizer que o filósofo aspira conhecer cada realidade individual, mas que ele visa conhecer o universal no qual entram todas as coisas particulares, ou seja, o universal que dá sentido aos particulares, unificando-os. E o universal do qual agora se fala não é o universal lógico, vale dizer, uma pura abstração, mas um princípio (ou alguns princípios) supremo e imprincipiado, sempre igual a si mesmo, do qual todas as coisas derivam, pelo qual são sustentadas e ao qual também tendem.
A pergunta pelo todo, portanto, coincide com a pergunta pelo princípio fundante e assim unificante da multiplicidade. Podemos também dizer que a pergunta pelo todo coincide com a pergunta pelo porquê último das coisas, enquanto é justamente esse porquê último [205] que, enquanto explica todas as coisas, constitui o horizonte da compreensão de todas as coisas.
Já os naturalistas pré-socráticos, a começar pelo primeiro deles, ou seja, Tales, perseguiram esse conceito de filosofia, como resulta largamente confirmado pelos fragmentos e testemunhos que nos chegaram, e como já Aristóteles observava com perfeita consciência crítica numa famosa página da sua Metafísica:
A maioria dos que por primeiro filosofaram pensaram que princípio de todas as coisas eram unicamente princípios materiais. De fato eles afirmam que aquilo do que todos os seres são constituídos e aquilo do que derivam originariamente e no que finalmente se dissolvem, é elemento e princípio dos seres, enquanto realidade que permanece idêntica mesmo na mutação das suas afecções. E, por esta razão, eles crêem que nada se gera e nada perece, uma vez que tal realidade se conserva sempre. E como não dizemos que Sócrates se gera, em sentido absoluto, quando se torna belo ou músico, nem dizemos que perece quando perde esses modos de ser, pelo fato de que o substrato — ou seja, Sócrates mesmo — continua a existir, assim devemos dizer que não se corrompe, em sentido absoluto, nenhuma das outras coisas: com efeito, deve haver alguma realidade natural (uma única ou mais de uma) da qual derivam todas as outras coisas, enquanto essa continua a existir sem mudança1.
Nesta passagem, Aristóteles reconhece que a pesquisa desenvolvida pelos naturalistas dirigia-se ao todo. Ele, todavia, sublinha os limites das soluções propostas por esses pensadores, observando que os princípios aos quais visavam eram materiais. Em outro lugar, ele reafirma os limites, que poderemos chamar de fisicistas, desses pensadores, que consistem no fato de não terem sabido alcançar uma visão dos entes suprafísicos. Dito em termos precisos, os limites dos naturalistas, para Aristóteles (como, de resto, também para Platão), consistem: a) em ter acreditado que só existe o ser físico e b) em ter, conseqüentemente, acreditado que podiam explicar esse ser físico com princípios físicos.
Em que sentido, então, pode-se igualmente afirmar que, embora dentro desses limites, a pesquisa dos naturalistas constitui uma verdadeira pesquisa sobre o todo? [206]
O próprio Aristóteles pôs e resolveu corretamente o problema, observando que os naturalistas limitaram-se à physis, mas concordaram que tal physis era toda a realidade e todo o ser e, consequentemente, consideraram que pesquisavam sobre toda a realidade e sobre todo o ser. Portanto, a pesquisa dos naturalistas foi uma pesquisa sobre o todo, à medida que ela se apresentava como abrangendo todo o ser.
Ainda Aristóteles, para determinar de modo adequado o todo, cunhou a expressão “ser enquanto ser”. Todas as artes e as ciências particulares têm a ver com os seres, mas nenhuma delas indaga sobre estes seres justamente sob o aspecto do ser. Portanto, as ciências particulares estudam, cada uma delas, apenas uma parte, num porção, uma seção do ser e, ademais, não na peculiar dimensão do ser. Conseqüentemente, as causas e princípios que as ciências particulares indagam só valem para aqueles determinados setores do ser que elas têm como objeto, enquanto as causas e os princípios que o filósofo pesquisa na pura dimensão do ser são os que unificam e explicam todos os seres, sem exceção. É precisamente este o sentido da pergunta pelo todo.
Eis duas passagens da Metafísica exemplares a este respeito:
Há uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares: de fato, nenhuma das outras ciências considera o ser enquanto ser universalmente, mas, depois de ter delimitado uma parte dele, cada uma estuda as características dessa parte. Assim fazem, por exemplo, as matemáticas2.
Objeto da nossa pesquisa são os princípios e as causas dos seres, entendidos enquanto seres. De fato, há uma causa da saúde e do bem-estar; existem causas, princípios e elementos também dos objetos matemáticos e, em geral, toda ciência que se funda sobre o raciocínio e, em alguma medida tal uso do raciocínio trata de causas e princípios mais ou menos exatos. Todavia, todas essas ciências são limitadas a determinado setor ou gênero do ser e desenvolvem a sua pesquisa em torno a isso, mas não em torno ao ser considerado em sentido absoluto e enquanto ser3.
[207]
Para resolver essa dificuldade, perguntamo-nos, em primeiro lugar, que tipo de problema Sócrates se pôs sobre o homem e que tipo de resposta ele deu.
Pois bem, todos os testemunhos à nossa disposição permitem-nos com segurança estabelecer que Sócrates simplesmente deslocou sobre o homem aquele tipo de pergunta que os naturalistas punham sobre o cosmo. Eles pretendiam explicar todas as coisas relativas ao universo, reduzindo-as à unidade de um princípio (ou de alguns princípios); Sócrates pretendia, ao invés, explicar todas as coisas relativas ao homem e à sua vida, também reduzindo-as à unidade de um princípio: queria chegar à essência do homem e, em função desta, reinterpretar toda a vida do homem. Portanto, a pesquisa socrática nada tem a ver com todas as outras ciências “particulares” relativas ao homem, como a ciência médica ou a ginástica. Estas ciências só se ocupam de partes, ou seja, de aspectos do homem, não do homem todo, no sentido que estabelecemos. E depois do nascimento das numerosas ciências humanas no final do século passado, como a sociologia, a psicologia e semelhantes, os exemplos poderiam se multiplicar. O que foge estruturalmente a estas ciências é, justamente, aquele todo do homem que interessava a Sócrates, e que, em última análise, é o específico da filosofia ainda hoje. (A esta consideração, à guisa de corolário, poder-se-ia acrescentar uma ulterior, sobre a qual não queremos insistir, à medida que serve simplesmente como reforço. Considerando apenas os Memoráveis de Xenofonte — cuja autenticidade sobre este ponto não pode ser posta em dúvida — Sócrates ocupou-se também de Deus e tentou fornecer algumas “provas” racionais a favor da sua existência, com uma técnica e com perspectivas que, até mesmo, servem de prelúdio às metafísicas de Platão e de Aristóteles.
O problema relativo aos filósofos da era helenística é imediatamente resolvido, tão logo se considere o fato de que eles polarizaram os seus interesses sobre a ética, mas situaram as suas éticas num enfoque bem preciso do ser e do cosmo, inclusive em nível temático. Para os filósofos da era imperial, enfim, o problema não se põe, porque eles voltaram à concepção metafísica de Platão e de Aristóteles.
Conseqüentemente, não é de admirar o fato de que Marco Aurélio e Plotino, embora abissalmente distantes entre si, possam escrever, concordemente, que o filósofo [...] deve olhar para o todo.
Em suma: das origens ao fim, os gregos consideraram a filosofia como a tentativa de compreender todas as coisas, reportando-as ao seu fundamento último, ou seja, a tentativa de medir-se com o todo.
Portanto, a seguinte afirmação platônica pode, verdadeiramente, ser considerada o selo desta concepção:
Quem é capaz de ver o todo é filósofo, quem não, não é4.
A filosofia como necessidade primária do espírito humano
Submerso em tantos problemas, por que o homem deve pôr-se também o problema do todo? Não é este, talvez, um problema de luxo? Pior ainda — poderá talvez pensar algum leitormodierno — não é porventura um problema superado, tornado irremediavelmente arcaico pelas novas ciências e, portanto, hoje em dia não mais possível de ser posto?
Também a resposta a esta interrogação nos vem de Aristóteles, o qual, ao fornecê-la, explorou a fundo a mensagem dos seus predecessores.
Logo na abertura da Metafísica, ele escreve:
Todos os homens por natureza desejam o saber5.
Este mesmo conceito é expresso também no Protrético do seguinte modo: [212]
O exercício da sabedoria e o conhecimento são desejáveis por si mesmos pelos homens: com efeito, não é possível viver humanamente sem essas coisas6.
O “desejo” de conhecer inscreve-se, portanto, no próprio ser do homem, revelando-se assim algo sem o qual a própria natureza do homem é comprometida.
Note-se: não se trata apenas de um genérico desejo de conhecer, mas, justamente, de um desejo de alcançar aquele particular tipo de conhecimento do qual falamos acima.
A demonstração desta asserção é feita mediante uma análise fenomenológica e também mediante uma aguda exploração das opiniões comuns de todos os homens.
Que o desejo de conhecer seja um traço essencial da natureza do homem resulta evidente do fato de todos nos deleitarmos com as sensações, particularmente com a visão, por ser esta a que mais nos faz conhecer. E como entre as várias sensações amamos a visão mais do que as outras porque mais nos faz conhecer, assim, analogamente, entre as várias formas de conhecimento que se seguem às sensações, apreciamos sobremaneira aquelas que mais nos fazem conhecer. Além da sensação, com efeito, existem a memória, a experiência e também a ciência. Mas todos os homens apreciam mais a arte e a ciência que a experiência, embora quem tem experiência às vezes (ou amiúde) move-se mais agilmente na esfera da atividade prática do que quem possui a ciência. Isto se verifica pelo fato de que a experiência nos faz conhecer apenas o quê das coisas, ou seja, os fatos e alguns dos seus nexos empíricos, enquanto a ciência nos faz remontar ao porquê dos fatos, ou seja, à causa e ao princípio que os determinam. E ainda, entre as ciências, nós apreciamos mais a que é capaz de nos fazer conhecer não só algumas coisas, mas todas as coisas, ou melhor, não apenas as causas de algumas coisas, mas as causas de todas as coisas, ou seja, a sapiência, aquela que, justamente, se refere ao todo.
De modo análogo, já no Protrético, Aristóteles explicava que nós amamos viver por causa das sensações e, ulteriormente, que amamos a sensação pelo seu valor de conhecimento; mas, dado que a ciência [213] nos faz conhecer a verdade (o todo) na mais alta medida possível ao homem, então é justamente a esta que naturalmente nós tendemos:
Ora, o viver distingue-se do não-viver por causa da sensação e define-se pela presença da faculdade de sentir, e tirando esta, não vale mais a pena viver, como se se tirasse com o sentido o próprio viver. Entre os sentidos distingue-se a faculdade da visão pelo fato de ser a mais clara, e por isso também a amamos mais do que as outras faculdades. Mas cada sentido é faculdade de conhecer por meio do corpo, como o ouvido ouve os sons através das orelhas. Portanto, se o viver é desejável por causa do sentido, e o sentido é uma forma de conhecimento, e nós o amamos pelo fato de que, por meio dele, a alma tem a faculdade de conhecer, e antes dissemos que entre duas coisas é sempre mais desejável aquela a que pertence em maior medida esse atributo, então entre os sentidos a vista será o mais desejável e apreciável de todos; mas desta e de todas as outras faculdades e do próprio viver será mais desejável a sapiência, que goza de um poder maior diante da verdade. Conseqüentemente todos os homens perseguem sobretudo o exercício da sapiência. De fato, amando o viver, eles amam o exercício da sapiência e o conhecimento, pois não é por nenhuma outra razão que apreciam o viver, senão pelo sentido e sobretudo pela vista. E parecem amar essa faculdade no mais alto grau, porque ela, com relação aos outros sentidos, é como uma ciência pura e simples.
Esse desejo de conhecer, no homem, exprime-se de modo particular no sentimento de admiração.
Já Platão escrevia:
E é próprio do filósofo admirar-se, e o filosofar não tem outra origem senão o estar pleno de admiração7
E Aristóteles, retomando e desenvolvendo esse conceito, precisa:
[...] Os homens começaram a filosofar, agora como no princípio, por causa da admiração: enquanto no princípio ficavam maravilhados diante das dificuldades mais simples, em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a pôr problemas sempre maiores, como os problemas relativos aos fenômenos da lua e os do sol e dos astros, e os problemas relativos à origem de todo o universo8.
[214]
Duas considerações se impõem a este respeito.
Uma primeira refere-se ao sentido da admiração. Considerada em si mesma, ela implica ignorância diante das dificuldades que progressivamente se encontram; mas, ao mesmo tempo, ela implica também algo mais, vale dizer, o fato de nos dar conta de estar em falta e de carecer de alguma coisa e, portanto, a aspiração a sair da ignorância. A admiração, portanto, é uma espécie de falta que sabe ser tal e, assim, é também necessidade do que a preenche.
A segunda refere-se ao progressivo crescimento da própria admiração, a qual — diz Aristóteles — primeiro surge diante de fenômenos mais elementares, depois diante dos mais complexos fenômenos celestes e, por último, dirige-se a problemas relativos à “origem do universo” e, portanto, dirige-se ao todo.
Justamente essa admiração, surgida no homem que se põe diante do Todo e pergunta qual é a sua origem e o seu fundamento, é a raiz da filosofia. E se é assim, a filosofia é, estruturalmente, ineliminável, justamente porque é ineliminável a admiração diante do ser, do mesmo modo como o é a necessidade de satisfazê-la.
Por que há o todo'? De onde ele veio? Qual é a sua razão de ser? Esses problemas equivalem ao seguinte: por que há o ser e não o nada? E um momento particular desse problema geral é o seguinte: por que existe o homem? Por que cada um de nós existe?
Como é evidente, trata-se de problemas que o homem não pode deixar de se pôr ou, pelo menos, são problemas que, à medida que são rejeitados, diminuem aquele que os rejeita. Portanto, são problemas irrenunciáveis e, ademais, são problemas que, mesmo depois do nascimento das modernas ciências naturais e das contemporâneas ciências humanas, permaneceram intactos quanto às suas instâncias e seu valor, justamente porque nenhuma das ciências naturais nem das humanas diz respeito ao todo do ser, ou seja, às causas últimas da realidade e do homem.
Por estas razões, portanto, poderemos repetir com Aristóteles que, não só na origem, mas também agora, a velha pergunta pelo todo do ser tem sentido, e terá sentido enquanto o homem experimentar “admiração” diante do ser das coisas e do seu próprio ser. [215]
O escopo da filosofia como contemplação do ser
Uma vez explicada a origem, é fácil explicar também o fim, ou seja, o escopo da filosofia segundo os gregos. Se a origem do filosofar é uma necessidade de conhecimento e de saber, o fim deverá ser, justamente, o apaziguamento ou, pelo menos, a tendência ao apaziguamento desta necessidade, como já se disse, e, portanto, o conhecimento buscado e conseguido em si mesmo e não por escopos ulteriores. Em suma, o fim é o conhecimento pelo conhecimento ou, como diziam os gregos, o theorein, o conhecimento como pura atitude contemplativa do Verdadeiro.
Para compreender a fundo este ponto, a comparação com as ciências particulares é iluminadora. As técnicas e as ciências particulares são dirigidas, normalmente, à realização de escopos empíricos e à atuação de fins pragmáticos bem precisos. Elas têm, indubitavelmente, também um valor cognoscitivo; todavia, este não está em primeiro plano à medida que, justamente, não constitui o seu fim, o qual, como dissemos, consiste na produção de determinadas vantagens de ordem prática (para a medicina a cura, para a arquitetura a construção, e assim por diante). Dado que é essencial para as ciências particulares alcançar escopos práticos, elas não valem tanto em si mesmas, quanto (ou, pelo menos, prioritariamente) à medida que são capazes de realizar os seus fins. Ao contrário, a filosofia vale justamente pela sua teoricidade, ou seja, pela sua carga e pelo seu valor cognoscitivo.
A tradição antiga reconhecia já na atitude do primeiro dos filósofos gregos, Tales, esta cifra teórica. Mais ainda, Aristóteles reconhecia certa carga teórica até nos criadores de mitos teogônicos e cosmogônicos, enquanto os mitos respondem (embora em nível fantástico-poético) à necessidade mesma da qual nasce a filosofia, vale dizer, a admiração.
Mas eis uma passagem de Platão na qual Tales é proposto como símbolo da “vida teorética”:
Sócrates — [...] de conversas como estas e semelhantes [que se referem às pequenas coisas e às mesquinharias da vida cotidiana] o filósofo não sabe [216] nada mais do que aquele que saiba, como se diz, quantos copos de água há no mar. E nem sequer sabe que ignora tudo isso; pois ele se mantém longe de ter fama de homem singular. E a verdade é que só pelo seu corpo ele está presente na cidade, mas não pela sua alma, a qual, considerando todas essas coisas como pouco e até mesmo nada, e desprezando-as profundamente, voa, como diz Píndaro, por toda parte, e ora desce ao mais profundo da terra, ora mede a sua superfície, ora sobe ao céu para contemplar estrelas, e investiga em todos os pontos a natureza dos seres, cada um na sua universalidade, sem jamais se abaixar a nada de particular entre os objetos que lhe são próximos.
Teodoro — Que queres dizer com isso, Sócrates?
Sócrates — Aquilo mesmo, Teodoro, que se conta de Tales, o qual, enquanto estava contemplando as estrelas e tinha os olhos voltados para o alto, caiu num poço; e então uma sua serva da Trácia, faceira e graciosa, zombou dele dizendo que se empenhava grandemente em conhecer as coisas do céu, mas não via as que tinha diante de si e sob os pés. Esse mote pode muito bem ser aplicado a todos os que professam a filosofia. Porque o filósofo, na verdade, não só não se preocupa com o que está perto, nem com o que faz o seu vizinho, e ignora até mesmo se é um homem ou um animal; mas se se trata de saber o que é o homem, e o que convém à natureza do homem, à diferença de todos os outros animais, fazer ou padecer, ele empenha nisso todo o seu estudo. Compreendes ou não o meu pensamento, Teodoro?9
Análoga atitude a tradição antiga referia a Pitágoras e a Anaxágoras, como lemos num fragmento do Protrético de Aristóteles:
Qual é, então, o escopo em vista do qual a natureza e Deus nos geraram? Interrogado sobre isso, Pitágoras respondeu: “A observação do céu”, e costumava dizer que era um dos que especulava sobre a natureza e que em vista desse escopo tinha vindo ao mundo. E dizem que Anaxágoras, interrogado sobre qual seria o escopo em vista do qual alguém podia desejar ter sido gerado e viver, respondeu: “a observação do céu e dos astros que estão nele, a lua e o sol”, como se não considerasse dignas de qualquer valor todas as outras coisas10.
É quase desnecessário observar que o “céu” e o “mundo”, nesse contexto, significam o todo, no sentido em que acima precisamos: no sentido em que, ignorando o transcendente, para estes filósofos, o horizonte do cosmo coincidia com o horizonte do todo. [217]
A concepção platônica é expressa de maneira paradigmática já na passagem do Teeteto que lemos acima, mas importa referir ainda uma passagem, tão bela quanto eficaz, da República:
E os verdadeiros filósofos [...] quem são para ti? Os que amam contemplar a verdade11.
E com a contemplação cia Verdade, Platão entende a contempla ção do Absoluto.
Em Aristóteles, a contemplação desinteressada como cifra do filosofar, além da página exemplar da Metafísica lida acima (assim como em célebres passagens da Ética Nicomaquéia), é expressa num fragmento do Protrético que vale a pena ler:
Buscar que de cada ciência derive algo diferente e que ela deva ser útil, é próprio de quem ignora completamente quão diferentes são desde o início as coisas boas das necessárias: estas, na realidade, diferem ao máximo. Aquelas, com efeito, entre as coisas sem as quais é impossível viver, que são amadas por causa de outra coisa, devem ser chamadas coisas necessárias e causadas, enquanto as que são amadas por si mesmas, mesmo quando nada diferente derive delas, devem ser chamadas coisas propriamente boas. Isto porque não é possível que determinada coisa seja desejável por causa de outra, esta por causa de outra e assim por diante ao infinito; mas a um certo ponto deve-se parar. Seria, portanto, totalmente ridículo buscar de cada coisa uma vantagem diferente da própria coisa e perguntar: “Que vantagem, pois, nos decorre dela?” ou “que utilidade?”. Na verdade, como dizemos, quem fizesse isso não se assemelharia em nada a quem sabe o que é belo e o que é bom, nem a quem distingue o que é causa e o que é causado.
Pode-se ver que a nossa tese é verdadeira se, com o pensamento, nos transportamos à ilha dos bem-aventurados. Lá, com efeito, não há necessidade de nada, nem se tira vantagem de qualquer coisa, mas existe somente o pensar e a especulação, o que agora chamamos de vida livre. Mas se isso é verdade, não seria justo que se evergonhasse qualquer um de nós, caso se lhe oferecesse a ocasião de ficar na ilha dos bem-aventurados, se se encontrasse por própria culpa na impossibilidade de fazê-lo? Portanto, não é desprezível a compensação que deriva aos homens da ciência, nem é pequeno o bem que dela deriva. Como, de fato, no Hades, segundo dizem os mais sábios dentre [218] os poetas, receberemos o prêmio da justiça, assim nas ilhas dos bem-aventurados, ao que parece, deveremos receber o prêmio da sapiência.
Não há, pois, nada de estranho se a sapiência não se mostra útil nem vantajosa, pois não dizemos que ela é útil, mas que é boa, nem é justo desejá- la por causa de outra coisa, mas por ela mesma. Nós, com efeito, vamos a Olímpia em vista do próprio espetáculo, mesmo que deste não derive outra coisa — pois o próprio espetáculo vale mais do que muito dinheiro —, e assistimos às representações dionisíacas não para receber algo da parte dos atores, mas, ao contrário, pagando-lhes, e preferiremos muitos outros espetáculos a muito dinheiro. Do mesmo modo, também a especulação sobre o universo deve ser estimada mais do que todas as coisas que são consideradas úteis. Não é certamente justo, com efeito, viajar com grande fadiga para ver homens que imitam mulheres e servos, ou combatem e correm, e não considerar um dever especular, sem despesa, sobre a natureza dos seres e sobre a verdade12.
Algum leitor poderá objetar que isso vale para a filosofia grega clássica; mas a filosofia da era helenística e a da era imperial não renegam o caráter da pura teoricidade ou, pelo menos, não o redimensionam radicalmente?
Em poucas palavras já respondemos acima a esse problema. Todavia, dada a sua importância, devemos recolocá-lo e resolvê-lo, ampliando o discurso com a aquisição de ulteriores elementos.
As valências prático-teóricas da filosofia: o “theorein” grego não é um pensar abstrato, mas um pensar que incide profundamente sobre a vida ético-política
Só recentemente foi posto à luz (mas este ponto está ainda longe de ser adquirido no nível da comum opinião) que a “contemplação”
grega implica estruturalmente uma precisa atitude prática diante da vida. Isto significa que a theoria grega não é só uma doutrina de
caráter intelectual e abstrato, mas além disso, e sempre, uma doutrina de vida ou, para dizer de outra maneira, é uma doutrina que postula
estruturalmente uma verificação existencial e, normalmente, a acompanha. [219] Cornelia de Vogel, recentemente, de maneira oportuna, observou o seguinte: “Dizer que a filosofia, para os gregos, significava reflexão racional sobre a totalidade das coisas é bastante exato se nos limitamos a isso. Mas se queremos completar a definição, devemos acrescentar que, em virtude da altura do seu objeto, essa reflexão implicava uma precisa atitude moral e um estilo de vida que eram considerados essenciais tanto pelos próprios filósofos como por seus contemporâneos. Isto, em outras palavras, significa que a filosofia não era nunca um fato puramente intelectual. É um erro tão grave sustentar que no período clássico o estilo de vida não tinha nenhuma relação com a filosofia, quanto afirmar que no mais tardio período helenístico-romano a teoria cedeu à práxis. Pode-se admitir o seguinte: no período mais tardio há um deslocamento de acento dos aspectos teóricos para os aspectos práticos da filosofia, não por obra de todos, mas pelo menos em alguns casos”. As conclusões de C. de Vogel são, portanto, as seguintes: Na filosofia grega mais antiga encontramos uma teoria que implica necessariamente uma atitude moral e um estilo de vida; na filosofia grega mais tardia encontramos, não sempre, mas com maior freqüência, uma atitude e um estilo de vida morais que, necessariamente, pressupõem uma teoria.13
Podemos, em suma, dizer que a constante da filosofia grega é o theorein, ora acentuado na sua valência especulativa, ora na sua valência moral, mas sempre de modo tal, que as duas valências se implicam reciprocamente de maneira estrutural. De resto, uma outra prova disso está no fato, já observado por de Vogel, que os gregos consideraram sempre como verdadeiro filósofo, apenas aquele que demonstrou saber realizar uma coerência de pensamento e de vida e, portanto, aquele que soube ser mestre não só de pensamento, mas também de vida.
Pensamos, todavia, que se possa ir ainda além das conclusões de C. de Vogel.
Compreende-se facilmente que a confrontação com o absoluto e com o todo comporta um distanciamento das coisas que os homens comumente valorizam — como, por exemplo, a riqueza, as honras, o [220] poder e semelhantes — e, portanto, uma vida de tipo, digamos, “ascético” , pois contemplando o todo, mudam necessariamente todas as usuais perspectivas e, nessa ótica global, muda o significado da vida do homem e impõe-se uma nova hierarquia de valores.
Mas o ponto que estamos discutindo se esclarece ainda mais pondo em confronto a “contemplação” e a “política”, conceitos que, para nós modernos, parecem antitéticos, e que, ao invés, os filósofos gregos uniram entre si de maneira essencial, revelando, justamente nisso, a natureza do seu theorein.
As fontes antigas atestam a atividade política de muitos pré-socráticos. Não se trata da política militante, mas da superior atividade de legislar e dar conselhos à Cidade. E sempre as mesmas fontes atestam expressamente que leis e conselhos dados por esses filósofos foram boas leis e bons conselhos. Até aqui, porém, trata-se de tradição indireta, que não nos permite captar o preciso nexo subsistente entre theoria e política.
Também os sofistas, como sabemos, visaram, com a sua filosofia, fazer obra política. Todavia, dos testemunhos que nos chegaram não se mostra, nem mesmo neste caso, o nexo entre as duas atividades.
Mas já em Sócrates esse nexo emerge com toda clareza. Sócrates renunciou à política entendida como práxis militante cotidiana, mas compreendeu perfeitamente e proclamou que o seu filosofar constituía uma espécie de atividade política superior, à medida que ela era formadora de consciências morais enquanto desvelava os verdadeiros valores. O fato de ter conquistado a clara visão do todo do homem como psyché, e o fato de ter visto na psyché o que no homem é semelhante ao divino, comportavam, com efeito, não só uma nova concepção da existência individual, que ele soube realizar de modo paradigmático, mas também um envolvimento dos outros, de todos os outros e, no limite, de toda a Cidade. Platão viu de maneira lucidíssima essa enorme energia prática da “sapiência” socrática, a ponto de pôr na boca de Sócrates a seguinte afirmação: [221] Eu creio estar entre aqueles poucos atenienses, para não dizer o único, que tente a verdadeira arte política, e o único entre os contemporâneos a exercitá-la14.
Por sua vez, na República, Platão levou essas premissas às extremas conseqüências, chegando a indicar nos filósofos transformados em reis (e nos reis tornados filósofos) e, portanto, na filosofia, a salvação dos governos e dos Estados, além da salvação dos homens individuais:
[...] Nem Estado, nem Governo, nem homem algum se tomará perfeito antes que [...] poucos e bons filósofos, que, no entanto, agora são tidos como inúteis, forem constrangidos por boa fortuna, querendo ou não, a se encarregar do Estado, e enquanto a Cidade não for constrangida a obedecer a eles, ou enquanto nos filhos dos reis e dos poderosos de agora, ou neles mesmos, não se acender, por divina inspiração, verdadeiro amor pela verdadeira filosofia15.
Sobre que bases Platão afirma isso?
Para o nosso filósofo o Bem é o fundamento de tudo: não só do ser e do conhecimento, mas também do agir privado e da atividade pública:
Eis o que me parece: na esfera do cognoscível, última é a Idéia do Bem e muito dificilmente pode ser vista, mas, uma vez vista, é preciso reconhecer que ela é causa de todas as coisas justas e belas, porque gera, na esfera do visível, a luz e o senhor da luz, e, na esfera do inteligível, sendo ela soberana, produz a verdade e a inteligência, e a ela deve olhar aquele que quer comportar-se de modo razoável na vida privada e na vida pública16.
Mas Platão diz ainda mais. Ele chega, de fato, a descobrir a razão pela qual a contemplação tem valor prático-político.
Quem tem o pensamento voltado para os seres — diz ele — , para os seres que permanecem sempre idênticos e perfeitamente ordenados, não se deixa desviar pelas vãs ocupações dos homens, que enchem a alma de inveja e hostilidade, mas, ao contrário, tende a “imitar” aqueles seres e “a fazer-se semelhante a eles quanto possível”. E, fazendo isso, ou seja, ocupando-se com o que é “ordenado e divino”, o filósofo torna- se, ele mesmo, “quanto possível ordenado e divino”. Conseqüentemente, [222] o filósofo não só transforma a própria vida privada deste modo, mas, quando fosse necessário para ele ocupar-se da vida pública, tenderia a fazer com que o próprio Estado, quanto possível, se tornasse ordenado e divino, isto é, estruturado segundo a virtude17.
Em suma, o conhecimento do todo e do absoluto, que para o nosso filósofo é o Divino e o Transcendente, comporta também a imitação do divino e a assimilação do Divino no indivíduo que o contempla, e comporta, em seguida, também o dever de envolver os outros em tal imitação, justamente na dimensão política.
Dois pontos particulares merecem ainda ser observados.
Platão sublinhou em muitas ocasiões que o conhecimento do todo comporta uma “dissolução das cadeias”, uma “ascensão” e até mesmo um “volver-se de toda a pessoa”, ou seja, uma mudança de vida, uma conversão.
Ademais, ele também afirmou energicamente — e isso foi recentemente muito bem posto à luz — a necessidade de aquele que viu o absoluto, retornar à “caverna” para “libertar”, ou seja, para “converter” os outros, mesmo que isto lhe custe o preço da própria vida, como ocorreu com Sócrates.
Não menos explícita é a tematização do poder prático-salvífico da “contemplação” no Fedro.
As almas — diz-se no célebre mito desse diálogo — quando estão no além junto com os deuses, giram em torno dos céus, chegam à planície da Verdade, onde contemplam o puro ser (o mundo das Idéias). E quanto mais conseguem contemplar, tanto mais, reencarnando-se e retomando à terra, serão ricas de energias espirituais e morais. Os melhores homens serão aqueles nos quais habitam almas que “viram” mais, os piores serão aqueles nos quais habitam almas que “viram” menos18.
Isso significa que a vida moral depende de modo estrutural da contemplação: o “fazer” é tanto mais rico quanto mais rico foi o “contemplar”.
Muitos desses conceitos voltam também no Protrético de Aristóteles, do qual apresentamos a seção dedicada à discussão das relações entre filosofia e vida prática: [223]
Tal ciência é, pois, especulativa, mas permite-nos ser artífices, com base nela, de todas as coisas. A vista, de fato, não é artífice e produtora de nada, pois a sua tarefa é distinguir e mostrar cada uma das coisas visíveis. Ela, todavia, consente agir por seu intermédio e nos é de grandíssima ajuda para as nossas ações, pois se fôssemos privados dela, seríamos praticamente imóveis. Do mesmo modo é claro que, embora sendo essa ciência, especulativa, todavia fazemos milhares de coisas com base nela, escolhemos algumas ações e evitamos outras e, em geral, por meio dela, conquistamos todos os bens.
E ainda na Ética Endêmica, Aristóteles proclama expressamente que a “contemplação de Deus” constitui o “critério de referência” para a vida prática.
Dito isso, não é necessário demorar-se sobre as filosofias da era helenística. Elas não fazem senão explorar até o fundo a energia moral, a força ético-salvífica do filosofar, já perfeitamente individuada, como decorre dos documentos que apresentamos, por Platão e Aristóteles. E dado que a derrocada da polis levou o homem grego a concentrar-se sobre si mesmo, a descobrir a dimensão do indivíduo e a encerrar-se nela, compreende-se bem que a temática filosófica assumisse — como conseqüência — esse novo ângulo, proclamando a filosofia como “arte de viver”.
Veremos como na criação das grandes éticas da era helenística desempenharam um importante papel a intuição e as situações emocionais na abertura de novos horizontes. Mas veremos também, paralelamente, como foram sempre visões do todo do homem a solicitar novas descobertas, e o quanto se empenharam os diferentes filósofos em situar essa visão do todo do homem em uma visão mais geral do todo cosmo-ontológico, e com que insistência apontaram o conhecimento da physis e do ser como o verdadeiro fundamento da “arte de viver ’’.
Um único exemplo baste para documentar esse ponto, tirado de Pirro, o iniciador do ceticismo, que é a personagem do qual menos se esperaria uma tomada de posição desse gênero, e que, ao invés, não é menos explícito que os outros filósofos.
Pergunta Tímon nos seus Sili:
Ó Pirro, esse meu coração deseja aprender de ti, como é que tu, embora sendo homem, levas tão facilmente a vida tranqüila, tu que és o único a guiar os homens.
Responde Pirro:
Eu te direi como me parece que seja, tomando como reto cânone esta palavra de verdade: uma natureza do divino vive eternamente, da qual deriva para o homem a vida mais igual19.
A filosofia e a “eudaimonia”
Eudaimonia, a palavra grega que traduzimos por felicidade, significa, literalmente, ter um bom demônio protetor, do qual depende, conseqüentemente, uma vida próspera.
Mas esse demônio foi logo interiorizado na reflexão filosófica e posto em estreita relação com o interior do homem.
Já Heráclito afirmava:
O caráter é o demônio do homem20.
E ainda Heráclito afirma que a eu-daimonia não está nas coisas corpóreas:
Se a felicidade consistisse nos prazeres do corpo, deveríamos dizer que são felizes os bois, quando comem21.
Isto significa, pelo menos implicitamente, remeter a felicidade à dimensão da psyché.
E já Demócrito explicita esse conceito, como sabemos, de maneira surpreendente:
A felicidade não consiste nos rebanhos nem no ouro: a alma é a morada da nossa sorte22.
É justamente esse conceito que se impõe por obra de Sócrates e, sucessivamente, domina de maneira incontrastada por todo o curso da [225] filosofia antiga. É justamente o theorein, como atividade cognoscitiva e moral, que dá a têmpera da alma e a faz tornar-se virtuosa, ou seja, boa. E é evidente que, se o demônio é a nossa alma (ou está na nossa alma), a bondade ou virtude da alma coincide estruturalmente com a eu-daimonia.
Portanto, na educação e na formação da alma e do espírito do homem, e assim na filosofia, que forma a alma mais do que qualquer outro conhecimento, está situada a felicidade.
Em uma passagem do Górgias, Platão faz Sócrates dizer expressamente que a felicidade consiste na formação interior na virtude:
Polo — Evidentemente, ó Sócrates, dirás que nem mesmo o Grande Rei é feliz.
Sócrates — E direi simplesmente a verdade, pois não sei como ele se encontra quanto à interior formação e quanto à justiça.
Polo — Mas como? Toda a felicidade consiste nisso?
Sócrates — A meu ver, sim, ó Polo. Com eleito, eu digo que quem é honesto e bom, seja homem ou mulher, é feliz, e que o injusto e mau é infeliz23.
Essa tese constitui a base de toda a complexa construção da República e, em geral, de toda a ética platônica.
Ulteriores aprofundamentos desse tema serão trazidos por Aristóteles, o qual observa que, dado que o viver está ligado ao prazer, daí segue-se que a forma mais elevada de vida, que é a atividade pensante da alma, explicitada do modo mais elevado justamente no filosofar, está ligada ao mais elevado prazer e, portanto, à felicidade.
Na Ética Nicomaquéia é demonstrada a fundo a tese de que o cume da felicidade está na contemplação. O próprio Deus de Aristóteles é auto-contemplação.
Na era helenística, o nexo entre filosofia e felicidade é ulteriormente acentuado. De resto, uma filosofia que se proponha ser uma arte de viver, uma via que conduz à ataraxía, à paz da alma, não pode não pôr na felicidade o próprio telos. [226]
Um texto de Epicuro sirva como exemplo para todos:
Nunca se protele o filosofar quando se é jovem, nem canse o fazê-lo quando se é velho, pois que ninguém é jamais pouco maduro nem demasiado maduro para conquistar a saúde da alma. E quem diz que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou, assemelha-se ao que diz que ainda não chegou ou já passou a hora de ser feliz24.
A radical confiança do filósofo grego na possibilidade de alcançar a verdade e viver na verdade
Aproximando-se superficialmente à história do pensamento grego, poder-se-ia crer que nele se encontram duas tendências opostas na determinação das relações entre o homem e a verdade: uma pessimista e outra otimista.
Já Xenófanes parece ter-se expressado com acentos céticos:
E nenhum homem jamais honrou a verdade exata, nem haverá nunca quem saiba verdadeiramente sobre os deuses e todas as coisas que eu digo: pois ainda que alguém chegasse a exprimir uma coisa plenamente no mais alto grau nem mesmo ele teria dela verdadeiro conhecimento, pois de tudo há apenas um saber aparente25.
Também Heráclito escreve:
A verdade ama esconder-se26.
Demócrito reafirma:
A verdade está no abismo27.
Sócrates proclama o bem conhecido saber que não sabe.
Os céticos erigem até mesmo em sistema a inalcançabilidade do verdadeiro. [227]
Mas na realidade, Xenófanes, Heráclito, Demócrito e Sócrates, malgrado estas afirmações, consideram a verdade alcançável. Os céticos, como veremos, não são mais que a exceção — e, ademais, muito parcial — que confirma a regra.
Ao contrário, já Parmênides proclamava a identidade do ser e do pensar:
O mesmo é o pensar e o ser28.
Esta afirmação exprime da maneira mais icástica a fé em que o pensamento humano alcança o verdadeiro (o ser é o verdadeiro).
Platão retoma e desenvolve esses conceitos, estabelecendo a seguinte equação: o que é plenamente ser é plenamente cognoscível, o que é misto de ser e não-ser só é parcialmente cognoscível, ou seja, opinável; do não-ser só há ignorância. Em suma: o ser comporta, estruturalmente, a sua cognoscibilidade. E dado que, para o grego, o Ser é o verdadeiro, o verdadeiro comporta estruturalmente a própria cognoscibilidade.
Também Aristóteles reafirma este ponto, embora com formulação diferente. Há proporção entre ser e cognoscibilidade quoad se, mesmo que não quoad nos. Em si, as coisas que têm mais ser são mais cognoscíveis; para nós, ao contrário, são mais cognoscíveis as que têm menos ser. Todavia, é possível ao homem (e esta é, justamente, a tarefa da filosofia) fazer com que o que é em si mais cognoscível, torne-se tal também para nós.
Inabalável confiança na possibilidade de alcançar a verdade demonstram também os epicuristas e os estóicos: uns indicam na sensação, outros na representação cataléptica, a certeza inegável.
Os neoplatônicos nutrem não só a convicção de que o espírito humano possa alcançar o verdadeiro, mas até mesmo que possa extaticamente unificar-se com o absoluto.
De resto, também os filósofos da era helenística, assim como estão certos de poder alcançar o verdadeiro, também estão certos de [228] poder viver no verdadeiro uma vida de felicidade, que pode competir até mesmo com a vida de Zeus.
Por outro lado, deve-se também observar que no conceito da maiêutica socrática está implícita a concepção de que o verdadeiro é, de algum modo, possuído estruturalmente pela alma humana. Essa convicção é retomada e levada às extremas conseqüências pela doutrina platônica da anamnese, segundo a qual a alma é tal, justamente porque teve uma visão original do verdadeiro, que, ao nascer, se obnubila, mas não se perde, e pode constantemente reaparecer. Essa doutrina será retomada e desenvolvida pelos médio-platônicos e pelos neoplatônicos.
Mas o próprio Aristóteles, que rejeita a doutrina da anamnese, não só mantém a idéia do espírito humano como positiva capacidade de elevar-se ao verdadeiro, mas desenvolve uma série de reflexões sobre a própria verdade, que são, sob muitos aspectos, verdadeiramente surpreendentes.
Ele escreve, por exemplo, na Retórica:
Os homens são suficientemente dotados para o verdadeiro e alcançam amiúde a verdade27.
E na Metafísica especifica que a busca da verdade, sob certo aspecto, é difícil, sob outro aspecto, é fácil: é difícil porque é impossível captar totalmente a verdade, mas é também fácil porque é impossível não captá-la de nenhum modo. Mas a afirmação mais significativa sobre isso é a seguinte:
[...] Dado que existem dois tipos de dificuldade, a causa da dificuldade da pesquisa da verdade não está nas coisas, mas em nós. De fato, como os olhos da coruja se comportam diante da luz do dia, assim também a inteligência que está em nossa alma se comporta diante das coisas que, pela sua natureza, são as mais evidentes de todas28.
[229]
A verdade está, pois, sempre diante de nós e nós somos circundados e envolvidos por ela: é o nosso intelecto que deve habituar-se a vê-la, assim como os nossos olhos devem habituar-se a ver a luz pela qual somos circundados e inundados.
Esse pensamento será reproposto por Plotino em chave metafísica e teológica, com uma audácia verdadeiramente extrema.
A propósito do método da filosofia antiga
Dissemos que o método da filosofia antiga funda-se sobre o logos e sobre a razão. Para poder determinar essa afirmação de maneira circunstanciada deveremos chamar em causa e antecipar muitos elementos, que só em sede analítica podem ser compreendidos.
Digamos apenas que por razão não se deve entender a razão científica de hoje, circunscrita ao âmbito da experiência e do cálculo. De fato, com base nas convicções acima ilustradas, a razão filosófica grega tem possibilidades muito mais amplas e ágeis de tentar aproximar-se e medir-se com o todo.
A experiência, a análise fenomenológica, o consenso de todos os homens, as convicções dos sábios, o procedimento indutivo e a dedução se entrelaçam de variadas maneiras.
Alguns filósofos elaboram lógicas, entre as quais a mais famosa é, certamente, a de Aristóteles, fundada sobre a silogística. Mas — note-se — essas lógicas acabam sendo instrumentos de controle a-posteriori, mais do que verdadeiros guias com os quais são construídos os sistemas, os quais, normalmente, se sobrepõem decididamente às relativas lógicas expressamente elaboradas.
Muitos filósofos apelaram explicitamente à intuição, como a que constitui, de algum modo, o princípio do filosofar, dado que os princípios primeiros não podem ser ulteriormente deduzidos e mediados e, portanto, só podem ser colhidos imediatamente, ou seja, intuitivamente. [230]
Esse apelo à intuição não tem nada do sabor irracionalista que é próprio de certo intuicionismo moderno, justamente por causa da convicção da equação entre pensar e ser, que é a base do pensamento grego. Intuição quer dizer, nesse contexto, a visão de que a coisa é de um determinado modo, ou seja, quer dizer evidência, e a evidência é critério racional.
Mas a filosofia antiga individuou pelo menos um tipo de procedimento que permanece, de algum modo, privilegiado. É o assim chamado elenchos, largamente utilizado pelos Eleatas, por Sócrates e por Platão, e, particularmente ilustrado por Aristóteles na Metafísica, a propósito do princípio de não-contradição.
Pois bem, diz Aristóteles, o princípio de não-contradição, enquanto princípio primeiro, não pode ser demonstrado. Ele é imediatamente evidente; mas pode ser, em certo sentido, demonstrado, através da confutação (elenchos) de quem pretende negá-lo. O célebre elenchos consiste, portanto, na mostração da contraditoriedade em que cai aquele que nega o próprio princípio. Com efeito, quem nega o princípio de não-contradição se contradiz, porque, no momento mesmo em que o nega, faz dele um uso subreptício. E o mesmo vale para todas as outras verdades primeiras.
Do ponto de vista do método é esta, provavelmente, a descoberta mais conspícua da filosofia antiga: as supremas verdades irrenunciáveis são aquelas que, no momento mesmo em que alguém as nega, é constrangido a fazer delas uso subreptício no ato de negá-las e, portanto, reafirma-as ao negá-las.
Esta é uma verdadeira “emboscada” que as verdades armam, da qual o homem não pode fugir. [231]

A noção de cavalaria é mais complexa e multifacetada do que se parece. Se salientarmos somente o aspecto puramente militar do guerreiro a cavalo, podemos ser levados a confundir os significados de cavalaria. Seria preciso, neste caso, falar de cavalaria carolíngia, merovíngia, até romana e, por que não, bárbara, cítica ou sármata. O historiador italiano Franco Cardini demonstrou toda a importância que tinham, para os povos das estepes, a cavalaria pesadamente armada e os valores de guerreiros que lhe eram associados: o culto do cavalo e da espada, a veneração da força física, da coragem e o menosprezo da morte, etc..
Esses valores oriundos das estepes foram transmitidos aos invasores “bárbaros” da Europa ocidental e se encontram, ligados a outros traços germânicos, como a devoção pessoal ao rei-chefe da tribo, na sociedade guerreira, que caracteriza as novas realezas surgidas do desmembramento do Império Romano. Mas, ele também demonstrou que a presença desses traços não basta para caracterizar a cavalaria. Ela nasce em um contexto histórico político-social particular que Georges Duby e eu mesmo, entre outros, tentamos precisar. Ela, de fato, possui elos estreitos com a vassalagem que se instaura, certamente, desde antes do desaparecimento do Império Romano no Ocidente; mas, também com o declínio da autoridade dos reis, depois dos condes, decorrente da desintegração do Império Carolíngio, com a formação das castelanias que marcam o início da chamada época feudal; com as tentativas da Igreja de inculcar nesses guerreiros uma ética ou, ao menos, regras de conduta que limitassem a violência e seus efeitos sobre as populações desarmadas; e com alguns outros fenômenos da sociedade que abordaremos mais adiante. Ora, a maioria desses elementos quase não aparece antes do ano 1000. Não é, portanto, sábio falar de cavalaria antes dessa data.
Seria dizer com isso que a cavalaria é apenas um subproduto do que chamamos de a “mutação do ano 1000” e que não teria aparecido sem ela? Seria ir longe demais. A existência da cavalaria, tal como é compreendida neste texto, não está totalmente vinculada à mutação feudal, e o estudo que é feito dela tampouco está totalmente vinculado à tese “mutacionista”, que encontra hoje alguns detratores zelosos, embora, às vezes, um pouco excessivos. Convém aqui nos explicarmos sumariamente. A tese mutacionista, resultante de obras de história regional, que seriam muitas para serem enumeradas, de Georges Duby a Jacques Le Goff e Pierre Toubert, passando por Pierre Bonnassie e a maior parte dos melhores historiadores do pós-guerra, ressalta uma profunda ruptura que teria ocorrido por volta do ano 1000 na sociedade ocidental, principalmente na França. Podemos, com o risco que comporta todo resumo desse tipo, esquematizá-la, limitando-nos aos aspectos que dizem respeito diretamente à cavalaria, da seguinte forma: o declínio da autoridade do rei, já perceptível no final do século IX, teria sido acompanhado pelo declínio dos principados e dos condados, e pela emancipação política, militar, administrativa e judiciária, mais ou menos profunda e rápida, conforme as regiões, de seus subordinados, os castelões cercados de seus milites, os cavaleiros. Essa emancipação é acompanhada por tumultos e exações, que não se relacionam a causas externas (guerras ou invasões, por exemplo), mas à pressão e mesmo à opressão dos cavaleiros. Estes, oriundos das falanges internas da aristocracia ou de meios mais humildes ainda, aproveitam-se da ausência da autoridade pública forte para impor às populações camponesas, por meio da força de suas armas, costumes, taxas e impostos que eles cobram desses povos desarmados, em nome dos senhores condes e castelões. Em torno do ano 1000, forma-se assim uma nova classe social que cavalga: a classe dos cavaleiros, os milites, que aparecem cada vez com mais freqüência nos textos dessa época, demonstrando a militarização da sociedade desse tempo. Isentos dessas diversas taxações, eles se separam da massa camponesa e se aproximam da aristocracia; tentam fundir-se com a nobreza e conseguem isso em datas que variam conforme as regiões.
Esses direitos, taxas e “maus costumes”, que se arrogam os senhores, a pretexto de proteger a população desarmada, por meio da força de seus próprios guerreiros (de onde o termo de senhoria banal que a designa, do termo ban = autoridade ligada à detenção da força armada), são impostos de fato a todos os habitantes do distrito castelão, sejam eles livres ou não, sujeitos do senhor proprietário fundiário ou colonos, isto é, proprietários das terras que eles cultivam. Assim, pela extensão da senhoria banal e do poder feudal, a diferença social que outrora separava os livres dos não-livres, ameniza-se em benefício de uma nova divisão, que isola aqueles que portam as armas (os milites) daqueles que são desprovidos delas, as massas camponesas, livres ou não-livres [inermes).
Essa tese mutacionista recentemente foi objeto de algumas críticas às vezes fundadas, muitas vezes excessivas, a exemplo de Dominique Barthélémy. Para ele, não teria havido, por volta do ano 1000, nem crise castelã, nem crise social, nem formação de uma classe nova de cavaleiros. O brusco surgimento, bem real, do termo milites nas atas, e cartas principalmente, não significaria de forma alguma o crescimento de uma nova categoria social; ele traduziria uma simples mudança nos hábitos redacionais dos escribas, simplesmente uma revolução no nível do vocabulário; miles (= cavaleiro) teria apenas substituído vassus (vassalo). Não se deveria, por outro lado, insistir na ruptura, no declínio da autoridade sobre os distúrbios “feudais”, mas, pelo contrário, salientar a continuidade, minimizar as exações e as guerras particulares. Analisando essa perspectiva, a cavalaria resultaria apenas de um confisco qualquer de migalhas do poder por guerreiros de origem relativamente humilde que tentavam se unir à nobreza. A cavalaria, desde sua origem, confundia-se com a nobreza e com o poder, não apenas porque as palavras milites e nobiles seriam intercambiáveis, mas porque o termo cavalaria, que se aplicaria a toda a aristocracia, nada mais seria que um termo que designava o direito de governar. A aristocracia o compartilhava com o rei que, nessa perspectiva, teria somente um pouco mais de “cavalaria” que os outros. Cavalaria, nobreza, aristocracia e poder seriam, no fundo, para simplificar a mesma coisa.
Outra percepção da cavalaria é expressa por Karl-Ferdinand Werner. Para ele a cavalaria não seria de origem germânica e guerreira, mas de origem administrativa e romana. Haveria assim continuidade entre a milícia da época imperial cristã e a cavalaria, designada também por esse mesmo termo. No Baixo Império, essa palavra se aplica ao conjunto do serviço público, administrativo, hierarquizado e disciplinado, segundo o modelo militar. A entrega do cingulum militiae (que mais tarde, acredita-se, marcará a investidura dos cavaleiros) significaria, portanto, a entrada no serviço do Estado, em um nível elevado do exercício da função pública, muito mais que a entrada de um soldado ordinário no Exército.
A essas diversas concepções sobre a cavalaria permitam-me acrescentar a minha. Ela, minha concepção, coincide em muitos pontos com a tese mutacionista, principalmente em sua descrição (que parece bem fundada) do crescimento das castelanias, sem todavia confundir-se com ela; admite algumas das críticas da segunda sem, no entanto, segui-la em seu conceito globalizante da cavalaria assimilada ao poder e ao direito de reinar — menos ainda na noção dos “graus diversos de cavalaria”, avatar supremo dessa confusão. Minha concepção aceita uma parte da terceira, principalmente a que vincula ao serviço público (ou ao que resta dele) a entrega das armas àqueles que governam em seu nome, sem com isso aceitar a idéia de uma real continuidade entre as instituições romanas e a cavalaria. Considero a cavalaria resultante da fusão lenta e progressiva, na sociedade aristocrática e guerreira que se implanta entre o fim do século X e o fim do século XI, de muitos elementos de ordem política, militar, cultural, religiosa, ética e ideológica. Esses elementos fornecem, pouco a pouco, à entidade essencialmente guerreira na origem, os traços característicos do que ela se torna aos olhos de todos no decorrer do século XII: a cavalaria, a nobre corporação de guerreiros de elite, a ponto de se transformar em corporação de nobres cavaleiros, com uma ética que lhe é própria e, antes de se tornar uma instituição moral, uma ideologia e até um mito.
O vocabulário da cavalaria
Para bem perceber o que os contemporâneos entendiam por cavalaria, nada melhor do que conhecer o vocabulário que empregam a seu respeito os textos redigidos— no início apenas em latim, depois também em línguas vernáculas (francês antigo, alto-alemão médio, anglo-saxão, provençal, etc.). Que noções fundamentais exprimem esses termos e que conotações diversas assumem ao longo do tempo?
— Militia, a partir do século XII, designa sem contestação possível o que entendemos por cavalaria. A equivalência é tão evidente a partir do fim do século XII, e mais ainda pelo que se seguiu, que os escritores que traduzem para o francês antigo os textos latinos anteriores substituem sistematicamente o termo militia pela palavra cavalaria, ao preço, aliás, de algumas inexatidões, obscuridades ou verdadeiros contra-sensos. Apalavra militia, antes dessa data, aplica-se de fato a realidades que não coincidem exatamente com a noção habitual de cavalaria. Nos textos latinos da época romana clássica, a militia é o Exército de Roma, o conjunto dos soldados. Mas K. Werner tem razão em observar, como eu fiz em algumas obras desde 1983, que o termo assumiu conotações de serviço público quando, durante o Baixo Império, os soberanos tentaram organizar o império à maneira de um exército e torná-lo como modelo para sua administração. Encontramos, portanto, às vezes até no limiar do século X, por exemplo em Hincmar de Reims, o termo militia com um significado de serviço público, que inclui certamente a utilização da força armada, mas designa antes de tudo uma função civil na corte do rei. Ainda no século XI, alguns textos expressam por meio da palavra militia a função de governo dos condes ou príncipes, representantes do poder público ou do que resta dele nessa época. Enfim, ao longo de toda a Idade Média, inúmeros documentos de origem, geralmente eclesiástica, opõem o serviço de Deus, realizado pela militia lei dos clérigos e monges, ao serviço do Mundo, do Século e mesmo do Diabo, ao qual se dedicam os leigos. Para estes últimos, a palavra pode certamente incluir ainda uma conotação guerreira ou militar. Esse não poderia ser o caso dos servidores de Deus que, precisamente, devem abster-se de derramar sangue e portar armas e são, por natureza, isentos do serviço militar.
— O verbo Militare, mais evidente ainda, não se aplica somente, como era o caso na origem, à ação de servir por meio das armas, mas a toda forma de serviço público, administrativo, político ou judiciário; em suma, a todo exercício da função pública. Essas funções são, aliás, muitas vezes elevadas e implicam o porte da espada como sinal de autoridade exercida em nome do Estado. São Paulo, em muitas de suas cartas, faz alusão a essa autoridade dos magistrados romanos que, diz ele, não portam em vão a espada e aos quais convém se submeter. Logicamente, ele não designa assim os milites, os soldados, mas os iudices, os magistrados romanos encarregados pelo Estado de assegurar a ordem e administrar a justiça. Esses magistrados desapareceram com o império e sua função nos reinos bárbaros, depois no Império Carolíngio, foi exercida por personagens nomeados pelo soberano, que exerciam em seu nome a autoridade pública, os condes {comitês), às vezes chamados cônsules (cônsules) ou juizes [iudices), ou mais genericamente príncipes ou potentados [príncipes, praesules, poternes, etc). Esses grandes senhores, cada vez mais autônomos a partir do século IX, confiscam para si a autoridade e as funções públicas que eles devem exercer em nome do Estado. Uma noção em vias de desaparecimento, uma vez que o poder central não tem mais os meios de controlá-los, supervisionar ou revogar. Essas funções tornam-se assim o que chamamos então de “honras”, cargos associados a vastos domínios que são, de certa forma, seu salário permanente, e logo se tornariam hereditários no século IX. Nesse sentido, podemos dizer que os condes, os príncipes e mesmo os senhores de menor importância por conseqüência exercem uma militia ou ingressam na militia, o que não significa nem que eles se tornam soldados, nem que entram na cavalaria, mas que exercem poderes decorrentes da antiga noção de autoridade pública. Na maioria dos casos, dizem, esse exercício da função pública delegada inclui a utilização da força armada, o poder de coerção, mas em um nível de comando que ultrapassa em muito o dos executantes que são os milites, os soldados. Aliás, nas cartas de Paulo que mencionamos anteriormente (redigidas em grego, mas logo traduzidas para o latim), a palavra “magistrado” nunca é traduzida por milites antes do fim do século X.
A cristianização do império e o desenvolvimento do monasticismo afastam ainda mais o sentido puramente militar do verbo militare. A organização hierarquizada e muito disciplinada dos monges beneditinos conduz de fato, segundo a regra de São Bento, ao emprego desse verbo para designar o serviço, evidentemente pacífico e de forma alguma guerreiro, do monge em seu monastério, que reza a Deus e combate assim as forças invisíveis do demônio. Essa “desmilitarização” do vocábulo militare é de certa forma a réplica do movimento iniciado por São Paulo quando, em várias de suas cartas, ele compara a vida do cristão à vida do soldado romano, feita de obediência, disciplina, coragem, abnegação. Ele pede também ao fiel, em uma metáfora guerreira, que vista a armadura de Deus para realizar o bom combate da fé, isto é, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do zelo, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus (Efésios, 6:13-17). As tribulações e perseguições sofridas pelos primeiros cristãos, principalmente a partir do século III, reforçam essa perspectiva, e os mártires da fé tinham consciência de servir Deus (militare Deo) com sua vida de sacrifício e fidelidade até a morte, como valentes soldados de Jesus Cristo. O aspecto militar, entretanto, estava completamente ausente, considerando que, na maioria das vezes, eles eram mortos exatamente por causa de sua recusa ao serviço militar, que julgavam incompatível com seu estado de cristão. A coisa é manifestada nos numerosos Atos dos Mártires. Um único exemplo, tirado da relação do martírio de Maximiliano, bastará para nos convencermos. Um rapaz, que se tornou cristão, recusa-se em termos categóricos a se tornar soldado. “Não me é permitido servir pelas armas (militare), pois sou cristão.” Pressionado a fazê-lo, afirma novamente sua recusa de um serviço armado que ele assimila ao mal: “Não posso servir pelas armas (militare), não posso fazer o mal (malefacere), sou cristão.” Ele deve então escolher entre engajar-se como soldado ou morrer. Ele recusa-se novamente ao serviço militar, opondo-o ao serviço de Deus.
Essa oposição, aqui radical, entre o serviço (militar e armado) do império ancestral e o serviço (pacífico e desarmado) de Deus como era compreendido por muitos cristãos nos primeiros séculos se transforma, após a cristianização do império, em oposição entre duas categorias de homens, duas “ordens” : a dos clérigos (clerici) e a dos leigos (laici).
— O termo milites (no singular miles) parece acumular as ambigüidades precedentes, uma vez que os escritores eclesiásticos o empregam voluntariamente para designar, ao mesmo tempo, os leigos, armados ou não, que vivem no século (milites saeculi) e aqueles aos quais eles querem exatamente contrapor, ou seja, os sacerdotes e os monges, soldados de Deus (milites Dei) no sentido não-militar do termo, combatentes presumidamente pacíficos da fé, servidores de Deus. A palavra expressa, então, o que, na visão militar, não está necessariamente ligado ao uso das armas, e que São Paulo já tinha em mente em suas cartas: as noções de serviço, obediência, dedicação. A “desmilitarização” do termo milites aqui é patente, como nas expressões modernas “militar” e “militante”, que são decorrentes dele.
Podemos então falar aqui de ambigüidade? Não será polivalência do termo? Pois, no caso de uma tal oposição metafórica entre “soldados” de Deus e do mundo, não há nenhuma obscuridade: faz-se evidente alusão a duas formas de obediência, de serviço, das quais uma ao menos não é guerreira e a outra quase não o é. Estamos longe, tanto em um caso como no outro, da noção de cavalaria.
O uso comum do termo milites é, em compensação, especificamente ligado ao uso das armas. Da época romana até meados do século XI, às vezes mais tarde ainda, ele designa muito claramente os guerreiros em seu conjunto, os soldados. A noção profissional é, portanto, aqui, primordial. Mas ela não é única. Sabemos, de fato, o exército romano do Baixo Império, composto ao mesmo tempo por “voluntários” mais ou menos obrigados, hereditariamente, a servir no exército e por mercenários recrutados entre os povos “bárbaros”, foi sucedido, com a instalação dos reinos de domínio germânico, por um exército composto de todos os homens livres dos quais o rei era antes de tudo o chefe. Por outro lado, o desenvolvimento da vassalagem fez entrar na “clientela” armada dos poderosos homens que, para subsistir, aceitam entrar, pela recomendação e pela homenagem, na “dependência honrosa” de seus protetores. Esses vassalos são de diversos níveis, às vezes livres, às vezes servos. Todos servem por meio das armas e formam a escolta, a guarda próxima dos poderosos que os fazem viver. Na época carolíngia, o exército real, convocado anualmente para campanhas mais ou menos distantes destinadas a “dilatar” o império, não é mais exigido de todos os homens livres, mas somente daqueles que possuem os meios de se equiparem com um armamento que se torna mais pesado e mais custoso. A conscrição não repousa mais, portanto, sobre os homens, mas sobre as terras. Os proprietários de terras são obrigados a fornecer à hoste real, em caso de convocação, um contingente de guerreiros equipados proporcional às superfícies de terras cultivadas de que eles dispõem. Aqueles que não atingem essa superfície (fixada em 4 manses, cujo valor exato ignoramos) são convidados a se agrupar entre si para fornecerem um guerreiro. O caráter longínquo das expedições e também a evolução da sociedade e do armamento militar, conduzem à importância crescente da cavalaria pesada dentro dos exércitos carolíngios.
Essa preeminência reforça-se no século X e mais ainda no decorrer do século XI. Ela se traduz em uma evolução semântica. Enquanto, até meados do século XI, a palavra milites designava todos os soldados, fossem eles pedestres (pedites) ou cavaleiros (equites), tende-se cada vez mais a reservar essa palavra apenas aos guerreiros “que contam” aos olhos dos redatores dessa época, aqueles que combatem usualmente a cavalo e que, por essa razão, começam a ser chamados de cavaleiros nos documentos redigidos em línguas românicas vernáculas.
Quando está no plural, o termo milites não é, portanto, muito ambíguo. Ele designa guerreiros, principalmente guerreiros a cavalo. Desde então, a palavra militia passa também a ter como principal significado o conjunto desses guerreiros, a cavalaria, e principalmente a cavalaria pesada que é chamada de cavalaria nos textos vernáculos, sem que por isso desapareça a conotação de serviço público assinalada anteriormente.
— Apalavra miles tem, evidentemente, o mesmo significado primordial que seu plural, milites. Mas, outras conotações foram acrescentadas ao significado fundamental de guerreiro. Por homenagem, já dissemos, homens livres de níveis diversos aceitavam, desde a época merovíngia e até antes disso, entrar na dependência de um mais poderoso que assegurasse sua existência. Segundo o grande historiador francês Marc Bloch, a vassalagem possuía assim, em sua origem, “um forte odor de coisa feita em casa.” Entendamos com isso que o nível social daqueles que “se recomendavam” dessa forma, colocando suas mãos nas mãos de alguém mais poderoso que eles, era bastante humilde e que seu estado podia ser pouco ou muito assimilado ao de um servidor armado. O desenvolvimento da vassalagem, sua generalização na época carolíngia, o surgimento do regime que foi chamado (talvez erroneamente) feudal, a hereditariedade das honras e dos feudos levaram personagens de todos os níveis, mesmo os elevados, a prestar homenagem ao senhor do qual eles recebiam rendimentos, “benefícios” (de beneficium), geralmente sob forma de domínios ou de terras mais ou menos extensas conforme o nível deles, que serão chamadas cada vez mais de feudo. Ora, essas terras sofrem, como vimos, exigências de recrutamento de guerreiros. Aquele que as recebe deve então muito naturalmente um serviço armado ao senhor que lhe concedeu essas terras. Ele é considerado por causa disso guerreiro do senhor com ou sem seus próprios dependentes, conforme o tamanho do domínio recebido. As palavras que expressam essa dependência salientam cada vez mais esse serviço armado: vassus e vassalus que já expressavam isso; homo, que os evence; e mais ainda miles salienta o aspecto militar implicado pelo engajamento de feudo-vassalagem.
As cartas e outros documentos diplomáticos que mencionam esses engajamentos se referem sobretudo aos personagens de nível elevado. A palavra miles, que até aqui quase não aparecia a não ser rara e muito ocasionalmente, pois designava principalmente guerreiros de nível subalterno, é então aplicada a senhores, castelões, condes e príncipes de alto nível quando eles entram na vassalagem de outros maiores. O termo continua a significar aquele que deve realizar um serviço de ordem militar, mas o nível elevado do personagem proíbe traduzi-lo por soldado. Vassalo conviria mais na maioria dos casos, com a condição de sublinhar a preponderância do serviço guerreiro que ele implica. Um exemplo ilustra esse ponto de vista: na reforma à qual o Papa Gregório VII vinculou seu nome na segunda metade do século XI, o pontífice procurou liberar as igrejas do poder dos senhores e soberanos leigos, em particular a Igreja de Roma. Para concretizar essa liberação, o Papa necessitava do apoio de príncipes e reis que ele considerava, por vezes os “vassalos de São Pedro” e dos quais ele exigia, por causa disso, assistência militar. Esses príncipes e esses reis são por essa razão chamados fideles ou milites sancti Petri. O próprio imperador, tradicional defensor da Igreja de Roma, é por essa razão chamado miles sancti Petri. A tradução do termo parece, portanto, difícil. “Soldado de São Pedro” seria impróprio, pois a igreja de Roma, como a maioria dos estabelecimentos eclesiásticos dessa época, recrutava diretamente soldados encarregados de assegurar sua defesa e que eram chamados assim. O imperador, no nível em que está, não deve evidentemente ser confundido com esses simples guerreiros. “Vassalo de São Pedro” também não convém na medida em que essa expressão implica uma relação de dependência e de subordinação que o papa queria talvez promover, mas que o imperador não aceitava de forma alguma. “Cavaleiro de São Pedro” é ainda mais inadequado, pois sugere que se pertencia a um tipo de confraria honorífica que não existia nessa data. Diante da inadequação dessas expressões para exprimir a realidade evocada pela palavra miles, os medievalistas têm preferido então, muitas vezes, não traduzi-la e conservá-la no texto. É, de fato, preferível, mas convém abstrair desse fato as conclusões que se impõem: miles, quando se aplica a um personagem de nível elevado, designa principalmente a função guerreira que esse personagem exerce em pessoa, mas também com seus próprios guerreiros, por sua conta pessoal ou a serviço de um outro ao qual ele deve esse serviço armado, por qualquer razão que seja: vassalagem, patronagem, deferência, amizade, parentesco. Quando a palavra se aplica a um personagem de nível mais modesto, miles não deixa de designar o guerreiro e, principalmente, como vimos, o combatente a cavalo. Não é menos verdade que, nas cartas, o uso da palavra miles aplicada a personagens envolvidos nas redes da feudalidade em níveis geralmente elevados (no caso contrário, eles quase não seriam mencionados) confere a esse termo uma coloração social que a palavra “cavaleiro” assumirá por sua vez um pouco mais tarde.
— A palavra cavaleiro nas línguas vernáculas do século XII evoca antes de tudo o guerreiro e não sugere de modo algum um nível social elevado. O alemão antigo Ritter ilustra esse propósito; ele está, como sabemos, na origem do francês réitre (cavaleiro alemão) e não passa uma imagem muito brilhante dos primeiros cavaleiros. O mesmo ocorre na Inglaterra, onde a palavra knight atual, com ressonância aristocrática, deriva do anglo-saxão cniht, que designava um servidor, às vezes armado, mas nem sempre mais próximo em todo caso do criado da estrebaria que do nobre. Em provençal, em espanhol e no francês antigo, o cavalo é tomado como referência semântica: cavaleiro se aplica ao guerreiro, mas somente ao combatente de elite a cavalo, provido de um conjunto de armas características. Apalavra não evoca de início nenhuma conotação, senão a do serviço armado. Um senhor fala de “seus cavaleiros” como de dependentes que lhe devem obediência e serviço. Apalavra assume, todavia, ao longo do século XII, colorações novas de caráter honorífico, às vezes ético, particularmente perto do final do século.
— Quanto à palavra cavalaria, ela transmite originalmente três significados principais, todos ligados à profissão militar. O primeiro significado, largamente majoritário, aplica-se a um grupo mais ou menos importante de cavaleiros que combatiam lado a lado, formando o que chamaríamos um “corpo de cavalaria”; um senhor falará assim indiferentemente de “sua cavalaria” ou de “seus cavaleiros”. O segundo significado, derivado do primeiro, refere-se à ação guerreira realizada por esses mesmos cavaleiros, em geral no combate, por exemplo, uma cavalgada ou um ataque. O terceiro significado, resultante do segundo, passa do aspecto material ao aspecto ético, sublinhando assim seu valor. Apalavra assume então
o significado de “golpe importante” ou “ato de bravura”.Notamos, todavia, ao redor do fim do século, uma evolução semântica devida
ao aparecimento de conotações mais honoríficas, culturais, ideológicas. A palavra “cavalaria” tende então para um significado mais abstrato, englobando o conjunto dos cavaleiros considerado uma entidade que ultrapassa o limite estreito das fronteiras entre senhores ou reinos, um tipo de estatuto socio-profissional de caráter internacional provido de uma dignidade e de uma ética reconhecida. Vemos despontar, então, o significado que, em seguida, se tornará o principal: o de uma “ordem de cavalaria” na qual se é admitido por meio da investidura, cerimônia de iniciação característica pela qual um homem é “feito cavaleiro”.
— O próprio verbo investir revela a mesma evolução. Sua etimologia permanece obscura. Supúnhamos outrora que viesse de um antigo verbo germânico (dubban), que significava bater, e evocávamos como apoio dessa filiação a colée, tipo de bofetada ou tapa com a mão aberta sobre a face ou sobre o pescoço daquele que era “feito cavaleiro”. Essa origem é contestável no plano etimológico e pouco provável no plano histórico. De fato, o tapa não é, como veremos, um elemento essencial da investidura, menos ainda um elemento primitivo ou mesmo muito antigo dessa cerimônia.
Quase não temos traço disso antes da segunda metade do século XII. Além disso, nas mais antigas epopéias e, mais freqüentemente, nas obras literárias anteriores a 1150, investir não tem o significado primordial de “fazer cavaleiro” e não pode, então, ser vinculado a um gesto como o tapa ou a algum outro “golpe” que seria dado em uma cerimônia ritual à qual a palavra não faz principalmente referência. Na quase totalidade dos casos, investir
quer apenas dizer armar, fornecer armas, equipar, não em referência a uma primeira entrega de armamento mais ou menos solene que poderíamos assimilar à investidura dos cavaleiros, assim como o conhecemos de outros lugares, mas em um sentido muito mais prosaico, utilitário e funcional: antes de cada batalha, os guerreiros dos dois campos investiam-se eles próprios para combater, fossem eles cristãos ou sarracenos. Apalavra não tem, portanto, originalmente nenhuma conotação social, religiosa ou cerimonial. Quando essas epopéias contam que senhores ou chefes de exércitos investem cavaleiros, isso não significa que eles os “fazem cavaleiros”, lhes “conferem a cavalaria”, nem mesmo os admitem em seu meio, mas simplesmente que eles lhes fornecem o equipamento necessário ao exercício de uma profissão que já era a deles na maioria dos casos; mas que eles não podiam mais exercer em decorrência da perda de todo ou parte de seu equipamento, cavalo ou armas, particularmente defensivas, como veremos mais adiante. O termo “investir” faz, portanto, referência a uma ação utilitária pela qual se coloca um cavaleiro em condições de executar sua função que é combater com as armas que o caracterizam, tornando-o assim “eficaz”. Em suma, deixá-lo pronto para a batalha. Do mesmo modo, um cavaleiro falará de seus adoubs para designar seu equipamento ou do equipamento de seu cavalo. Não há evidentemente aqui nenhuma alusão à cerimônia de entrada na cavalaria. Subsiste, aliás, em nossa língua francesa do ano 2000, traços dessa primeira acepção em alguns termos de marinha: radobar (radouber) um navio na água chamado de radoub, é repará-lo, colocá-lo novamente em condições de funcionamento. Radobar (radouber) redes de pesca, é também repará-las, torná-las operacionais. Enfim, no vocabulário do jogo de xadrez, investir (adouber) consiste em tocar uma peça não para jogá-la, mas para colocá-la em seu lugar, em posição no tabuleiro para o confronto. Em todos esses casos, não é feita nenhuma alusão a um golpe, nem a uma cerimônia iniciática, mas a uma simples colocação em condições para a realização de uma função. Com relação aos cavaleiros, trata-se, no caso, de colocá-los em condições para combater a cavalo.
Com certeza havia, necessariamente, uma primeira entrega de armas ao cavaleiro, quando ele atingia a idade e as capacidades físicas e morais adequadas. Mas essa entrega inicial, que “fazia” um jovem transformar-se em um verdadeiro cavaleiro, não tinha ainda nessa data o significado honorífico, promocional, suntuário e ideológico que ele assume pouco a pouco a partir do fim do século XII e mais ainda depois. Nas obras dessa época, a referência a essa entrega inicial se torna mais freqüente. Tudo se passa como se a cavalaria, então, tomasse plenamente consciência de si mesma e de sua dignidade ao mesmo tempo social e moral. Ela se fecha aos não-nobres, dota-se de uma ética e de uma ideologia resultante, em parte, do ensino eclesiástico, em parte dos valores aristocráticos que vinham se enxertar no velho fundo das virtudes guerreiras que constituem a trama do que podemos denominar a ideologia cavalheiresca então nascente.
Para descobrir as origens dos diversos elementos que compõem essa ideologia e para descrever sua evolução e fusão, a história não se pode contentar com documentos que, tradicionalmente, constituem seu campo de estudo privilegiado: cartas, crônicas, anais e relatos “históricos”. É preciso ampliar a pesquisa com fontes que lhe são menos familiares: a liturgia, a iconografia, a literatura, sobretudo, muito rica nessa área. É a ambição deste livro, resultante de cerca de trinta anos de pesquisas nessas diversas áreas.

Todos os homens, caro Galião, querem viver felizes, mas, para descobrir o que torna a vida feliz, vai-se tentando, pois não é fácil alcançar a felicidade, uma vez que quanto mais a procura mos mais dela nos afastamos. Podemos nos enganar no caminho, tomar a direção errada; quanto maior a pressa, maior a distância.
Devemos determinar, por isso, em primeiro lugar, o que desejamos e, em seguida, por onde podemos avançar mais rapidamente nesse senti do. Dessa forma, veremos ao longo do percurso, sendo este o adequado, o quanto nos adiantamos cada dia e o quanto nos aproximamos de nosso objetivo. No entanto, se perambularmos daqui para lá sem seguir outro guia senão os rumores e os chamados discordantes que nos levam a vários lugares, nossa curta vida se consumirá em erros, ainda que trabalhemos dia e noite para melhorar o nosso espírito.
Devemos decidir, por conseguinte, para onde vamos nos dirigir e por onde, não sem a ajuda de algum homem sábio que haja explorado o caminho pelo qual avançamos, porque a situação aqui não é a mesma que em outras viagens; nes tas há atalhos, e os habitantes a quem se pergunta o caminho não permitem que nos extraviemos. Quanto mais freqüentado e mais conhecido que seja o trajeto, maior é o risco de ficar à deriva.
Nada é mais importante, portanto, que não seguir como ovelhas o rebanho dos que nos precederam, indo assim não aonde querem que se vá, senão aonde se deseja ir.
E, certamente, nada é pior do que nos acomodarmos ao clamor da maioria, convencidos de que o melhor é aquilo a que todos se submetem, considerar bons os exemplos numerosos e não viver racionalmente, mas sim por imitação.
Daí, a grande quantidade de pessoas que se precipitam umas sobre as outras. Como acontece em uma grande catástrofe coletiva, quando as pessoas são esmagadas, ninguém cai sem arrastar a outro, e os primeiros são a perdição dos que os seguem. Isso tu podes ver acontecer ao longo da vida; ninguém erra por si só, apenas repete o erro dos outros.
É prejudicial, portanto, apegar-se aos que estão à tua frente, ainda mais quando cada um prefere crer em lugar de julgar por si mesmo, deixando de emitir juízo próprio sobre a vida. Por isso, adota-se, quase sempre, a postura alheia. Assim, o equívoco, passando de mão em mão, acaba por nos prejudicar.
Morremos seguindo o exemplo dos demais. A saída é nos separarmos da massa e ficarmos a salvo. Mas agora as pessoas entram em conflito com a razão em defesa de sua própria desgraça. A mesma coisa acontece nas eleições. Aqueles que foram eleitos para o cargo de pretores são admirados pelos que os elegeram. O beneplácito popular é volúvel. Aprovamos algo que logo depois é condenado. Este é o resultado de toda decisão com base no parecer da maioria.
II
Quando se trata da felicidade, não é adequado que me respondas de acordo com o costume da separação dos votos: “A maioria está deste lado, então, do outro está a parte pior”. Em se tratando de assuntos humanos, não é bom que as coisas melhores agradem à maioria. A multidão é argumento negativo.
Busquemos o melhor, não o mais comum, aquilo que conceda uma felicidade eterna, não o que aprova o vulgo, péssimo intérprete da verdade.
Chamo vulgo tanto àqueles que vestem a clâmide quanto aos que carregam coroas. Não olho a cor das roupas que adornam os corpos, não confio nos olhos para conhecer o homem. Tenho um instrumento melhor e mais confiável para discernir o verdadeiro do falso; o bem do espírito, o espírito o há de encontrar.
Se o homem tivesse a oportunidade de olhar para dentro de si próprio, como se torturaria, confessaria a verdade e diria: “Tudo que tenho feito até agora, preferia que não tivesse sido feito; quando penso em tudo o que disse, invejo os mudos; tudo o quanto desejei, a maldição de meus inimigos; tudo o que temi. Ó deuses justos! Melhor não tivesse desejado. Fiz muitas inimizades, e o ódio substituiu a amizade (se é que há amizade entre os maus), e nem sou amigo de mim mesmo. Fiz os maiores esforços para sair da multidão e fazer-me notar por alguma qualidade: o que tenho feito senão oferecer-me como um alvo e mostrar à maldade onde poderia me machucar? Vê aqueles que elogiam a eloqüência, escoltam a riqueza, adulam os benfeitores, louvam o poder? Todos são inimigos, ou podem sê-lo. Tantos são os admiradores quanto os invejosos. Por que não buscar algo realmente bom, para sentir, não para mostrar? Essas coisas que se contemplam, diante das quais as pessoas se detêm, que um mostra a outro com assombro, por fora brilham, por dentro são deploráveis.”
III
Busquemos as coisas boas, não na aparência, mas sólidas e duradouras, mais belas no seu interior. Devemos descobri-las. Não estão longe, serão encontradas; apenas se precisa saber quando as encontramos. No entanto, passamos como cegos ao lado delas, tropeçando no que desejamos. Porém, para evitar delongas, passarei por alto as opiniões dos demais, pois é cansativo enumerá-las e rejeitá-las. Ouve a nossa.
Quando digo a nossa, não me associo a nenhum dos mestres estoicos. Também tenho direito a opinar. Portanto, seguirei um, pedirei a outro para dividir sua tese; talvez, depois de haver citado a todos, não rejeitarei qualquer coisa que decidiram os anteriores, e direi: “e ainda penso alguma coisa mais”.
Entretanto, de acordo com todos os estoicos, eu sigo a natureza. A sabedoria reside em não se afastar dela e adequar-se à sua lei e ao seu exemplo.
A felicidade é, por isso, o que está coerente com a própria natureza, aquilo que não pode acontecer além de si. Em primeiro lugar, a mente deve estar sã e em plena posse de suas faculdades; em segundo lugar, ser forte e ardente, magnânima e paciente, adaptável às circunstâncias, cuidar sem angústia do seu corpo e daquilo que lhe pertence, atenta às outras coisas que servem para a vida, sem admirar-se de nada; usar os dons da fortuna, sem ser escrava deles.
Compreendes, ainda que não claramente, que disso advém uma constante tranqüilidade e liberdade, uma vez afastadas as coisas que nos perturbam ou nos amedrontam. Em lugar de prazeres e gozos mesquinhos e frágeis, até mesmo prejudiciais em sua desordem, que venha uma grande, inabalável e constante alegria e, ao mesmo tempo, a paz e a harmonia da alma, a generosidade com a doçura. Qualquer tipo de maldade é resultado de alguma deficiência.
IV
O bem, como se concebe, também pode ser definido de outras maneiras, ou seja, pode ser entendido no mesmo sentido, mas não nas mesmas condições.
Um exército pode se estender em uma ampla frente ou concentrar-se; dispor o centro em curvas, arqueando as alas, ou avançar em uma linha reta, continuando igual a sua força e a vontade de lutar pela mesma causa. Da mesma forma, a definição do bem supremo pode ser ampla e detalhada ou breve e concisa.
Será o mesmo, portanto, se eu disser: “O bem supremo é uma alma que despreza as coisas futeis e se satisfaz com a virtude”, ou, ainda, “uma força de espírito é invencível, alerta, cala no agir e atenta aos interesses da humanidade, tendo cuidado especial por aqueles que nos rodeiam”.
Pode-se ainda dizer que o homem feliz é aquele para quem não existe nem bem nem mal, apenas uma alma boa ou má; que pratica o bem, contenta-se com a virtude, não se deixa nem elevar nem abater pelo destino, não conhece bem maior do que o que pode dar a ele próprio, para quem o verdadeiro prazer será o desprezo dos prazeres.
Podes, se gostas de digressões, apresentar a mesma ideia com outras imagens sem alterar o seu significado. Nada nos impede, na verdade, de dizer que a felicidade consiste em uma alma livre, sem medo e constante, inacessível ao temor e à ganância, para quem o único bem é a dignidade e o único mal é a desonestidade, sendo todo o restante um aglomerado de coisas que não retiram ou acrescentam nada à felicidade da vida. Em síntese, fatos que vão e vêm sem aumentar ou reduzir o bem supremo.
Este princípio, fundado sobre tal perspectiva, queiramos ou não, acarreta serenidade e uma profunda alegria que vem do interior, pois é para seu próprio prazer, não desejando bens maiores que os próprios.
Por que é que tais coisas não hão de compensar os movimentos mesquinhos, frívolos e inconstantes de nosso fraco corpo? Pelo contrário, no dia em que ele dominar o prazer, também do minará a dor.
V
Vê, então, quão ruim e funesta servidão terão que sofrer aqueles que têm alternadamente prazeres e dores, senhores mais caprichosos e despóticos. Tem-se que encontrar, portanto, uma saída para a liberdade. Essa liberdade dá-nos a indiferença ante a sorte. Assim esses inestimáveis bens surgirão, a calma do espírito posto em segurança e a elevação; e, rejeitados todos os erros, do conhecimento da verdade irá surgir uma grande alegria, a afabilidade e o contentamento do espírito. De todos esses bens, a alma desfruta não porque são excelentes em si, mas porque brotam de seu próprio bem.
Uma vez que se começa a discutir a questão amplamente, pode-se chamar de feliz aquele que, graças à razão, não deseja nem teme. As pedras também não têm medo e tristeza, bem como os animais, mas nem por isso diz-se que são felizes aqueles que não têm consciência da felicidade.
Ponha no mesmo nível os homens os quais a natureza obtusa e a ignorância de si mesmos os reduzem ao conjunto dos animais e das coisas inanimadas. Não há diferença entre estes e aqueles. De fato, os animais carecem totalmente de razão. Nesses homens, ela é pequena e nociva e serve apenas para corrompê-los, pois ninguém pode ser chamado de feliz estando distante da verdade.
A vida feliz, por isso, tem o seu fundamento em uma ação simples e segura. Porque a alma é pura e livre de todo o mal quando evita os riscos, sempre disposta a permanecer onde está e a defender a sua posição contra os sucessos e os golpes da sorte.
No que se refere ao prazer, mesmo quando difundido à nossa volta, insinuando-se por todos os meios, lisonjeando o espírito com seus afagos e ganhando um após o outro, para seduzir-nos total ou parcialmente, cabe indagar: quem, dentre os mortais, dotado de um mínimo de racionalidade, ainda que atraído, ousaria, relegando a alma, dedicar-se apenas ao corpo?
VI
Mas também a alma, dirão alguns, tem os seus prazeres. Concordo que os tem. Ela se torna centro e árbitro da sensualidade e dos prazeres. Então, enche-se de todas as coisas que tendem a deliciar os sentidos. Volta o pensamento ao passado e, lembrando prazeres, recompõe sua experiência e indaga por aqueles ainda por vir. Assim, enquanto o corpo é abandonado aos festins presentes, a mente corre com o pensamento ao encontro de prazeres futuros. Tudo isso me parece mesquinho, já que preferir o mal ao bem é loucura. Ninguém pode ser feliz se não tiver a mente sadia, e, certamente, não a tem quem opta por aquilo que vai prejudicá-lo.
É feliz, por isso, quem tem um julgamento correto. Feliz é aquele que, satisfeito com sua condição, desfruta dela. Feliz é quem entrega à razão a condução de toda a sua vida.
Observa agora aqueles que conceituam o bem supremo junto aos prazeres. Insistentemente, negam que seja possível separar o prazer e a virtude. Assim, afirmam não ser possível viver honestamente sem prazer, nem ter vida com prazer sem honestidade. Não vejo como coisas tão diversas podem ser conciliadas. O que proíbe separar o prazer da virtude? Acreditas que todo o princípio de bem procede da virtude e de suas bases advém aquilo que amas e desfrutas? Ora, se prazer e virtude fossem inseparáveis, então não haveria coisas agradáveis, apenas desonrosas; nem coisas honestas, apenas onerosas, só alcançadas a duras penas.
VII
Digo ainda que o prazer está ligado à vida mais infame, mas a virtude não aceita a desonestidade. Há indivíduos descontentes não por causa da falta de prazer, mas em decorrência do prazer em si, o que não aconteceria se o prazer estivesse ligado à virtude. A virtude frequentemente abre mão do prazer e dele não tem necessidade. Por que, então, juntar o que é contraditório e diverso?
A virtude é algo de elevado, nobre, invencível e infatigável. O prazer é fraco, servil, frágil e efêmero, cuja sede e casa são bordéis e tabernas. Você encontrará a virtude no templo, no fórum, na cúria, vigiando nossas muralhas. Anda coberta de poeira, queimada de sol e com as mãos cobertas de calos.
O prazer, por sua vez, quase sempre anda escondido em busca de trevas, perto das casas de banho, lugares longe dos edis. Apresenta-se flácido, frouxo, cheirando a vinho e a perfume, pálido, quando não cheirando a formol e parecendo embalsamado como um cadáver.
O bem supremo é imortal, não desaparecerá e não está familiarizado com tédio ou arrependimento, pois uma alma correta não muda nunca, não se aborrece, não se altera, porque sempre seguiu o caminho certo. Ao contrário disso, o prazer quanto mais deleita, logo se extingue. Sendo limitado, fica logo satisfeito. Sujeito ao tédio, logo depois do primeiro ímpeto já se mostra fadigado. Não demonstra estabilidade porque é fugaz. Assim, não pode ter consistência aquilo que aparece e desaparece como um relâmpago, destinado a findar no mesmo instante em que se faz presente. Em verdade, o fim já está próximo quando começa.
VIII
Importa que o prazer esteja presente tanto entre os bons quanto entre os maus e não deleite menos os malvados em suas torpezas do que os bons em suas ações honestas? É por isso que os antigos recomendavam seguir a vida melhor e não a mais agradável, de modo que o prazer se torne um aliado e não o guia da vontade digna e honesta.
É a natureza quem deve nos guiar. A ela se dirige a razão em busca de conselho. Deixa que eu explique o que entendo. Se soubermos manter, com cuidado e serenidade, os dotes físicos e as nossas capacidades naturais como bens fugazes e de apenas um dia; se não somos escravos deles nem dominados pelas coisas exteriores; se as ocasionais alegrias do corpo têm para nós o mesmo valor que as tropas auxiliares (devem servir e não comandar), então, por certo, tudo isso será útil para a alma.
Que o homem não se deixe corromper nem dominar pelas coisas exteriores e somente olhe para si mesmo, que confie em seu espírito e esteja preparado para o que o destino lhe envie, isto é, que seja o próprio artífice de sua vida. Que sua confiança não seja desprovida de conhecimento, nem seu conhecimento, de constância; que suas decisões sejam para sempre e não sofram qualquer alteração. Compreende-se, sem necessidade de repetir, que tal homem será tranqüilo e organizado, fazendo tudo com grandeza e amabilidade. A verdadeira razão estará incluída nos sentidos e fará, a partir deles, o seu ponto de partida, uma vez que não tem mais onde apoiar-se para que possa se lançar em direção à verdade e, depois, voltar para si mesma. Assim como o mundo que engloba todas as coisas, deus, governante do universo, dirige-se às coisas externas, mas novamente retorna a si próprio de onde estiver. Que nossa mente faça o mesmo; quando seguir seus sentidos e se estender por meio deles através de coisas exteriores, seja dona destas e de si própria. Desse modo, resultará uma unidade de força e de poder em conformidade com ela própria, e nascerá uma razão segura, sem hesitação ou divergência em seu ponto de vista e compreensão, nem em sua convicção. Assim, quando harmonizada em seu todo, atinge o supremo bem. Pois nada de errado ou inseguro subsiste; nada que possa escorregar ou tropeçar.
Fará tudo através de seu controle, nada de inesperado irá acontecer, e tudo ficará bem, fácil e direito, sem desvios no agir, porque preguiça e hesitações demonstram luta e inconstância. Por tanto, podes declarar resolutamente que o supremo bem é a harmonia da alma, porque as virtudes devem estar onde estão a harmonia e a unidade; os vícios são aqueles que discordam.
IX
“Mas tu mesmo”, dizes, “praticas a virtude porque esperas que te traga algum prazer.” Em primeiro lugar, se a virtude há de proporcionar prazer, então por isso mesmo é desejada. Não é porque ela proporciona tal satisfação que deve ser buscada e, sim, porque, sobretudo, daí advém algum prazer. O empenho em busca da virtude não ocorre em razão do prazer, mas em vista de outro objetivo, embora possa decorrer algum prazer dessa busca.
Embora em campo lavrado possam aparecer algumas flores, não foi por causa de tais plantas, ainda que proporcionem uma bela visão, que foi gasto tanto trabalho. A intenção do semeador era outra. O “a mais” é apenas um acréscimo eventual. Dessa forma, o prazer também não é o valor nem o motivo da virtude, mas, sim, um acessório dela. Não é porque deleita que agrada; mas, se agrada, então deleita.
O bem supremo reside no próprio julgamento e na estruturação de um espírito perfeito que, respeitando os seus limites, realiza-se plenamente de maneira a mais nada desejar. Portanto, não há nada fora da plenitude a não ser seus limites.
Enganas-te ao questionar acerca do motivo que me leva a desejar a virtude; procuras, então, buscar algo além do que consideras o máximo, dizes. Queres saber que vantagem tiro da virtude? Apenas ela mesma, ela é o maior prêmio.
Isso te parece pouca coisa? Se digo: o bem supremo é a firmeza, a previsão, a agudeza, a liberdade, a harmonia e a dignidade de uma alma inquebrantável, poderias ainda imaginar algo de mais grandioso a que se referem todas essas coisas? Por que falar de prazer? Eu busco o bem do homem, não a barriga que em bestas e feras é maior.
X
“Desvirtuas o que digo”, poderias replicar. “Eu também não creio que alguém possa viver feliz sem que viva de modo virtuoso. Isso não vale para os animais nem para quem mede a felicidade apenas pela comida. Afirmo, claramente, que a vida que eu chamo agradável não deve ser outra senão a que esteja ligada à virtude.”
Ninguém ignora que alguns homens pensam apenas nos prazeres, e que a alma sugere prazeres e gozos exuberantes. Em primeiro lugar, a insolência e a excessiva autoestima; o orgulho que despreza o outro; o amor cego pelas próprias coisas; a euforia por pequenos e fúteis pretextos; a maledicência com a soberba violenta; a inércia e a indolência que, cansada pelo acúmulo de prazeres, acaba dormindo sobre si mesma.
A virtude rejeita tudo isso. Para todas essas coisas, faz-se surda. Ela avalia o prazer antes de aceitá-lo. Não o acolhe para simples deleite, ao contrário, fica feliz em poder fazer uso dele com moderação.
“O equilíbrio ao limitar o prazer é lesivo para o bem supremo.” Ao falares assim, estás privilegiando o prazer. Eu o controlo. Tu o desfrutas, eu apenas me sirvo dele. Tu acreditas que ele seja o bem supremo; para mim sequer é bem. Tu fazes tudo por prazer; eu, nada.
XI
Quando digo que nada faço apenas por prazer, falo daquele a quem atribuímos o conceito de prazer. Penso que não é sensato chamar sábio a quem está escravizado por alguma coisa, ainda mais pela volúpia. De fato, se estiver totalmente sujeito àquilo, como poderia vencer o perigo, a pobreza em torno da vida humana? Como suportar a visão da morte e da dor; como enfrentar o estrépito do mundo amargo e de tantos inimigos violentos, quando se submete diante de um adversário tão débil?
Dirás: “Faz tudo o que o prazer sugerir.”
Digo: “Certo. Acontece que nem podes imaginar os tipos de insinuações que ele fará.”
Dirás: “Nada me aconselhará de muito sórdido, já que tudo está ligado à virtude.”
Digo: “Não vês, mais uma vez, que o bem supremo precisa de um tutor para ser bom? Como poderá a virtude ser guia do prazer se a fazes mera acompanhante?”
Colocas atrás quem deveria comandar. A virtude tem um papel importante a desempenhar segundo tua forma de pensar: ela é apenas pregustadora do prazer.
Vejamos agora se a virtude, assim considerada, ainda seria virtude, uma vez que não pode conservar o nome ao perder a função.
Para que fique claro o argumento, mostrarei como muitos homens cercados pelos prazeres, acobertados pela sorte e seus favores, não deixam de ser vistos como indivíduos corruptos.
Olha para Nomentano e Apício que, como afirmam, buscam coisas valiosas por terra e por mar. Depois, nas mesas de banquetes, expõem animais de todas as partes do mundo.
Olha como eles, do alto de seus leitos enfeitados com rosas, contemplam a fartura de suas festas, deliciando os ouvidos com músicas e cantos, os olhos com espetáculos e o paladar com diferentes sabores.
Estão vestidos com roupas delicadas. Para não deixarem de apreciar os odores, o ambiente está permeado de perfumes diversos. Neste local, acontecem orgias luxuosas.
Podes reconhecer que estão submetidos aos prazeres, mas isso não é um bem para eles, já que de alguma coisa verdadeiramente boa não estão desfrutando.
XII
“Será um mal para eles”, dizes, “porque muitas são as circunstâncias que perturbam o seu humor, sem falar nas posições antagônicas que ajudam a perturbar o espírito.”
Também posso pensar que seja assim, embora loucos e volúveis, e mesmo sujeitos ao arrependimento, irão experimentar tais prazeres que os deixarão afastados da inquietude e do bom-senso. Como costuma acontecer, tornam-se reféns de uma alegria enorme e de uma trepidante festividade a ponto de enlouquecerem de tanto rir.
Ao contrário, os prazeres dos sábios são moderados, comedidos, controlados e pouco perceptíveis, uma vez que vêm de improviso. Ao se fazerem presentes, não são acolhidos com pompa e circunstância por parte de quem os recebe. É que o sábio os inclui em sua vida tal como peças de um jogo, misturando-os a coisas mais sérias de forma a não se destacarem.
Deixe-se, pois, de unir coisas incompatíveis entre elas, confundindo prazer com virtude. É com tal engano que se lisonjeia os perversos. Aquele que se deixa afundar nos prazeres, bêbado e inebriado, ao mesmo tempo em que está consciente de conviver com o prazer também crê estar com a virtude.
Ouviu falar que prazer e virtude são inseparáveis e, por essa razão, nomeia os vícios com o nome de sabedoria, anunciando o que deveria esconder.
Assim, não se entregam à sensualidade levados por Epicuro, mas, apegados ao vício, escondem na filosofia a própria corrupção, lançando-se para onde o prazer é elogiado. Também não levam em consideração o quanto era moderado o prazer segundo Epicuro, mas apegam-se apenas ao nome dele, esperando encontrar justificativa e apoio para uma vida devassa e corrupta. Portanto, perdem a única coisa boa que havia entre os seus males: a vergonha do pecado. De fato, elogiam aquilo que os arruina enquanto se afundam em vícios. Por isso, sequer é possível corrigirem-se, uma vez que se aplica um título honroso para uma indolência vergonhosa. Esta é a razão por que este elogio do prazer é prejudicial: os preceitos virtuosos ficam escondidos; o que corrompe está manifesto.
XIII
Eu próprio sou de opinião (afirmo isso apesar do que dizem nossos partidários) que os preceitos de Epicuro são nobres e corretos e, se analisados sob uma perspectiva mais acurada, até severos. Ele reduz o prazer a algo pequeno e mesquinho. A mesma lei que atribuímos à virtude, ele atribui aos prazeres; isto é, obedecer à natureza. No entanto, o que é suficiente para a natureza é muito pouco para a luxúria. Então, o que ocorre?
Existe quem chame felicidade o lazer preguiçoso, a gula e a luxúria, buscando apoio para sua conduta devassa. Quando encontra o prazer, sob um nome atraente, não adota aquele do qual ouve falar, mas, sim, aquele que já trazia consigo. Não é por isso, no entanto, que diria que a escola de Epicuro, segundo opinião da maioria, professa a perdição.
Digo, no entanto, que está desacreditada, e sua fama é das piores, o que, em verdade, não passa de injustiça. Quem poderia saber isso senão aquele que nela fez sua iniciação? É o aspecto dele que dá margem a falatórios e levanta falsa esperança, da mesma forma que quando um homem muito másculo veste roupas femininas. Sua honra não é manchada, sua masculinidade continua intocável, uma vez que o corpo não sofre qualquer desonra, porém ele carrega a sineta na mão. Quem se aproxima da virtude demonstra ter índole nobre. Ao contrário, quem segue o prazer demonstra ser fraco, degenerado, propenso ao vício mais sórdido, a não ser que haja quem o faça enxergar a diferença entre os prazeres e, dessa maneira, possa aprender quais deles são os que se encaixam nos limites da necessidade natural e quais os imoderados e insaciáveis, aqueles que quanto mais procurados mais se tornam exigentes.
Que a virtude tenha precedência, pois, assim, estaremos em segurança. O prazer excessivo prejudica; na virtude não há de se temer o excesso, porque ela mesma contém em si a medida adequada. Não poderia ser um bem o que padece por sua própria magnitude.
XIV
Para os que foram privilegiados com uma natureza racional, o que poderia ser-lhes oferecido de melhor senão a própria razão? Se é desejável tal união, se se quer que a felicidade acompanhe, a virtude deve permanecer à frente, e o prazer deve acompanhá-la, mantendo-se tão perto como a sombra de um corpo. No entanto, fazer da virtude escrava do prazer é coisa de uma alma incapaz de algo maior. Que a virtude seja quem leva o estandarte. Dos prazeres, devemos fazer uso moderado.
Algumas vezes, os prazeres poderão nos levar a alguma concessão, mas não devem nunca nos impor nada. Mas aqueles que tenham se entregue ao comando do prazer enfrentarão duas dificuldades. Primeiro, perdem a virtude e não têm o prazer, pois por ele são dominados; ou se atormentam pela sua falta, ou se sufocam em sua abundância. Infeliz quem dele se afasta, mas muito mais quem por ele for soterrado. Tal ocorre quando alguém é surpreendido pela tempestade no mar Sirtes. Ou procura a praia, ou se deixa ficar a favor da violência das ondas.
Este é o resultado do excesso de prazer e de amor cego a qualquer coisa. Aquele que prefere o mal ao bem se coloca em perigo caso alcance o seu objetivo. Cansado e não sem riscos, porta-se como se estivesse à caça de animais selvagens. Mesmo após a captura, deve portar-se cautelosamente, porque, frequentemente, costumam devorar seus donos. Dessa forma, os grandes prazeres acabam trazendo tragédias a quem os cultiva, deixando-os dominados por eles.
Parece-me bom esse exemplo da caça. Como aquele que, abandonando suas ocupações e outros afazeres agradáveis, procura os esconderijos das feras, contente em armar-lhes armadilhas enquanto fecha o cerco com os latidos dos cães nos rastros dos animais, assim persegue os prazeres.
Colocando-o frente a tudo o mais, o homem descuida, em primeiro lugar, da liberdade. Este é o preço pago, já que prazer libertino não se compra, a ele se é vendido.
XV
Poderias contestar: “O que impede a união de virtude e prazer como uma única coisa e o estabelecimento do bem supremo de modo que seja ao mesmo tempo nobre e agradável?” Acontece que não pode haver uma parte do virtuoso que não seja algo virtuoso, e o bem supremo não terá sua nobreza se guardar algo distinto do íntegro. Nem mesmo a alegria que vem da virtude, embora seja um bem, é uma parte do bem absoluto. Assim são a alegria e a tranqüilidade, ainda que se originem de boas causas. É certo que são coisas boas, mas não fazem parte do bem supremo. Dele são apenas conseqüência. Qualquer um que estabeleça uma aliança entre o prazer e a virtude, mesmo sem colocá-los em pé de igualdade, faz com que a fragilidade de um deles debilite o quanto haja de vigor no outro, e coloca sob jugo a liberdade que só é invencível se não conhece nada de mais precioso do que ela mesma. De fato, necessita-se da sorte quando começa a escravidão.
Disso advém uma vida plena de ansiedade, suspeita e inquieta, que se torna temerosa frente aos acontecimentos e no aguardo dos momentos do tempo.
Dessa forma, não se propicia para a virtude uma sólida e permanente base, passa-se a restringi-la à condição de instabilidade. O que há de tão mais incerto do que a espera das coisas fortuitas e da mudança do corpo e daquilo que o afeta? Como pode obedecer a deus e aceitar de bom grado tudo o que lhe ocorre, não queixar-se do destino e encontrar o lado positivo em qualquer evento, quando até o menor estímulo de prazer ou de dor o afeta? Quem se entrega aos prazeres não pode tornar-se defensor ou salvador da pátria nem protetor de seus amigos. Assim, deve-se colocar o bem supremo num lugar de onde nada possa de lá afastá-lo. A ele não deve ter acesso nem a dor, nem a esperança, nem o medo, nem qualquer outra coisa que possa ameaçá-lo. Só a virtude pode dele se aproximar.
Só a virtude pode lá chegar; passo a passo dominará o caminho, mantendo-se firme, suportando todos os imprevistos, sem resignação, mas com alegria, consciente de que as adversidades da vida fazem parte da lei da natureza. Como o bom soldado, que suporta os ferimentos, acumula cicatrizes e, mesmo à morte, traspassado por dardos, ainda admira o seu comandante aos pés do qual tomba.
Terá sempre em mente o velho preceito: seguir a deus. Em vez disso, o que reclama, chora e geme é obrigado a fazer à força o que lhe é ordenado.
Deixa-se arrastar, não caminha acompanhando os demais. É estupidez e falta de consciência da própria condição afligir-nos quando nos falta algo ou somos atingidos de forma mais violenta por adversidades. Da mesma forma, ficar indignado com coisas que ocorrem tanto para os bons quanto para os maus, como doenças, luto, fraquezas e todos os demais infortúnios da vida humana. Devemos saber suportar com espírito forte tudo o que por lei universal nos é dado a enfrentar. É nossa obrigação suportar as condições da vida mortal e não nos perturbarmos com o que não está em nosso poder evitar. Nascemos em um reino onde obedecer a deus significa liberdade.
XVI
Para concluir, a verdadeira felicidade consiste na virtude. O que essa virtude te aconselha? Ela considera como bem apenas o que está unido à virtude e como mau o que tem ligação com a maldade. Mais ainda, manda que sejas inabalável, quer frente ao mal, quer junto ao bem, de forma a que possas imitar deus dentro dos limites de tua própria capacidade. O que ganhas com isso? Privilégios dignos dos deuses. Não serás forçado a nada. Não terás necessidade de nada. Serás livre, seguro e imutável. Nada tentarás executar em vão. Tudo ocorrerá conforme o teu desejo. Nada será contrário aos teus desejos nem à tua vontade.
“Então”, perguntas, “basta a virtude para viver feliz?” “Se é perfeita e divina, por que então não é suficiente, ou melhor ainda, mais do que suficiente? O que faltaria àquilo que está além de qualquer desejo? Quem, ao contrário, ainda não alcançou a meta final da virtude, mesmo que já tenha empreendido longa caminhada, precisa, sim, de sorte, uma vez que ainda luta em meio aos desejos humanos enquanto não consegue os laços de tantos obstáculos da mortalidade.”
Qual a diferença, então? A diferença reside em uns estarem algemados, outros decapitados e alguns estrangulados. Aquele que tenha atingido um plano superior, elevando-se ao máximo, leva algemas frouxas. Não se encontra ainda livre, mas já prevê a futura liberdade.
XVII
Alguém, dentre os que falam contra a filosofia, poderá dizer: “Por que há mais coragem em tua fala do que em tua vida? Por que moderas o tom de tua voz diante dos poderosos e julgas o dinheiro como necessário? Por que te abates diante de contrariedades? Por que choras a morte da esposa e do amigo? Por que és tão apegado à celebridade? Por que te afetam as palavras maldosas?
“Por que é que a tua área cultivada produz mais do que o necessário para viveres? Por que tuas refeições não seguem teus preceitos? Por que ter um mobiliário elegante também? Por que se bebe em tua casa um vinho mais velho do que o dono? Por que instalar um aviário? Por que são plantadas árvores só para te dar mais sombra? Por que tua esposa traz nas orelhas enfeites de igual valor ao dote de uma opulenta casa? Por que teus escravos vestem belas roupas? Por que é uma arte em tua casa servir a mesa, e são colocados talheres de prata, e tens até um mestre para cortar a carne?”
Acrescenta ainda, se quiseres: “Por que tens propriedades para além-mar, sem sequer saber quantas são elas? É uma pena que sejas tão negligente a ponto de não saber quem são os teus escravos, ou tão rico que perdes a conta de quantos são eles?”
Responderei logo às críticas e acusações que me fazes. Além disso, vou fazer mais objeções do que imaginas. Agora te responderei isto: “Eu não sou um sábio e, para que a tua malevolência se regozije, acrescento, nunca serei.”
É por isso que não exijo ser igual aos melhores, apenas melhor que os maus. Basta-me que, a cada dia, eu corte um pouco os meus vícios e castigue os meus erros.
Não estou curado nem ficarei de todo sadio. Tomo mais calmante que remédios para o mal de gota e dou-me por feliz se os ataques são mais esporádicos, e as dores, um pouco menos dolorosas. Seja como for, comparado com tua caminhada, eu, mesmo impotente, ainda assim sou um corredor.
XVIII
Podes dizer: “Falas de uma maneira e ages de outra”. Essas mesmas censuras, ó espíritos malignos e agressivos, contra indivíduos de virtudes, também foram feitas a Platão, Epicuro e Zenão. Eles também não procuravam apregoar o modo como viviam e, sim, o modo como se devia viver. Eis o motivo por que não estou falando de mim, mas da vida virtuosa em si. Quando falo contra os vícios, estou reprovando, em primeiro lugar, os meus. Portanto, se for possível, procurarei viver corretamente.
Não será a malignidade venenosa a me afastar dos meus objetivos, nem esse veneno, que é jogado sobre os outros, vai me impedir de elogiar não a vida que levo e, sim, a que deveria levar. Também não me impede de cultuar a virtude e de segui-la, mesmo que seja me arrastando e à grande distância.
Esperavas que eu escapasse da maldade que não poupou a magnitude de Rutílio e de Catão? Será que alguém se preocupa em parecer demasiado rico para aquelas pessoas para quem o cínico Demétrio não é bastante pobre? Mesmo contra um homem como ele, extremamente forte na luta contra todas as exigências naturais, sendo o mais pobre de todos cínicos, já que, além de ser proibido de ter qualquer coisa, também foi proibido de pedir, atreveram-se os difamadores a dizer que ele não era bastante pobre!
XIX
Negam que Diodoro, filósofo epicúreo, que há poucos dias terminou sua vida pelo seu próprio punho, agiu de acordo com os preceitos de Epicuro ao cortar o pescoço. Alguns querem ver loucura nessa ação; outros, ousadia. Ele, porém, feliz e com a consciência satisfeita, deixou com a vida testemunho sobre a tranqüilidade de seus dias passados em porto seguro.
Pronunciou uma frase que é ouvida contra a vontade, porque soa como um convite a ser imitado: “Vivi. Fiz a caminhada que o destino me traçou.”
Discutem a vida de um, a morte de outro e, ao ouvirem a notícia da morte de um grande homem, ladram como animais de estimação ao ir ao encontro de pessoas desconhecidas. Interessa a esses que ninguém viva como uma pessoa de bem, já que a virtude alheia parece demonstrar os seus próprios vícios.
Por inveja, comparam adornos brilhantes deles com as suas vestes miseráveis e não avaliam quanto isso traz de prejuízo para eles mesmos. Se homens dedicados à virtude são avaros, libidinosos e ambiciosos, quem são vocês, que não suportam a virtude a ponto de sequer querer ouvir-lhe o nome.
Afirmam que nenhum daqueles faz o que prega, não vivendo de acordo com a própria doutrina. Mesmo que isso fosse verdade, por acaso as palavras deles deixariam de ser grandiosas e superiores a todos os infortúnios humanos, posto que se esforçam para se soltar das cruzes nas quais cada um de vocês prende seus próprios pregos? Contudo, os condenados ao suplício estão suspensos na própria cruz. Os que se atormentam a si mesmos terão tantas cruzes quanto desejos. Realmente, os maledicentes se enfeitam com as ofensas dos outros. Acreditam, por isso, que estão isentos de culpa, se não fosse o fato de alguns cuspirem, do alto do patíbulo, nos espectadores.
XX
“Os filósofos não fazem o que dizem.” É verdade que já fazem muita coisa quando falam e pensam honestamente. Se o comportamento deles fosse adequado às suas palavras, quem seria mais feliz do que eles?
Entretanto, não devemos ignorar as palavras boas e os corações repletos de bons pensamentos. O cultivo de resoluções saudáveis, independentemente do resultado, é louvável. Não é estranho que não atinja o topo quem escala encostas íngremes. Mas, se tu fores humano, admira, apesar da queda, os que se esforçam para conseguir grandes escaladas. Uma alma generosa, sem olhar para as próprias forças, apenas para a da natureza, aspira atingir os mais elevados objetivos, elaborar planos mais elevados do que ela pode realizar, mesmo com um espírito forte.
Há quem proponha a si mesmo o seguinte: “Olharei a morte com o mesmo ânimo com que ouvi falar sobre isso; suportarei qualquer cansaço com espírito forte, também desprezarei as riquezas presentes e futuras, sem ficar mais triste ou mais orgulhoso se elas estão em torno de mim ou em outro local; serei insensível aos ditames da sorte venturosa ou desafortunada; observarei todas as terras como se minhas fossem, e as minhas como se pertencessem a todos; viverei como alguém que sabe que nasceu para os outros e darei graças à natureza por isso.”
A natureza foi muito benevolente para comigo, já que me entregou a todos os meus semelhantes e, por sua vez, tenho todos só para mim. Se tenho algo de meu, conservarei, sem ganância, mas também não esbanjarei prodigamente. Acredito ser o dono daquilo que ofereci de modo consciente. Não costumo avaliar os benefícios por número e peso, mas, sim, pelo valor dado a quem os recebe. Nunca será demais o que posso oferecer a quem o merece. Farei tudo o que minha consciência mandar, sem me submeter ao que os outros pensam. Mesmo que apenas eu saiba o que estou fazendo, agirei como se todos estivessem me vendo. Ao comer e beber, o meu objetivo será apenas atender a uma necessidade natural e não encher o estômago vazio. Serei agradável para com os amigos, gentil e indulgente para com os inimigos. Cederei antes que me solicitem, adiantando-me a todas as demandas honestas.
Sei que a minha pátria é o mundo, e que os deuses o comandam, e eles estão acima de mim e ao redor, agindo como censores de meus atos e de minhas palavras. Quando a natureza solicitar o meu espírito, ou minha razão ordenar que eu o libere, partirei dizendo que sempre cultivei a retidão de caráter e as melhores intenções, sem haver reduzido a liberdade de ninguém, muito menos a minha. Qualquer pessoa que pretenda, que queiRá, que se proponha a fazer isso estará trilhando a estrada que leva aos deuses. Caso não consiga atingir a meta, terá então sucumbido depois de ter ousado grandes coisas.
XXI
Tu, que odeias a virtude e quem a cultiva, nada de novo estás fazendo. De modo igual, quem tem algum problema na vista não suporta a luz, tal como os animais noturnos evitam o brilho do sol. Mal desponta a luz do dia, correm para seus refúgios e, com medo da claridade, escondem-se em qualquer buraco. Geme e grita, insultando os bons. Escancara a boca e morde. Assim, rapidamente quebrarás os teus dentes antes que deixem marcas.
Como é que um adepto da filosofia pode viver com essa opulência? Por que diz que despreza riqueza e é possuidor de tantos bens? Por que acha a vida desprezível e vive?
Despreza a saúde; no entanto, trata de preservá-la com todo o rigor, desejando estar em excelente forma. Por que julga a palavra exílio como absurda e, ao mesmo tempo, diz: “Que mal existe em mudar de país?” Por que, sendo isso possível, acaba envelhecendo em sua própria terra natal?
Assegura, além disso, que não existe diferença entre vida longa e vida breve, mas, nada impedindo, procura viver a mais longa existência possível, mantendo-se com energia até a mais avançada velhice.
Ele afirma que essas coisas devem ser ignoradas, não no sentido de que não devam ser possuídas e, sim, de que devam estar presentes sem ansiedade. Dessa maneira, não as joga fora, mas, vindo a perdê-las, continua sua caminhada com tranqüilidade.
Onde a sorte acolhe, com maior segurança, as riquezas senão de onde poderá retomá-las sem protesto?
Marco Catão, embora louvasse Cúrio e Coruncânio, naqueles tempos em que possuir um pouco de prata era crime punível pelos censores, tinha ele próprio quarenta vezes mais sestércios. Certamente valor menor do que possuía seu bisavô Crasso, mas maior do que Catão, o censor. Apesar disso, se outros bens lhe fossem oferecidos, não os desprezaria.
Da mesma forma, o sábio, não é considerado indigno ao ser agraciado pelo dom da fortuna. Não ama a riqueza, mas a aceita de bom grado. Permite que entre em sua casa, não a rejeita, desde que ela enseje oportunidades para a virtude.
XXII
Assim, não resta dúvida de que o homem sábio tem um campo mais vasto para desenvolver o seu espírito em meio à riqueza do que na pobreza. Na pobreza, a virtude consiste em não se deixar abater, não cair em desalento. Na riqueza, existe oportunidade para a temperança, a generosidade, o discernimento, a organização, a magnificência com total liberdade.
O sábio não se despreza caso seja de estatura pequena, embora preferisse ser mais alto.
Se for franzino ou tiver um olho a menos, assim mesmo terá consciência de seu valor, preferindo ser robusto, mas sem esquecer que algo de mais valioso existe dentro de si. Suportará a moléstia, mas desejará ter saúde. Existem muitas coisas, apesar de terem pouca importância para o todo, que podem faltar sem que causem prejuízo ao bem principal, embora possa propiciar alguma vantagem para a serenidade duradoura da virtude. Portanto, a riqueza é agradável para o sábio, assim como o vento favorável para o navegante, ou um dia ensolarado no frio do inverno.
Nenhum dentre os sábios - falo daqueles sábios para os quais a virtude é o único bem verdadeiro - sustenta que as vantagens da riqueza, ditas como indiferentes, não tenham o seu real valor. Também não nego que algumas coisas sejam preferidas a outras, uma vez que a algumas delas é dado certo valor e a outras, muito mais.
E não nos devemos enganar, portanto. As riquezas aparecem entre as preferidas.
Dirias, então: “Por que zombas de mim, se para ti elas têm o mesmo valor que para mim?”
Deves saber que o valor não é idêntico para nós. Para mim as riquezas, se as perdesse, não me diminuiriam em nada, apenas elas seriam reduzidas. Tu, ao contrário, ficarás abatido, sentindo-te como que privado de ti mesmo, caso te abandonem. Para mim, as riquezas têm certo valor, para ti, têm um valor imensurável. Assim, as riquezas pertencem a mim, no teu caso, tu estás subordinado a elas.
XXIII
Deixa, por isso, de querer proibir aos filósofos o direito de possuírem bens. Ninguém condenou a sabedoria à miséria. O sábio poderá possuir grandes riquezas, desde que não sejam roubadas, manchadas com o sangue dos outros, que sejam adquiridas sem prejuízo algum, sem negócio sujo. Os gastos devem ser tão honestos como os ganhos, de forma que ninguém, exceto os maldosos, possa criticar. Os bens podem ser acumulados. São ganhos limpos, porque não há quem possa reivindicá-los, embora não falte quem queira tomá-los.
Com certeza, o sábio que não rejeita os favores da sorte não se vangloria e também não se envergonha de um patrimônio adquirido por meios honestos.
Terá motivo para se sentir glorificado se, aberta a casa e convidada toda a cidade, puder dizer: “Se alguém descobrir algo de seu, pode levar embora”.
Grande será o homem que, ditas essas palavras, continue com os mesmos bens que tinha antes. Quero dizer que, se permitiu ao povo inquirir sobre ele com tranqüilidade e sem preocupação, e ninguém encontrou nada para reivindicar, poderá ser rico de maneira franca e aberta. O sábio não deixará transpor o limiar de sua casa dinheiro suspeito, mas não rejeitará, certamente, uma grande riqueza, quando dom da sorte ou fruto da virtude.
Por que lhes negar um bom lugar? Deixe-as entrar, serão aceitas. Não haverá ostentação, mas também não ocultará um grande valor, nem o jogará fora. O primeiro gesto seria tolice, o segundo, mesquinharia. O que lhes diria ele? “Você é inútil” ou “Eu não sei usar da riqueza?” Da mesma forma, embora possa viajar a pé, prefere fazer isso com um veículo. Assim, se puder ser rico, vai preferir ser de verdade. Possuirá uma fortuna, mas estará consciente de que é algo inconstante e instável, não permitindo, portanto, que seja um fardo para si mesmo nem para os outros.
Dará... Por que aguças os ouvidos? Por que estendes a tua bolsa?
Dará a quem merecer ou a quem tenha potencial para ser merecedor, sabendo escolher, com grande prudência, os mais dignos, como quem lembra que deve dar conta tanto dos gastos quanto dos créditos. Dará por motivos justos, pois presente errado é inútil. Terá a bolsa aberta, mas não furada, da qual muito sai, sem esbanjar demais.
XXIV
Engana-se quem pensa que é fácil doar. Ao contrário, é mais difícil, visto que se deve agir com discernimento, e não por ímpeto ou instinto. Dou crédito a um, fico em débito com outro; presto favores àquele; tenho compaixão por este. Ajudo, para que não cometa desatinos, a quem não merece passar fome. Não darei um centavo a quem, mesmo precisando, por mais que receba, sempre quer receber mais.
A alguns apenas ofereço ajuda, enquanto que a outros, necessito convencê-los a receber. Não posso ser negligente nesse assunto, porque ao doar faço o melhor dos investimentos.
Então, dirás: “Tu dás para receber algo em troca?” Respondo: “Eu dou para que não se perca. O que for doado vai ficar em um lugar onde não pode ser reclamado, mas pode ser devolvido.” O importante é que o benefício seja tratado como um tesouro que permaneça muito bem cuidado, guardado, sendo desenterrado apenas quando for necessário.
A casa do homem rico oferece material para fazer o bem. Quem disse que devemos ser generosos apenas para aqueles que usam toga? A natureza ordenou-me ser útil para os homens, sejam escravos ou livres, ou assim nascidos ou não. Qual a diferença se é uma liberdade legal ou concedida por amizade? Onde houver um ser humano, aí haverá possibilidade de se fazer o bem.
Também é possível doar dinheiro no interior de nossa casa, praticando a liberalidade, assim chamada não por que dirigida a indivíduos livres, mas porque parte de uma alma livre.
Não existe razão para escutares de má vontade as palavras fortes e corajosas de quem seguia pela sabedoria. Fica atento, pois uma coisa é o empenho para ser sábio, e outra, sê-lo de fato. Alguém irá dizer-te: “Eu falo muito bem, mas ainda me encontro envolvido com muitos males”.
Não posso ser colocado em choque com meus princípios quando faço o máximo que posso, procuro melhorar e desejo um ideal grandioso. Apenas depois de ter alcançado os progressos que tinha em mente é que me poderia ser exigido o confronto entre o que falo e o que concretizo.
De maneira diversa, quem já atingiu o cume da perfeição falaria assim: “Antes de tudo, não podes emitir juízo sobre quem é melhor do que tu”.
No que diz respeito a mim, sendo desprezado pelos maus, significa que estou no caminho certo. Para explicar-te, visto que a ninguém se deve negar, ouve o que vou dizer e qual o valor que dou pelas coisas em questão. Volto a afirmar que as riquezas não são coisas boas em si mesmas. Se realmente fossem, elas nos tornariam bons. Não me é possível definir como algo bom em si aquilo que também faz parte da vida de maus indivíduos. Enfim, estou convicto de que riquezas são úteis e proporcionam grande conforto à vida.
XXV
Escuta agora por que não incluo as riquezas entre os bens e por que a minha atitude no que diz respeito a elas é diferente da tua, embora seja consenso que é necessário possuí-las.
Coloca-me na mais opulenta casa onde não se distingue ouro e prata. Não tenho nenhuma admiração por estas coisas, que, mesmo estando
junto a mim, estão fora de mim. Traslada-me para a ponte Sublício, entre os pobres e miseráveis. Não é por isso que pensarei ter menos valor só porque me encontro entre os que pedem esmola. Assim, o que muda? Eles não têm o que comer, mas não lhes falta o direito de viver. E daí? Seja como for, prefiro uma casa opulenta a uma ponte.
Põe-me no meio de um suntuoso e requintado mobiliário de luxo. Não é por esse motivo que serei mais feliz, por me encontrar sentado sobre almofadas macias ou por poder estender tapetes vermelhos sob os pés de meus convidados.
Troca o meu colchão, e não serei mais infeliz se puder descansar meus membros exaustos sobre um pouco de feno ou dormir sobre uma cama de circo com o estofado gasto devido à velhice da costura. O que isso significa? Eu prefiro mostrar-me vestido com a pretexta e ficar agasalhado, não deixando seminus ou descobertos os ombros.
Mesmo que todos os meus dias passem segundo meus desejos, que novas felicitações se juntem às anteriores, não me contentarei com isso.
Mesmo que o meu espírito seja atormentado por todos os lados com lutos, tristeza e contrariedades de qualquer tipo, de maneira que cada momento seja motivo de choro, nem por isso terei razão para reclamação. Mesmo sob tanta desgraça, não amaldiçoarei qualquer dia de minha vida. Tomei medidas para garantir que nenhum dia seja desastroso para mim.
Então? Eu prefiro temperar as minhas alegrias a reprimir a minha dor.
O grande Sócrates te diria o seguinte: “Faça-me vencedor de todas as nações, que o carro de Baco voluptuoso leve-me a partir do Oriente para Tebas, que os reis dos persas me façam consultas. Não é por isso que esquecerei que sou apenas um homem, mesmo sendo exaltado como um deus.”
De repente, uma desgraça pode lançar- me do alto, e, assim, serei apenas carregado tal qual enfeite em carro alheio para o desfile de um vendedor orgulhoso e feroz. Não obstante, não me sentirei menos em carro alheio do que quando me encontrava em pé no meu, triunfante!
É isso mesmo, prefiro vencer a ser vencido. Desprezo a sorte com toda convicção, mas, se me for dado escolher, escolherei o que me for mais agradável. Aconteça o que acontecer, será uma coisa boa para mim, no entanto, será melhor ainda ser for algo prazeroso que não cause a menor perturbação.
Então, não acho que haja qualquer força sem trabalho, porém, com relação a algumas virtudes, é preferível o uso de esporas e, com outras, o do freio.
Da mesma forma que o corpo deve ser retido em uma descida e ser impulsionado em uma subida, também há virtudes para um declive e outras para a escalada.
Há alguma dúvida que a constância, a tenacidade, a perseverança impliquem cansaço, esforço e resistência como todas as outras virtudes que se opõem às adversidades? Ao contrário, não é evidente que a liberalidade, a temperança e a mansidão seguem em disparada?
De um lado, deve-se frear o espírito para não escorregar; de outro, empurrá-lo e incentivá-lo vivamente. Por isso, na pobreza, vamos fazer uso de virtudes aptas à luta; na riqueza, daquelas mais cuidadosas, que controlam os movimentos e mantêm o equilíbrio.
Feita essa divisão, prefiro fazer uso daquelas que podem ser cultuadas na tranqüilidade em lugar de controlar as que exigem muito sangue e suor.
Por isso, o sábio disse: “Não sou eu que falo de uma maneira e vivo de outra. Ês tu que entendes uma coisa por outra. Estás ouvindo o que te chega aos ouvidos, mas não procuras entender o significado das palavras.”
XXVI
“Então, o que há de diferente entre mim, desvairado, e ti, sábio, já que nós dois desejamos posses?”
“Muita coisa. As riquezas servem ao sábio, enquanto comandam o louco. O sábio não permite nada às riquezas; elas, a ti, tudo permitem. Tu, como se a titivesse sido garantida posse eterna, ficas preso a elas como se fosse um vínculo habitual. O sábio pensa na pobreza justamente quando está instalado na riqueza.”
Jamais um general confia na paz a ponto de deixar de lado a vigilância e a preparação para uma guerra. Embora sem combate, a guerra continua declarada.
Para ti, basta uma casa luxuosa para que te tornes arrogante, como se ela não pudesse desmoronar ou queimar. A riqueza te embriaga porque pensas que ela tem o poder de superar qualquer dificuldade e que o destino não poderá aniquilá-la. Ficas despreocupado em meio à riqueza sem o menor cuidado com o perigo que ela pode trazer.
Da mesma forma, os bárbaros, estando cercados, não conhecem a utilidade das máquinas de guerra e olham indiferentes o cansaço dos inimi gos, não compreendendo para que servem aquelas coisas construídas à distância.
O mesmo acontece contigo. Ficas envaidedo com os teus pertences e não pensas nas desgraças que ameaçam de todos os lados. Elas se preparam para arrebatar a presa valiosa. Qualquer um pode tirar a riqueza do sábio, mas não lhe tiram os bens verdadeiros, porque ele vive feliz no presente e está despreocupado com o futuro.
“Nada” - dirá Sócrates, ou algum outro que tenha a mesma autoridade e o mesmo poder sobre as coisas humanas - “prometi a mim mesmo com mais firmeza do que não submeter os atos de minha vida à opinião alheia. Joguem sobre mim suas duras palavras. Não pensarei estar sendo injuriado, pois parecem gemer como criaturas in felizes.”
Isso dirá aquele a quem foi dada a sabedoria, porque, livre de vícios, sente-se levado a julgar os outros não por raiva e, sim, por bem. Acrescentará, ainda: “A opinião de vocês me abala não por que sou atingido, mas porque vocês continuam a praguejar contra a virtude como inimigos dela, não lhes restando nenhuma esperança de mudança de atitude.”
A mim não causas nenhuma afronta. De fato, quem destrói os altares não ofende aos deuses, mas fica clara a sua má intenção, mesmo ali onde não consegue causar nenhum dano.
Tolero tais tolices tal como Júpiter tolera as fantasias dos poetas. Um lhe dá asas; outro, coroa; um outro o representa como adúltero, vagando pelas noites; outro o faz seqüestrador de homens livres e até de seus familiares; outro, por fim, parricida e usurpador do reino paterno.
Se fôssemos acreditar nisso, pareceria que os deuses nada fizeram senão tirar dos homens a vergonha do pecado.
Embora isso não me atinja, quero advertir para o seu proveito: “Olha a virtude com respeito; confia naqueles que, tendo-a seguido durante toda a vida, demonstram tratar-se de algo muito importante e que sempre ganha novas dimensões de grandeza. A ela como aos deuses e a seus oráculos, tal qual sacerdote, venera. Sempre que forem citados textos sagrados, mantém silêncio respeitoso para ouvir.”
XXVII
Quando alguém agita o sistro e apregoa, sob encomenda, frivolidades mentirosas; quando o impostor finge estar ferindo os braços e ombros e o faz de leve; quando uma mulher se arrasta pelas ruas, de joelhos, gritando; quando um velho, vestido de linho e louro, com uma lanterna na mão, em pleno dia, grita dizendo que algum deus está irritado, vocês acodem e juram que se trata de pessoas inspiradas pelos deuses. Procedendo assim, estão promovendo a própria perturbação.
Sócrates, da prisão, purificada com a sua presença e tornada mais honrosa do que qualquer cúria, proclama: “Que loucura é essa, tão inimiga dos deuses e dos homens, que destrata a virtude e profana com palavras maldosas as coisas sagradas? Se puderes, elogia o bom, se não, segue o teu caminho. Mas, se gostas de ser infame, agridam-se mutuamente. Quando ficas furioso contra o céu, não vou dizer que cometes um sacrilégio, apenas lutas em vão.”
Eu próprio fui, certa vez, zombado por Aristófanes. Todos aqueles poetas satíricos me envenenaram com suas anedotas sobre mim. Minha força, no entanto, foi reforçada graças aos golpes com que pensaram destroçá-la. Foi-lhe proveitoso ser posta à prova. Ninguém entendeu o quão grande era como aqueles que, ao tentar atingi-la, sentiram o seu poder. Ninguém conhece melhor a dureza das pedras do que o escultor.
Eu sou como uma rocha isolada em meio a um mar agitado. Quando a maré baixa e as ondas não param de flagelar de todos os lados, sem descanso, nem mesmo depois de séculos de constantes investidas, não conseguem removê-la ou desgastá-la. Assaltem-me, ataquem-me. Eu vencerei a todos resistindo. Quem se atira contra um recife, está praticando a violência contra si próprio. Assim, procurem um alvo mais maleável para atirar os seus dardos.
Vocês têm tempo para investigar os males dos outros e lançar julgamentos como este: por que este filósofo vive em casa tão ampla? Por que oferece jantares tão lautos? Ficam a ver brotoejas nos outros quando têm o corpo coberto de feridas.
Parecem como alguém que, tendo o corpo tomado por lepra, zomba de manchas e verrugas em belos corpos.
Criticam Platão por ter pedido dinheiro; Aristóteles por ter recebido; Demócrito por ter negligenciado; Epicuro por ter esbanjado. A mim, criticam por causa de Alcebíades e de Fedro. Vocês seriam mais felizes se pudessem imitar os nossos vícios!
Por que não olham para os seus próprios males, que estão a atacar seu exterior e a devorar suas entranhas? Os assuntos humanos - ainda que conheçam pouco o seu estado - não estão em tal situação para que sobre espaço para vocês darem com a língua nos dentes, ferindo os que são mais dignos e melhores que vocês. Mas vocês não compreendem isso. Estão sempre demonstrando atitudes que não se ajustam às suas vidas. Parecem com aqueles que, desfrutando o circo ou o teatro, esquecem o luto de suas casas.
Mas eu, que vejo de cima, percebo a tempestade ameaçando explodir em breve, com suas nuvens já perto, prontas para arrancar e espalhar suas riquezas.
O que eu digo? Em breve? Não, agora mesmo. Ainda que não pensem nisso, um furacão vai envolver suas almas que, ao tentarem escapar sem se desprender da volúpia, serão jogadas para o alto ou precipitadas para as profundezas.

Até agora falamos de filosofia sem determinar de modo específico o conceito: é só neste ponto que podemos fazê-lo, à luz das observações precedentes. Digamos logo de início que a tradição sustenta ter sido Pitágoras o inventor do termo, o que, se não é historicamente verificável, é verossímil. O termo foi cunhado certamente por um espírito religioso, que pressupunha ser possível só aos deuses uma “sophia” como posse certa e total, enquanto destacava que ao homem só era possível tender à “sophia”, um contínuo aproximar-se, um amor jamais totalmente satisfeito dela, de onde justamente o nome filosofia, amor à sapiência.
Mas que entenderam os gregos por essa amada e buscada sapiência? Prescindindo das várias oscilações e incertezas que de fato se encontram no uso do termo (incertezas na verdade assaz notáveis, porque os vários autores e as várias correntes de pensamento na filosofia ou incluem amiúde muito pouco, ou incluem demais, segundo as circunstâncias), é possível estabelecer aquilo que de direito merece ser chamado de filosofia, e aquilo que também de fato, a partir de Tales, fizeram todos os que mereceram o nome de filósofos. (As incertezas surgiram porque os vários filósofos, além de ocupar-se daquilo que veremos ser propriamente filosofia, ocuparam-se também de numerosos outros tipos de conhecimento que pretenderam fazer entrar globalmente na filosofia, como se, sendo um o pesquisador, uma também devesse ser toda a ciência por ele possuída.)
Pois bem, a partir do seu nascimento, a ciência filosófica apresentou de modo nítido as seguintes características, que dizem respeito, respectivamente,
- ao seu conteúdo,
- o seu método,
- ao seu escopo,
Quanto ao conteúdo, a filosofia quer explicar a totalidade das coisas, ou seja, toda a realidade, sem exclusão de partes ou momentos dela, distinguindo-se assim estruturalmente das ciências particulares, que, ao invés, limitam-se a explicar determinados setores da realidade, grupos particulares de coisas e de fenômenos. E já na pergunta de Tales (o primeiro dos filósofos) sobre o princípio de todas as coisas, esta dimensão da filosofia está presente em todo o seu alcance. [28]
Quanto ao método, a filosofia quer ser explicação puramente racional da totalidade que é seu objeto. O que vale em filosofia é o argumento de razão, a motivação lógica: é, numa palavra, o lógos. Não basta à filosofia constatar, verificar dados de fato, coletar experiências: a filosofia deve ir além do fato e das experiências para encontrar as suas razões, a causa, o princípio.
E é este caráter que confere cientificidade à filosofia. Tal caráter é comum também a outras ciências, as quais, exatamente enquanto ciências, nunca são apenas constatação e verificação empírica, mas são sempre busca de causas e de razões. Mas a diferença está em que, enquanto as ciências particulares são busca de causas de realidades particulares ou de setores de realidade particulares, a filosofia é, ao invés, busca de causas e princípios de toda a realidade (como, de resto, impõe necessariamente a primeira das características acima ilustrada).
Enfim, devemos esclarecer qual é o escopo da filosofia. E sobre este ponto Aristóteles explicou melhor do que todos que a filosofia tem um caráter puramente teórico, ou seja, contemplativo: ela visa simplesmente à busca da verdade por si mesma, prescindindo das suas utilizações práticas. Não se busca a filosofia por qualquer vantagem que lhe seja estranha, mas por ela mesma; ela é, pois, “livre” enquanto não se submete a qualquer utilização pragmática e, portanto, realiza-se e se resume em pura contemplação do verdadeiro. E também deste ponto de vista o nome filosofia resulta, na verdade, perfeitamente dado: amor ao saber em si mesmo, amor desinteressado ao verdadeiro.
Eis algumas afirmações de Aristóteles, particularmente iluminadoras:
Que ela não tenda a realizar alguma coisa depreende-se claramente das afirmações daqueles que por primeiro cultivaram a filosofia. De fato, os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração: enquanto no início ficavam maravilhados diante de dificuldades mais simples, em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a pôr-se problemas sempre maiores: por exemplo, os problemas relativos aos fenômenos da lua e os relativos ao sol e aos astros, ou os problemas relativos à geração de todo o universo. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de maravilha reconhece que não sabe; e é por isso que também aquele que ama o mito é, de certo modo, filósofo: o mito, com efeito, é constituído por um conjunto de coisas que despertam admiração. Assim, se os homens filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente que buscaram o conhecimento só com a finalidade de saber e não para alcançar alguma utilidade prática. E o próprio modo segundo o qual as coisas se desenvolveram o demonstra. [29]
Quando já se possuía praticamente tudo o que era necessário para a vida e também para a prosperidade e para o bem-estar, então se começou a buscar aquela forma de conhecimento. É evidente, portanto, que nós não a buscamos por nenhuma vantagem que lhe seja estranha; e, antes, é evidente que, como chamamos livre o homem que é fim para si mesmo e não serve a outros, assim só ela, entre todas as outras ciências, chamamos livre: só ela, de fato, é fim para si mesma1.
Tornar-se agora perfeitamente claro o discurso que até aqui conduzimos sobre a originalidade da ciência filosófica dos gregos.
As sapiências orientais são profundamente embebidas de representações fantásticas e nelas predomina o elemento imaginativo e mítico e, portanto, carecem exatamente do caráter de cientificidade. E as próprias ciências e artes orientais (matemática e geometria egípcias, astronomia caldéia), embora chamando em causa a razão, carecem do elemento da teoricidade, isto é, da liberdade especulativa e, naturalmente, como conhecimentos particulares, também do primeiro dos elementos. É, portanto, clara a absoluta originalidade dessa admirável síntese criativa do gênio grego que foi a filosofia, assim como sua grandeza, à qual não é retórica chamar de sublime, justamente porque leva o homem a tocar o vértice das suas possibilidades.
Com razão Aristóteles a chamará de “divina”, porque além de levar-nos a conhecer a Deus, ela possui as mesmas características que deve possuir a própria ciência que Deus possui, vale dizer, a desinteressada, livre, total contemplação da verdade. Por isso, diz ainda muito bem Aristóteles, “todas as outras ciências serão mais necessárias do que esta, mas nenhuma lhe será superior”2. [30]
E queremos concluir com esta observação, uma vez que hoje não se põe a categoria do desinteresse, mas a do interesse e do útil no vértice de tudo. Quando se afirma, na trilha do pensamento marxista ou de origem marxista, que a filosofia não deve contemplar, mas transformar a realidade e que, portanto, a filosofia antiga, que queria apenas contemplar, deve ser superada por uma forma de filosofia que penetre a realidade para mudar e fazer mudar, não se substitui simplesmente uma visão filosófica por outra, mata-se a filosofia: o ato de transformar a realidade, de fato, só pode ser um momento conseqüente à verdade buscada e encontrada, e, em vez de ser filosofar é, no máximo, corolário do filosofar. O ato de transformar só pode ser empenho ético, político, educativo e não pode ser nunca, do ponto de vista filosófico, momento primário, porque supõe estruturalmente que se saiba e se determine previamente por que, como, em que sentido e medida deve-se transformar; portanto, supõe sempre o momento teórico (vale dizer, propriamente filosófico) como condicionante. E não vale objetar, como aqueles que, com complexo de culpa diante da objeção praxística, afirmam que transformar a realidade não é, de fato, filosofia, mas que, todavia, o homem de hoje deve filosofar para mudar alguma coisa. Também esta posição é depreciativa: com efeito, quem filosofa com este espírito perde a liberdade, e a ânsia de transformar condiciona fatalmente e perturba o momento do contemplar; perturba-o a ponto de, invertidos os termos, submetida ao jugo da práxis, a especulação pura tornar-se ideologia e, portanto, deixar de ser filosofia.
Portanto, também nisso os gregos foram e continuam sendo mestres: só se é filósofo se e enquanto se é totalmente livre, ou seja, só se e enquanto, com absoluta liberdade, se contempla ou se busca o verdadeiro como tal, sem ulteriores razões determinantes. E aquilo que se consegue como efeito prático da verdade encontrada e contemplada já está essencialmente fora do momento mais propriamente filosófico. [31]
Os problemas da filosofia antiga
Dissemos que a filosofia quer conhecer a totalidade da realidade com método racional e com finalidade puramente teórica. Ora, é claro que a totalidade da realidade não é um bloco monolítico, mas um conjunto de coisas distintas entre si, embora orgânica e estreitamente liga das. É claro que o problema filosófico geral deverá, necessariamente, subdividir-se e, por assim dizer, cadenciar-se em problemas mais particulares e determinados, ligados entre si segundo os modos e à medida que são conexas as realidades que eles têm por objeto. E é claro, a priori, que esses problemas particulares, no âmbito do problema geral, virão à luz não simultânea, mas progressivamente no tempo.
Assim, num primeiro momento, a totalidade do real, a physis, foi vista como cosmo e, portanto, o problema filosófico por excelência foi o problema cosmológico: como surge o cosmo, qual o seu princípio? quais as fases e os momentos da sua geração? etc. É esta a problemática que, essencial ou, pelo menos, prioritariamente, ab sorve toda a primeira fase da filosofia grega.
Mas com os sofistas o quadro muda: a problemática do cosmo, por razões que explicaremos, cai na sombra, e a realidade que atrai a atenção é o homem. Por isso a filosofia dos sofistas e de Sócrates concentrará a própria atenção sobre a natureza do homem e da sua virtude ou areté, de onde nascerá o problema moral.
Com Platão e Aristóteles, a problemática filosófica se diferenciará e enriquecerá ulteriormente, distinguindo alguns âmbitos e setores de problemas que permanecerão depois em todo o curso da história da filosofia como pontos de referência.
Neste ínterim, Platão descobrirá e demonstrará que a realidade, ou o ser, não é de um único gênero, e que, além do cosmo sensível, existe uma realidade inteligível supra-sensível e transcendente. Daqui derivará a distinção aristotélica de uma física ou doutrina da realidade sensível, e de uma metafísica ou doutrina da realidade supra-sensível. Ulterior mente, os problemas morais se especificarão, serão distinguidos os dois momentos da vida do homem como indivíduo e do homem associado, e nascerá assim a distinção dos problemas propriamente éticos dos problemas propriamente políticos (problemas que, ademais, para o grego permanecem muito mais intimamente ligados do que para os modernos). [32]
Ainda com Platão e sobretudo com Aristóteles, serão fixados os problemas (já presentes nos filósofos precedentes) epistemológicos e lógicos. E, olhando bem, estes são atualização e explícita determinação da segunda das características que vimos ser peculiar à filosofia, ou seja, do método de busca racional. Qual é a via que o homem deve seguir para alcançar a verdade? Qual é a verdadeira contribuição dos sentidos, e qual a da razão? Qual é a característica do verdadeiro e do falso? E, mais ainda em geral, quais são as formas lógicas através das quais o homem pensa, julga, raciocina? Quais são as regras para pensar corretamente? Quais são as condições pelas quais um tipo de raciocínio pode ser qualificado como científico?
Em conexão com os problemas lógico-epistemológicos, nasce também o problema da determinação da natureza da arte e do belo, da expressão e da linguagem artística e, portanto, nascem aqueles que hoje chamamos de problemas estéticos. E, sempre em conexão com estes, nascem os problemas da determinação da natureza da retórica e do discurso retórico, isto é, do discurso que visa convencer e à habilidade para convencer.
A especulação pós-aristotélica tratará como definitivamente adquiridos todos esses problemas, e os agrupará em 1) físicos, 2) lógicos e 3) morais. À primeira vista, a especulação pós-aristotélica parecerá modificar uma característica da filosofia: a característica da teoricidade pura, ou seja, do desinteresse prático da filosofia. De fato, as escolas helenístico-romanas visarão essencialmente construir o ideal de vida do sábio, vale dizer, ideal de vida que garanta a tranqüilidade de ânimo, a felicidade, e resolverão os problemas físicos e lógicos unicamente em função dos problemas morais. Mas, olhando bem, o espírito puramente teórico da filosofia não é absolutamente renegado, mas só determinado diferentemente. Com a destruição da pólis e da tradicional hierarquia dos valores que se sustentava sobre a pólis, o filósofo pedirá à filosofia uma nova hierarquia. E aquilo que o filósofo pedirá à filosofia não será, contudo, que ela transforme os outros e as coisas, mas a ele mesmo: pedirá à filosofia a verdade para poder viver na verdade.
Enfim, a filosofia antiga, no último período, especialmente com o neoplatonismo, se enriquecerá com uma problemática místico-religiosa: diante do cristianismo nascente e triunfante, o pensamento grego buscará indicar ao homem uma visão do Todo e um tipo de [33] vida no Todo que contraste e supere os que são pregados pelo cristianismo; mas apesar de conseguir, nessa tentativa, abrir ulteriores horizontes metafísicos, não se sustentará senão por breve tempo em confronto, porque o cristianismo se apresentará como portador de um verbo que dissolverá a visão grega do mundo e conduzirá o pensamento a outras margens. [34]

Antes do nascimento da filosofia, os educadores incontrastados dos gregos foram os poetas, sobretudo Homero, cujos poemas foram, como se disse com justiça, quase a Bíblia dos gregos, no sentido de que a primitiva grecidade buscou alimento espiritual essencial e prioritariamente nos poemas homéricos, dos quais extraiu modelos de vida, matéria de reflexão, estímulo à fantasia e, portanto, todos os elementos essenciais à própria educação e formação espiritual.
Ora, os poemas homéricos, como há tempo se notou, contêm algumas dimensões que os diferenciam nitidamente de todos os poemas que estão nas origens dos vários povos e já manifestam algumas das características do espírito grego que criaram a filosofia.
Em primeiro lugar, foi bem observado que os dois poemas, construídos por uma imaginação tão rica e variada, transbordantes de maravilha, de situações e eventos fantásticos, não caem, senão raras vezes, na descrição do monstruoso e do disforme, como em geral acontece nas primeiras manifestações artísticas dos povos primitivos: a imaginação homérica já se estrutura segundo o sentido da harmonia, da eurritmia, da proporção, do limite e da medida, que se revelará, depois, uma constante da filosofia grega, a qual erigirá a medida e o limite até mesmo em princípios metafisicamente determinantes.
Ademais, observou-se também que, na poesia de Homero, a arte da motivação é uma constante, no sentido de que o poeta não narra só uma cadeia de fatos, mas busca, embora em nível fantástico-poético, as suas razões. Homero não conhece, escreve justamente Jaeger, “mera aceitação passiva de tradições nem simples narração de fatos, mas exclusivamente desenvolvimento interiormente necessário da ação de fase em fase, nexo indissolúvel entre causa e efeito [...]. A ação não se distende como uma fraca sucessão temporal: vale para ela, em [19] todos os pontos, o princípio de razão suficiente, cada evento recebe rigorosa motivação psicológica”1. Este modo poético de ver as coisas é exatamente o antecedente da pesquisa filosófica da “causa”, do “princípio”, do “porquê” das coisas.
E uma terceira característica da épica homérica prefigura a filosofia dos gregos: em ambos “a realidade é apresentada na sua totalidade: o pensamento filosófico a apresenta de forma racional, enquanto a épica a mostra de forma mítica. A ‘posição do homem no universo’, tema clássico da filosofia grega, está também presente a todo momento em Homero”2.
Enfim, os poemas homéricos foram decisivos para a fixação de determinada concepção dos deuses e do Divino, e também para a fixação de alguns tipos fundamentais de vida e de caracteres éticos dos homens, os quais se tomaram verdadeiros paradigmas. Mas falaremos separadamente da importância deste fator porque, sobre este ponto, o discurso nos leva além de Homero e se estende a toda a grecidade.
Os deuses da religião pública e sua relação com a filosofia
Estudiosos afirmaram em várias ocasiões que entre religião e filosofia existem laços estruturais (Hegel dirá até mesmo que a religião exprime pela via representativa a mesma verdade que a filosofia exprime pela via conceitual): e isso é verdade, seja quando a filosofia subsume determinados conteúdos da religião, seja, também, quando a filosofia tenta contestar a religião (neste último caso, a função contestatária permanece sempre alimentada e, portanto, condicionada, pelo termo contestado). Pois bem, se isso é verdade em geral, o foi de modo paradigmático entre os gregos.
Mas quando se fala de religião grega é preciso operar uma nítida distinção entre religião pública, que tem o seu mais belo modelo em Homero, e religião dos mistérios: entre a primeira e a segunda há [20] uma divisão claríssima: em mais de um aspecto, o espírito que anima a religião dos mistérios é negador do espírito que anima a religião pública. Ora, o historiador da filosofia que se detenha no primeiro aspecto da religião dos gregos, veta a si mesmo a compreensão de todo um importantíssimo filão da especulação, que vai dos pré-socráticos a Platão e aos neoplatônicos, e falseia, portanto, fatalmente a perspectiva de conjunto. E isso aconteceu justamente com Zeller e com o numeroso grupo dos seus seguidores (e, portanto, com o grosso da manualística que por longo tempo reafirmou a interpretação de Zeller).
O estudioso alemão soube indicar bem exatamente os nexos entre religião pública grega e filosofia grega (e, sobre este ponto nós reproduziremos as suas preciosas observações, que continuam paradigmáticas); mas depois caiu numa visão totalmente unilateral, desconhecendo a incidência dos mistérios, e em particular do orfismo, com as absurdas conseqüências que apontaremos.
Mas, por enquanto, vejamos a natureza e a importância da religião pública dos gregos e em que sentido e medida ela influiu sobre a filosofia. Pode-se dizer que, para o homem homérico e para o homem grego filho da tradição homérica, tudo é divino, no sentido de que tudo o que acontece é obra dos deuses. Todos os fenômenos naturais são promovidos por numes: os trovões e os raios são lançados por Zeus do alto do Olimpo, as ondas do mar são levantadas pelo tridente de Posseidon, o sol é carregado pelo áureo carro de Apolo, e assim por diante. Mas também os fenômenos da vida interior do homem grego individual assim como a sua vida social, os destinos da sua cidade e das suas guerras são concebidos como essencialmente ligados aos deuses e condicionados por eles.
Mas quem são esses deuses? São — como há tempo se reconheceu acertadamente — forças naturais diluídas em formas humanas idealizadas, são aspectos do homem sublimados, hipostasiados; são forças do homem cristalizadas em belíssimas figuras. Em suma: os deuses da religião natural grega são homens amplificados e idealizados', são, portanto, quantitativamente superiores a nós, mas não qualitativamente diferentes. Por isso a religião pública grega é certamente uma forma de religião naturalista. E tão naturalista que, como justamente observou Walter Otto, “a santidade aí não pode encontrar lugar”3, uma vez que pela sua [22] própria essência os deuses não querem, nem poderiam, elevar o homem acima de si mesmo. De fato, se a natureza dos deuses e dos homens, como dissemos, é idêntica e se diferencia somente por grau, o homem vê a si mesmo nos deuses, e, para elevar-se a eles, não deve de modo algum entrar em conflito com ele mesmo, não deve comprimir a própria natureza ou aspectos da própria natureza, não deve em nenhum sentido morrer em parte a si mesmo; deve simplesmente ser si mesmo.
Portanto, como bem diz Zeller, o que a Divindade exige do homem “não é de modo algum uma transformação interior da sua maneira de pensar, não uma luta com as suas tendências naturais e os seus impulsos; porque, ao contrário, tudo isso, que para o homem é natural, é legítimo também para a divindade; o homem mais divino é aquele que desenvolve do modo mais vigoroso as suas forças humanas; e o cumprimento do seu dever religioso consiste essencialmente nisso: que o homem faça, em honra da divindade, o que é conforme com a sua natureza”4.
Assim como foi naturalista a religião dos gregos, também “[...] a sua mais antiga filosofia foi naturalista; e mesmo quando a ética conquistou a preeminência [...], a sua divisa continuou sendo a conformidade com a natureza”5.
Isso é indubitavelmente verdadeiro e bem-estabelecido, mas ilumina apenas uma face da verdade.
Quando Tales disser que “tudo está cheio de deuses”, mover-se- á, sem dúvida, em análogo horizonte naturalista: os deuses de Tales serão deuses derivados do princípio natural de todas as coisas (água). Mas quando Pitágoras falar de transmigração das almas, Heráclito, de um destino ultraterreno das almas e Empédocles explicar a via da purificação, então o naturalismo será profundamente lesionado, e tal lesão não será compreensível senão remetendo-se à religião dos mistérios, particularmente ao orfismo.
Mas antes de dizer isso, devemos ilustrar outra característica essencial da religião grega, determinante para a possibilidade do nascimento da reflexão filosófica. [23] Os gregos não possuíam livros tidos como sagrados ou fruto de divina revelação. Eles não tinham uma dogmática teológica fixa e imodificável. (Nessa matéria, as fontes principais eram os poemas homéricos e a Teogonia de Hesíodo.) Conseqüentemente, na Grécia não podia haver sequer uma casta sacerdotal que custodiasse os dogmas. (Os sacerdotes na Grécia tinham um poder muito limitado e uma escassa relevância, uma vez que, além de não terem a tarefa de custodiar e comunicar um dogma, não tinham nem mesmo a exclusividade de oficiar os sacrifícios.)
Ora, a falta de um dogma e de guardiães dele deixou a mais ampla liberdade à especulação filosófica, a qual não encontrou obstáculos de caráter religioso semelhantes aos que se encontrariam entre os povos orientais, dificilmente superáveis. Justamente por isso os estudiosos destacam essa fortunosa circunstância histórica na qual se encontraram os gregos, única na antigüidade, e cujo alcance é de valor verdadeiramente inestimável.
A religião dos mistérios: incidência do orfismo sobre a constituição da problemática da filosofia antiga
O fato de uma religião dos mistérios ter florescido na Grécia constitui claro sintoma de que para muitos não bastava a religião oficial, ou seja, muitos não encontravam nela satisfação adequada para o autêntico sentido religioso.
Não nos interessa traçar aqui, nem mesmo sumariamente, uma história das religiões mistéricas, dado que só o orfismo incidiu sobre a problemática filosófica de modo determinante. Os órficos consideravam como fundador do seu movimento o mítico poeta da Trácia, Orfeu (que, ao contrário do tipo de vida encarnado pelos heróis homéricos, teria cantado um tipo mais interior e espiritual de vida) e dele derivam o nome. Não sabemos a origem do movimento e como ele se difundiu na Grécia. Heródoto o faz derivar do Egito6; o que é impossível, porque os documentos egípcios não apresentam traços de doutrinas órficas e, ademais, o cuidado dos corpos e o seu embalsamamento contrasta nitidamente com o espírito do orfismo, que despreza o corpo como cárcere e grilhão da alma. O movimento é posterior aos poemas homéricos (que não apresentam nenhum traço dele) e a Hesíodo. É certo o seu florescimento ou reflorescimento no século VI a.e.c. O núcleo fundamental das crenças ensinadas pelo orfismo, despojadas das várias incrustações e amplificações que aos poucos se lhe acrescentaram, consiste nas seguintes proposições:
- No homem vive um princípio divino, um demônio, caído num corpo por causa de uma culpa originária.
- Esse demônio, preexistente ao corpo, é imortal e, portanto, não morre com o corpo, mas é destinado a reencarnar-se sempre de novo em corpos sucessivos através de uma série de renascimentos para expiar a sua culpa.
- A vida órfica, com as suas práticas de purificação, é a única que pode pôr fim ao ciclo das reencarnações.
- Por conseqüência, quem vive a vida órfica (os iniciados) goza, depois da morte, do merecido prêmio no além (a libertação); para os não-iniciados há uma punição.
Note-se: muitos reconheceram que a doutrina da transmigração das almas veio aos filósofos justamente através dos órficos. Porém nem todos tiraram as conseqüências que esse reconhecimento comportava, as quais são da máxima importância.
Com o orfismo nasce a primeira concepção dualista de alma (=demônio) e corpo (=lugar de expiação da alma): pela primeira vez o homem vê contrapor-se em si dois princípios em luta um contra o outro, justamente porque o corpo é visto como cárcere e lugar de punição do demônio. Enfraquece-se a visão naturalista da qual falamos no parágrafo anterior e, assim, o homem começa a compreender que nem todas as tendências que percebe em si são boas, que algumas, ao contrário, devem ser reprimidas e comprimidas, e que é necessário purificar o elemento divino nele existente do elemento corpóreo e, portanto, mortificar o corpo.
Com isso estão lançadas as premissas de uma revolução de toda a visão da vida ligada à religião pública: a virtude dos heróis homéricos, a areté tradicional, deixa de ser a verdadeira virtude; a vida passa a ser vista segundo uma dimensão totalmente nova.
Ora, sem o orfismo não conseguiremos explicar Pitágoras, Heráclito, Empédocles, e, naturalmente, Platão e tudo o que dele deriva. E [24] quando Zeller objeta que as crenças órficas, nesses filósofos, simplesmente se acrescentam às suas teorias científicas e que nestas “ninguém poderia encontrar uma lacuna se aquela [a fé órfica] faltasse”7, demonstra simplesmente que se põe contra a história. De fato, justamente na Sicília e na Magna Grécia, onde o orfismo foi particularmente florescente, as escolas filosóficas assumiram características diferentes com relação às escolas que floresceram na Asia Menor, e levantaram uma problemática em parte diferente e criaram até mesmo uma têmpera teórica diferente. E se é verdade que os filósofos itálicos não saberão operar uma perfeita síntese entre doutrinas científicas e fé órfica, é igualmente verdade que se tirássemos daqueles as doutrinas órficas, perderíamos exatamente o que, justapondo-se num primeiro momento às doutrinas naturalistas, levará, num segundo momento, à sua superação. E quando Zeller escreve ainda ulteriormente: “Só em Platão a fé na imortalidade é fundada filosoficamente, mas dele dificilmente se poderá pensar que tal crença ser-lhe-ia impossível sem os mitos que por ela opera”8; também nesse caso Zeller se põe contra a verdade histórica, porque de fato é verificável que Platão começa a falar de imortalidade quando começa a falar dos mitos órficos. E será justamente a solicitação da visão órfica que levará Platão a empreender sua “segunda navegação”, vale dizer, a via que o levará a descobrir o mundo do supra-sensível.
As condições políticas, sociais e econômicas que favoreceram o nascimento da filosofia entre os gregos
Muito insistiram os historiadores na peculiar posição de liberdade que distingue o grego dos povos orientais. O oriental estava preso a uma cega obediência ao poder religioso e ao poder político. No que diz respeito à religião, já vimos de que liberdade o grego gozava. Quanto às condições políticas, o discurso é mais complexo; todavia pode-se dizer que o grego gozou, também nesse campo, de uma situação de privilégio. Com a criação da polis, o grego não sentiu mais nenhuma antítese entre o indivíduo e o Estado e nenhum limite [25] à própria liberdade e, ao contrário, foi levado a compreender-se não acidentalmente, mas essencialmente como cidadão de determinado Estado, de determinada polis. O Estado se tornou e se manteve até a era helenística como o horizonte do homem grego e, portanto, os fins do Estado foram sentidos pelos cidadãos individuais como os seus próprios fins, o bem do Estado como o próprio bem, a grandeza do próprio Estado como a própria grandeza, a liberdade do próprio Estado como a própria liberdade.
Mas, concretamente, dois são os fatos políticos “que dominam sobre os outros”9, como bem o nota Zeller, no progresso da civilização grega anterior ao surgimento da filosofia:
- o nascimento de ordenamentos republicanos e
- a expansão dos gregos para o Oriente e para o Ocidente com a formação das colônias. Esses dois fatos foram decisivos para o surgimento da filosofia.
Quanto ao primeiro ponto, Zeller adverte: “Nos esforços e nas lutas dessas revoluções políticas [que levaram os gregos das velhas formas aristocráticas de governo às formas republicanas e democráticas] todas as forças deviam ser despertadas e exercitadas; a vida pública abria passagem à ciência, e o sentimento da jovem liberdade devia dar ao espírito do povo grego um impulso, do qual não podia ficar de fora a atividade científica. Se, pois, contemporaneamente à transformação das condições políticas, e em meio a vivas disputas, foi posto o fundamento do florescimento artístico e científico da Grécia, não se pode desconhecer a conexão dos dois fenômenos; pelo contrário, a cultura é, por isso mesmo, entre os gregos, plenamente e da maneira mais aguda, o que ela será sempre em qualquer vida sadia de um povo: ao mesmo tempo, fruto e condição da liberdade”10.
Mas deve-se notar um fato, que confirma isso da melhor maneira (e com isso nos ligamos ao segundo dos fenômenos da história grega acima recordados): a filosofia nasceu antes nas colônias que na mãe pátria; nasceu antes nas colônias do Oriente da Ásia Menor, em seguida nas colônias do Ocidente da Itália meridional, só mais tarde refluindo para a mãe pátria.
Por que isso aconteceu? Porque, como há tempo se notou, as colônias puderam, com a sua operosidade e com o seu comércio, alcançar o bem-estar e, portanto, a cultura. E por causa de certa mobilidade que a distância da mãe pátria lhes deixava, puderam também dar-se livres constituições antes daquela.
Foram as condições socioeconômicas mais favoráveis das colônias que permitiram o nascimento e o florescimento nelas da filosofia, a qual, depois, tendo passado à mãe pátria, alcançou os mais altos cimos, não em Esparta ou noutras cidades, mas justamente em Atenas, isto é, na cidade onde existiu, como o próprio Platão reconheceu, a maior liberdade da qual os gregos gozaram.

A “filosofia”, seja como indicação semântica (isto é, como termo lexical), seja como conteúdo conceitual, é uma criação peculiar dos gregos. De fato, se para todos os outros componentes da civilização grega encontra-se idêntico correlativo junto a outros povos do Oriente — os quais alcançaram, antes dos gregos, níveis de progresso muito elevados —, não se encontra, ao invés, idêntico correlativo da filosofia ou, pelo menos, algo assimilável ao que os gregos e, posteriormente, com os gregos, todos os ocidentais, chamaram de “filosofia”.
Crenças e cultos religiosos, manifestações artísticas de natureza diversa, conhecimentos e habilidades técnicas de diferentes espécies, instituições políticas, organizações militares existiam seja nos povos orientais que chegaram à civilização antes dos gregos, seja entre os gregos, e, conseqüentemente, é possível fazer confrontos (embora dentro de certos limites) e estabelecer se e em que medida os gregos, nesses âmbitos, podem ser ou são efetivamente devedores dos povos do Oriente, e se pode estabelecer em que medida os gregos superaram os povos do Oriente nos vários domínios. No que diz respeito à filosofia, porém, encontramo-nos diante de um fenômeno tão novo que, como dissemos, não só não há entre os povos orientais idêntico correlativo, mas nem mesmo algo que analogicamente comporte comparação com a filosofia dos gregos ou que a prefigure de modo inequívoco.
Destacar isso significa, nem mais nem menos, reconhecer que, nesse campo, os gregos foram criadores, ou seja, que deram à civilização algo que ela não tinha e que, como veremos, revelar-se-á de alcance revolucionário tal, que mudará o rosto da própria civilização. Por isso, se a superioridade dos gregos com relação aos povos orientais em outros âmbitos é — para dizer com uma imagem simplificadora — de natureza meramente quantitativa, no que se refere à filosofia a sua superioridade é de natureza qualitativa. E quem não tenha bem presente isso não conseguirá compreender por que a civilização de todo o Ocidente tomou, sob o impulso dos gregos, uma direção completamente [11] diferente dos rumos da civilização do Oriente; e não compreenderá por que a ciência só pôde nascer no Ocidente e não no Oriente. Ademais, não compreenderá por que os orientais, quando quiseram beneficiar-se da ciência ocidental e dos seus resultados, tiveram de apropriar-se, em larga medida, também das categorias ou pelo menos de algumas categorias essenciais da lógica ocidental. Com efeito, foi precisamente a filosofia a criar essas categorias e essa lógica, ou seja, um modo de pensar totalmente novo, e foi a filosofia a gerar, em função dessas categorias, a própria ciência e, indiretamente, algumas das principais conseqüências da ciência. Reconhecer isso significa reconhecer aos gregos o mérito de terem trazido uma contribuição verdadeiramente excepcional à história da civilização; por isso devemos justificar de maneira crítica o que dissemos e aduzir provas bem circunstanciadas.
Inconsistência da tese de uma presumível derivação da filosofia do Oriente
Na verdade, não faltaram — seja da parte de alguns dos antigos, seja da parte de modernos historiadores da filosofia, especialmente na era romântica, e da parte de ilustres orientalistas — tentativas de sustentar a tese de uma derivação da filosofia grega do Oriente, com base em observações de gênero diverso e de variado alcance; mas nenhum deles teve sucesso, e a crítica mais rigorosa, já a partir da segunda metade do século XIX, levantou uma série de contra-argumentos que, hoje em dia, podem ser considerados objetivamente incontestáveis. [12]
Examinemos, antes de tudo, como surgiu na antigüidade a idéia de uma presumível origem oriental da filosofia grega. Em primeiro lugar, deve-se notar que os primeiros a sustentar a derivação oriental da filosofia grega foram justamente os orientais, movidos por intenções que bem poderíamos chamar de nacionalistas: visavam tirar dos gregos e reivindicar para o próprio povo o particularíssimo título de glória que foi a descoberta da mais elevada forma de saber. De um lado, foram os sacerdotes egípcios que, no tempo dos Ptolomeus, ao travar conhecimento com a especulação grega, pretenderam sustentar ser ela um derivado da sabedoria egípcia precedente. De outro lado, foram os hebreus de Alexandria, que absorveram a cultura helenística, a pretender sustentar uma derivação da filosofia grega das doutrinas de Moisés e dos profetas contidas na Bíblia. Mais tarde, os próprios gregos deram crédito a essas teses. O neopitagórico Numênio escreverá que Platão não é senão um “Moisés aticizante” e muitos outros sustentarão teses análogas, particularmente os neoplatônicos da última fase, ao defender a tese de que as doutrinas dos filósofos gregos não seriam mais que elaborações de doutrinas nascidas no Oriente e recebidas originalmente pelos sacerdotes orientais por divina inspiração dos deuses.
Mas essas afirmações não possuem qualquer base histórica, pelas seguintes razões:
- Na época clássica, nenhum dos gregos, nem os historiadores nem os filósofos, faz o mínimo aceno a uma presumível derivação da filosofia do Oriente. Heródoto (que faz derivar o orfismo, contra toda evidência, dos egípcios) não diz nada; Platão, mesmo admirando os egípcios, sublinha o seu espírito prático e antiespeculativo, em contraste com o espírito teórico dos gregos, e Aristóteles atribui aos egípcios unicamente a descoberta das matemáticas.
- A tese da origem oriental da filosofia encontrou crédito na Grécia somente a partir do momento em que a filosofia perdeu seu vigor especulativo e a confiança em si mesma e buscava não mais na razão, mas numa revelação superior, a própria fundação e justificação. [13]
- De outro lado, a filosofia grega, tendo-se tornado na última fase uma doutrina mística e ascética, podia facilmente encontrar analogias com certas doutrinas orientais anteriores e, portanto, crer na sua dependência delas.
- Por sua vez, egípcios e hebreus puderam encontrar coincidências entre a sua “sabedoria” e a filosofia grega somente com a interpretação alegórica bastante arbitrária dos mitos egípcios ou das narrações bíblicas.
E por que os modernos afirmaram poder defender a tese das origens orientais da filosofia? Em certa medida, porque acolheram como válidas as afirmações dos antigos, das quais falamos acima, sem dar-se conta da sua falta de credibilidade, não levando em conta o que acima afirmamos. Porém, de modo mais genérico, porque acreditaram descobrir analogias de conteúdo e tangências ideais entre determinadas doutrinas dos povos orientais e certas doutrinas dos filósofos gregos. Seguindo tal via, os estudiosos se deleitaram em inferir fantasiosas conclusões, que, com Gladisch, chegaram ao limite. Este estudioso alemão (que recordamos porque o paroxismo ao qual levou a tese sobre a qual refletimos representa de modo paradigmático a falta de criticidade à qual se chega seguindo certos critérios) pretendeu até mesmo poder concluir, do exame das concordâncias internas, que os cinco principais sistemas pré-socráticos derivavam, com poucas variações, dos cinco principais povos orientais, a saber:
- o sistema pitagórico da sabedoria chinesa;
- o sistema eleata da sabedoria indiana;
- o sistema heraclitiano da sabedoria persa;
- o sistema empedocliano da sabedoria egípcia e
- a filosofia de Anaxágoras da sabedoria judaica.
Concordamos que, levadas a tais extremos, essas teses se tornam fantasias romanescas; mas permanece o fato de que, embora atenuadas, circunstanciadas e nuançadas, mesmo perdendo as características fantasiosas, permanecem igualmente puras conjeturas que, ademais, não apresentam fundamento histórico e têm contra si os seguintes dados factuais bem precisos, que as esvaziam:
- É historicamente demonstrado que os povos orientais com os quais os gregos tiveram contato possuíam convicções religiosas, mitos teológicos e cosmológicos, mas não possuíam uma ciência filosófica no verdadeiro sentido da palavra; possuíam, nem mais nem menos, aquilo que os [14] próprios gregos possuíam antes de criar a filosofia: as descobertas arqueológicas vindas à luz não autorizam de modo algum ir além disso.
- Em segundo lugar, mesmo dado (mas não concedido) que os povos orientais com os quais os gregos entraram em contato tivessem doutrinas filosóficas, a possibilidade da sua transferência para a Grécia não seria facilmente explicável. Escreveu justamente Zeller: “Quando se considere quão estreitamente os conceitos filosóficos, especialmente na infância da filosofia, estão ligados às expressões lingüísticas; quando se recorde quão escasso era o conhecimento de línguas estrangeiras entre os gregos, e de outro lado quão pouco os intérpretes, normalmente preparados só para relações comerciais e para a explicação das curiosidades, seriam capazes de levar à compreensão de um ensinamento filosófico; quando se acrescente que da utilização de escritos orientais por parte dos filósofos gregos e de traduções de tais escritos nada nos é dito, nem de longe, que mereça fé; quando se pergunte, ademais, por que meios as doutrinas dos hindus e de outros povos da Ásia oriental teriam podido, antes de Alexandre, chegar à Grécia: então se dará conta das proporções da dificuldade da questão”. E note-se que não vale a objeção de que os gregos, apesar disso, puderam extrair dos orientais certas crenças e cultos religiosos e também certas artes pelo menos no nível empírico: de fato, tais coisas são bem mais fáceis de comunicar à medida que, diferentemente da filosofia, como sublinha Burnet, não exigem nem uma linguagem abstrata nem o veículo de homens instruídos, sendo mais que suficiente a simples imitação. Escreve Burnet: “Não conhecemos, na época da qual nos ocupamos, nenhum grego que soubesse a língua oriental bastante bem para ler um livro egípcio ou mesmo para ouvir um discurso de um sacerdote egípcio, e é só em época muito posterior que ouvimos falar de mestres orientais que escrevem ou falam grego”.
- Em terceiro lugar (e parece-nos que isso não foi até agora adequadamente observado), muitos estudiosos que pretendem destacar coincidências entre a sabedoria oriental e a filosofia grega, mesmo sem dar-se perfeitamente conta, são vítimas de ilusões óticas à [15] medida que, de um lado, entendem as doutrinas orientais em função de categorias ocidentais, e, de outro, colorem as doutrinas gregas com tintas orientais, de modo que as correspondências são, em última análise, pouco ou nada dignas de fé.
- Enfim, mesmo que se pudesse demonstrar que certas idéias de filósofos gregos efetivamente têm antecedentes nas sabedorias orientais e se pudesse historicamente provar que elas beberam daquelas fontes, tais correspondências não modificariam a substância do problema: a filosofia, a partir do momento em que nasceu, na Grécia, representou uma nova forma de expressão espiritual tal que, no instante mesmo em que subsumia conteúdos frutos de outras formas de vida espiritual, transformava-os estruturalmente. Esta última observação nos permite compreender outro fato interessantíssimo, isto é, como e por que, por obra dos gregos, se transformaram essencialmente aquelas mesmas artes e conhecimentos particulares, matemáticos e astronômicos, respectivamente, dos egípcios e dos babilônios.
A peculiar transformação teórica das cognições egípcias e caldaicas operada pelo espírito dos gregos
Que os gregos tenham derivado as suas primeiras cognições matemáticas e geométricas dos egípcios está fora de dúvida. Mas, como bem observa Burnet, por obra dos gregos elas se transformaram radicalmente.
Como podemos observar por um papiro da coleção de Rhind, a matemática egípcia devia consistir prevalentemente na determinação de operações de cálculos aritméticos com finalidades essencialmente práticas (mensuração dos cereais e dos frutos, determinação dos modos de dividir certas quantidades de coisas entre certo número de pessoas etc.) e, apesar do que se disse em contrário, isso corresponde bem ao que Platão observa nas Leis, recordando como eram ensinadas as operações aritméticas às crianças nas escolas egípcias.
Analogamente, a geometria tinha principalmente um caráter prático (como se pode deduzir do mesmo papiro de Rhind e de Heródoto), [16] qual seja a mensuração dos campos depois das inundações do Nilo, a construção das pirâmides e semelhantes. Mas a matemática como teoria geral dos números e a ciência geométrica teoricamente fundada e desenvolvida foram criações dos pitagóricos. E, quanto à objeção de alguns estudiosos a Burnet, de ter cavado um fosso muito nítido e, por tanto, arbitrário entre interesse prático (dos egípcios) e interesse teórico (dos gregos) e de ter operado uma cisão em si ilícita entre os dois interesses, porque à medida que os egípcios souberam determinar as regras práticas explicitaram também atividade teórica; pois bem, por inegável que seja isso, resta todavia o fato de que o destaque do momento propriamente teórico e a purificação especulativa dos problemas matemático-geométricos foram próprios dos gregos; e o mesmo procedimento racional com o qual fundaram a filosofia permitiu-lhes purificar a matemática e a geometria e levá-las a um nível especulativo.
Raciocínio análogo vale para a astronomia dos babilônios, os quais, como foi notado há tempo, estudaram os fenômenos celestes com finalidades astrológicas, para fazer previsões e predições e, portanto, com finalidades utilitaristas e não propriamente científicas e especulativas. E, embora se tenha sublinhado como nas concepções da astrologia caldaica estivessem implícitos conceitos especulativos muito importantes, como por exemplo a idéia de que o número é instrumento de conhecimento de todas as coisas, a idéia de que todas as coisas estão ligadas por uma íntima conexão e, portanto, a idéia da unidade do todo e talvez também a idéia do caráter cíclico do cosmo e outras semelhantes; pois bem, permanece contudo sempre verdadeiro o ponto acima afirmado, isto é, que aos gregos cabe o mérito de ter explicitado esses conceitos, e eles puderam fazer isso em virtude do seu espírito especulativo, vale dizer, em virtude do espírito que criou a filosofia.
Conclusões
No estado atual da pesquisa, não se pode falar de derivação da filosofia ou da ciência especulativa do Oriente. Certamente os gregos extraíram dos povos orientais com os quais tiveram contato noções de diverso gênero, e sobre esse ponto as pesquisas poderão progressivamente trazer à luz novos fatos e novas perspectivas. Um ponto, porém, é incontestável: os gregos transformaram qualitativamente [17] aquilo que receberam. Por isso apraz-nos concluir com Mondolfo (o qual, note-se, insistiu muitíssimo na positividade e importância das influências orientais sobre os gregos e sobre a fecundidade espiritual de tais influências): “[...] essas assimilações de elementos e de impulsos culturais [vindos do Oriente] não podem enfraquecer de modo algum o mérito de originalidade do pensamento grego. Ele operou a passagem decisiva da técnica utilitária e do mito à ciência desinteressada e pura; ele afirmou por primeiro sistematicamente as exigências lógicas e as necessidades especulativas da razão: ele é o verdadeiro criador da ciência como sistema lógico e da filosofia como consciência racional e solução dos problemas da realidade universal e da vida”.
Mas isto que estabelecemos abre um problema ulterior: existem razões que explicam no todo ou em parte como e por que justamente os gregos e não outros povos, que chegaram à civilização antes deles, criaram a filosofia e a ciência?
Devemos agora responder a este problema. [18]

Prometeu, enumerando na tragédia de Esquilo os benefícios que a humanidade primitiva lhe deve. dava à medicina o primeiro lugar. "Sobretudo", diz ele, "quando os homens caíam doentes, não tinham para seu alívio nada que comessem, nada que bebessem, nenhum unguento: tinham de perecer. Fui eu que os ensinei a preparar remédios benéficos, que lhes permitiram defender-se de toda a espécie de doenças."
Hipocrates, apoiando-se numa longa tradição, foi, no século V, o Prometeu da medicina.
Esta tradição é um saber médico laico e prático, transmitido em tal ou tal corporação de homens da arte, e que remonta, para nós, até à Ilíada. Neste poema da presença da morte, encontramos mais que um médico, e mesmo simples profanos, capazes de desbridar feridas, desinfectá-las, ligá-las, aplicar compressas, por vezes pós feitos de raízes moídas. Acontece a estes médicos da Ilíada praticarem verdadeiras operações.
Homero conhece e descreve, muitas vezes com precisão, cento e quarenta e uma feridas. Conhece também um grande número de órgãos do corpo humano. A profissão de médico é, no poema, exercida por homens livres, respeitados por todos. "Um médico", escreve, "vale só por si alguns homens."
A medicina mágica não ocupa, por assim dizer, nenhum lugar na Ilíada. Na Odisseia, que é um conto de fadas, são praticados exorcismos por ninfas enfeitiçadoras encontradas em terra exótica.
Nos séculos seguintes (incluindo o século V) uma corrente mística de origem oriental ganha força, parece invadir a consciência popular e obscurecer, mesmo aos olhos de filósofos, a investigação médica e científica. [351]
Nos santuários de Esculápio, em Trica, na Tessália, sobretudo em Epidauro. afluem os peregrinos e fervilham os milagres. Inscrições de Epidauro, redigidas por padres em forma de ex-voto, trazem-nos o eco destas curas miraculosas, que se operam sempre durante o sono, no seguimento de uma intervenção do deus em sonho (cura pela fé, dizem ainda hoje certos crentes). Eis uma entre muitas, e não a mais estranha.
"Ambrósia de Atenas, a zarolha. Esta mulher veio ao templo do deus e troçou de certas das suas curas, declarando que não se podia acreditar que coxos e cegos recobrassem a saúde, simplesmente por um sonho. Em seguida, adormeceu no templo e teve um sonho. Pareceu-lhe que o deus se aproximava e lhe dizia que a curaria, mas que era preciso que ela lhe oferecesse, no templo, um porco de prata em testemunho da sua estupidez. Tendo assim falado, fendeu-lhe o olho doente e deitou nele um remédio. No dia seguinte, ela foi-se embora, curada.
Empédocles, nas suas Purificações, o próprio Platão em mais de uma passagem, dão testemunho de que a crença na virtude das encantações e da medicina mágica não era estranha ao pensamento da Grécia clássica.
As inscrições de Lourdes-Epidauro são contemporâneas das obras atribuídas a Hipócrates.
Seria erro grave admitir, como o fazem alguns hoje, que a medicina grega tenha saído dos santuários. Houve na Grécia, em plena época de racionalismo. duas tradições médicas paralelas, mas inteiramente distintas.
Enquanto na órbita dos santuários se multiplicam os exorcismos, os sonhos, os sinais, os milagres — tudo isto dócil à voz dos sacerdotes — verifica-se na mesma época a existência duma arte médica, inteiramente laica e independente, aliás de tendências muito diversas, mas que nunca se inclina para a superstição e em que nunca aparece, seja como objecto de crítica ou de troça, o vulto do sacerdote curador ou intérprete do deus curador.
Por um lado, não se fala nunca de pesquisa científica metódica visando a estabelecer as causas materiais das doenças nem regras que vão além do caso particular de cada doente, mas apenas de milagres cumpridos arbitrariamente, graças ao bom querer da divindade. Por outro lado, sem que o espírito do médico seja de modo algum ateu, vêmo-lo afastar resolutamente toda a explicação referida a Deus e só a Deus.
Característica e singularmente ousada é a abertura do tratado intitulado Do Mal Sagrado. O autor declara:
"Penso que a epilepsia, também chamada [352] mal sagrado, não é mais divina ou mais sagrada que os outros males. A sua natureza é a mesma. Os homens deram-lhe primeiro uma origem e uma causa divinas por ignorância, espantados dos seus efeitos, que não se parecem com os das doenças comuns. Perseveraram depois em ligar a ela uma ideia de divindade, por não saberem destrinçar-lhe a natureza, e tratam-na conforme a sua ignorância... Vejo aqueles que santificaram a epilepsia como pessoas da mesma espécie que os magos, os encantadores, os charlatães, os impostores, tudo gente que quer fazer acreditar ser muito piedosa e saber mais que o resto dos homens. Lançaram o manto da divindade sobre a sua incapacidade de procurar qualquer coisa de útil aos seus doentes."
Este tratado do Mal Sagrado faz parte daquilo a que se chama, desde os Alexandrinos, a Colecção Hipocrática, isto é, um conjunto de cerca de setenta tratados, atribuídos pelos antigos ao grande médico de Cós. A maior parte destas obras foram, com efeito, redigidas em vida de Hipócrates, na segunda metade do século V ou no começo do século IV. Alguns, aliás difíceis de distinguir, são da própria mão do mestre de Cós ou dos seus discípulos imediatos. Outros, pelo contrário, têm por autores médicos de escola ou de tendência rivais das de Cós.
Muito sumariamente, é permitido distinguir na Colecção Hipocrática três grandes famílias de médicos. Há os médicos teóricos, filósofos amadores de especulações aventurosas. Em oposição, situam-se os médicos da escola de Cnide, em quem o respeito dos factos é tal que eles se mostram incapazes de os ultrapassar. Finalmente — e este terceiro grupo é o de Hipócrates e dos seus discípulos, o da escola de Cós — há os médicos que, apoiando-se na observação, partindo dela e só dela, têm a constante preocupação de interpretar, de compreender. Estes últimos médicos são espíritos positivos: recusam-se às suposições arbitrárias, apelam constantemente para a razão.
Estes três grupos de escritores são igualmente opostos à medicina dos santuários. Mas só o último grupo funda a medicina como uma ciência1. [353]
*
Os médicos teóricos não nos demorarão muito tempo. Trata-se de brilhantes jogadores de palavras, que participam nesse movimento muito vasto, tocante a todas as actividades humanas, muitas vezes com justeza, a que se dá o nome de sofística.
O seu método procede, aliás, inversamente ao método científico são. Em vez de partir do exame dos factos, os autores dos tratados deste grupo partem quase sempre de ideias gerais colhidas na filosofia ou nas crenças da época: contentam-se com aplicar, muito arbitrariamente, tal ou tal dessas ideias aos factos médicos que têm de explicar. Estas ideias são, frequentemente, simples ideias preconcebidas: é o caso do papel predominante do número 7 nas actividades humanas.
O tratado Das Carnes, o Feto de Sete Meses, seguido do Feto de Oito Meses, mostram ou pretendem mostrar que se o feto é viável ao fim de sete meses, e depois aos nove meses e dez dias, é porque nos dois casos conta um número exacto de semanas, a saber, respectivamente, trinta e quarenta. Estes tratados apresentam, igualmente, a título de provas, que a resistência do homem normal ao jejum é de sete dias, que as crianças têm os dentes aos sete anos, que as crises das doenças agudas se produzem ao fim de meia semana, de uma semana, de uma semana e meia, de duas semanas.
O tratado Dos Ventos, em que alguns persistem em ver a chave da doutrina de Hipócrates, é menos um tratado médico que uma dissertação, ornamentada sobre o papel do ar e da respiração, ao mesmo tempo como princípio da marcha do universo, da mudança das estações, e como causa de todas as doenças: febres epidêmicas ou pestilenciais, catarros, fluxões, hemoptises, hidropisias, apoplexias, cólicas, e até os bocejos.
Uma dezena de tratados da nossa Colecção liga-se a esta medicina sofística, brilhante e oca, tão afastada quanto é possível da prática de Hipócrates. Contudo, nos menos maus, encontram-se ainda indicações judiciosas que parecem fruto duma experiência autêntica.
No tratado Do Regime, que começa por dissertar no vazio sobre a natureza do homem, sobre a natureza da alma, que é mistura de água e fogo, sem esquecer os sexos, os gémeos e as artes, encontramos com surpresa um catálogo muito bem feito das plantas hortenses e das suas propriedades, [354] nomeadamente uma enumeração das virtudes dos cereais, conforme, por exemplo, a cevada seja absorvida com o seu invólucro ou descascada, cozida ou torrada, conforme o pão de cevada seja consumido logo que amassado ou algum tempo depois, ou ainda, para o pão de fromento, conforme seja branco, de rolão ou fermentado. Há páginas e páginas sobre os vegetais, outras sobre as propriedades das carnes, a partir da vaca e não esquecendo o ouriço. O tom discursador e pseudofilosófico do começo do tratado dá lugar a incríveis ementas, tendo à margem todos os riscos de flatulência, os efeitos evacuantes. diuréticos ou nutrientes de cada alimento. As teorias nebulosas da introdução (Aristófanes troça deste género de medicina nas Nuvens) cedem o passo à onda das recomendações sobre a utilidade dos vómitos repetidos, o perigo dos excrementos pútridos e o bom uso dos passeios. Notemos, de passagem, que o autor declara elaborar os seus regimes para "o comum dos homens, aqueles que, ganhando apenas para o seu sustento, não têm os meios de renunciar a todo o trabalho para se ocuparem da sua saúde". Feito isto, elabora outro regime, que é sua "bela descoberta", para uso das pessoas de meios. Ninguém tinha pensado em tal antes dele, diz. E aqui o nosso homem cai num anfiguri de distinguo em que a sua vacuidade se compraz: deixou decididamente o caminho da ciência ao nível da terra, que durante certo tempo pacientemente seguira.
Façamos também justiça ao tratado Do Feto de Sete e de Oito Meses que, a par de divagações septenárias e lunares, contém pelos menos uma página justa, comovente até, sobre os perigos que a criança corre após o nascimento.
"Modificadas (pelo nascimento), as condições de alimentação e de respiração constituem um perigo. Se, com efeito, os recém-nascidos absorvem qualquer germe malsão, é pela boca e pelo nariz que o absorvem. Ao passo que precedentemente não entrava no organismo senão o que era exactamente suficiente e nada mais, doravante penetram nele muito mais coisas; e, em razão desta sobreabundância de contributos de fora como em razão da constituição do corpo da criança, as eliminações tornam-se necessárias: fazem-se, por um lado, pela boca e pelo nariz, por outro lado, pelo intestino e pela bexiga. Ora nada disto acontecia anteriormente.
"Em vez, pois, de respirações e de humores que lhe eram congéneres e aos quais, na matriz, estava aclimatada, como que num comércio de familiaridade, a criança, desde o nascimento, usa de coisas que lhe são estranhas, ásperas, rudes, menos humanizadas: desde aí, é necessidade que de tal resultem sofrimentos e muitas mortes. Em vez de estar envolvida de carne e de humores [355] tépidos, húmidos, concordes com a sua natureza, a criança acha-se vestida de panos como o adulto. O cordão umbilical é, primeiramente, a única via pela qual a mãe comunica com a criança. É por ele que a criança participa no que a mãe recebe. As outras estão-lhe fechadas e só se abrem após a sua vinda à luz: nesse momento tudo se abre nela, ao passo que o cordão se adelgaça, se fecha e se resseca."
*
Entretanto, nos antípodas destes médicos teóricos, destes iatrosofistas situa-se, na Colecção Hipocrática, a medicina da escola de Cnide, rival ou émula da de Cós (a de Hipócrates). Os tratados que melhor representam esta medicina cnidiana no Corpus são as Afecções Internas e as Doenças (secção II). Juntemos-lhes uns doze tratados que, sem serem rigorosamente cnidianos, são aparentados de perto ou de longe com esta escola. Nomeadamente diversos tratados de ginecologia.
O grupo cnidiano caracteriza-se pelo gosto da observação precisa e mesmo minuciosa, pela preocupação de dar descrições concretas e pormenorizadas das doenças, evitando toda a generalização abusiva, toda a evasão "filosófica". O médico é, nesta escola, reconduzido ao que em todo o tempo constituiu o núcleo da sua arte: a observação clínica. Estes Cnidianos são, pois, principalmente, práticos. Não vão além da observação directa, temem forçar — interpretar demasiadamente — as palavras do doente. Têm em relação aos factos uma fidelidade um pouco limitada que lhes estreita o horizonte. Contentam-se com classificar as doenças e, quanto a tratá-las, atêm-se a uma terapêutica experimentada pela tradição.
Não se empenham em debates médicos. Não procuram as causas das doenças, reduzidas ao comportamento de dois "humores", bílis e fleuma. Fogem dos problemas difíceis, insolúveis para eles. Em suma, não procuram compreender.
As suas classificações multiplicam as divisões e parecem multiplicar as doenças. As Afecções Internas e as Doenças II enumeram e descrevem três espécies de hepatites, cinco doenças do baço, cinco espécies de tifo, quatro [356] doenças dos rins, três espécies de anginas, quatro pólipos, quatro icterícias, cinco hidropisias, sete tísicas, um grande número de afecções cerebrais.
Algumas destas distinções são justificadas, e novas. Por exemplo, a do reumatismo articular agudo e da gota, chamada podagra. Mas a maior parte delas são insuficientemente fundamentadas ou imaginárias.
Eis, a título de exemplo, a maneira como é descrita uma das tísicas mencionadas.
"Esta é produzida por excessos de fadiga. Os acidentes são mais ou menos os mesmos que no caso precedente, mas a doença oferece mais remissões e afrouxa no Verão. O doente expectora, mas os escarros são mais espessos. A tosse é mais premente nos velhos. As dores no peito são mais fortes. Parece que uma pedra pesa sobre ele. As costas também doem. A pele é húmida. Com o mais pequeno esforço, o doente arqueja e fica oprimido. Morre-se em geral desta doença ao fim de três anos."
Na descrição doutra tísica:
"À medida que a doença avança, o doente emagrece, excepto nas pernas, que incham. As unhas retraem-se. Os ombros tornam-se delgados e fracos. Sente-se a goela como se estivesse cheia de penugens: a garganta silva como através de um tubo. A sede atormenta. Todo o corpo enfraquece. Neste estado, não se vai além de um ano."
A descrição é frequentemente muito expressiva. Alguns traços forçam a atenção: o doente que procura respirar "abre as narinas como um cavalo que corre; deixa sair a língua como um cão que no Verão é queimado pelo calor do ar". Imagens exactas e impressionantes.
Mas os médicos de Cnide, nas suas classificações, são tomados por uma espécie de delírio nosológico. É de notar que a esta profusão de descrições corresponde uma assaz pobre terapêutica. É sempre purgar, fazer vomitar (o vómito é, para os antigos, uma purga por cima), dar leite, cauterizar.
Notemos, entretanto, um tratamento singular preconizado pelos Cnidianos. Os "errhins" são uma prática estranha que consiste em colocar no nariz substâncias de composição variada a fim de curar as doenças cuja sede se situa, para o médico, na cabeça: apoplexia, icterícia, tísica, etc. Estes "errhins" são purgativos da cabeça". O seu emprego supõe uma comunicação entre o nariz e o cérebro. Mas não dizemos nós ainda uma constipação da cabeça?
Salientemos igualmente o processo de exploração do pulmão empregado pelo médico, que tem necessidade, antes de tentar uma intervenção, de conhecer a posição exacta de um derramamento de cuja presença na cavidade pleural [357] suspeita. O texto indica que depois de ter "colocado o doente sobre um assento sólido e enquanto um ajudante segura as mãos do paciente", o médico "agarra-o pelos ombros e imprime-lhe uma sacudidela, ao mesmo tempo que aplica o ouvido sobre as costelas, a fim de saber se é à direita ou à esquerda que está o mal". Este processo chamado "sucussão hipocrática". embora seja cnidiano, esquecido ou não reconhecido pela tradição médica posterior, mostra bem o engenho inventivo dos médicos de Cnide na observação dos factos. Laènnec declara tê-lo empregado segundo os tratados antigos e ter tirado dele vantagem.
Esta "sucussão hipocrática" lembra-nos, a propósito, que a velha medicina cnidiana — cujo empirismo tendia a tornar-se puro pragmatismo, para não dizer rotina — foi levada, como compensação da sua fidelidade à observação, a várias descobertas, das quais a principal é a auscultação. Uma outra passagem, além da já citada, o atesta. O médico, escreve o autor de Doenças II. "aplicando durante muito tempo o ouvido contra as costelas, ouve um rumor como vinagre a ferver". Outras passagens confirmam ainda que a auscultação praticada pelos médicos do século V era sem dúvida uma invenção cnidiana.
Encontramos ainda, nestes tratados cnidianos ou aparentados a Cnide, a menção de numerosas intervenções cirúrgicas e a descrição dos instrumentos que as permitem. O tratamento dos pólipos do nariz é simples e brutal: ora se pratica a cauterização por meio de ferramentas aquecidas ao rubro, ora o arrancamento por meio de um pauzinho munido duma "corda de nervo": o médico ajusta-a e puxa vigorosamente. As incisões no rim são aconselhadas em três das quatro doenças renais: a incisão, especifica o autor, deve fazer-se "no sítio onde o órgão está mais inchado"; deve ser "profunda". As incisões na caixa torácica são numerosas: são intercostais, e o cirurgião usa primeiro um "bisturi convexo", depois continua com um "bisturi afilado". A operação mais ousada praticada pelos Cnidianos é a trepanação do crânio, a fim de dar saída a um derramamento líquido que ameaça a vista, sem que haja lesão do olho. As curas obtidas são mencionadas, assim como as duas espécies de trépano empregadas.
Basta. A medicina de Cnide representa incontestavelmente um imenso esforço dos homens de ofício, com vista a assentar a sua disciplina em, observações rigorosas de factos numerosos. Contudo, há que reconhecê-lo. esse esforço não chega a termo. O grande mérito destes médicos é terem-se recusado aos atractivos de hipóteses filosóficas inverificáveis. Não querem conhecer e transmitir senão os factos observados pela tradição médica; acrescentam a esta tradição os casos que eles próprios recolheram. Apenas conhecem doentes: o seu ofício é tratá-los segundo os métodos que consideram mais experimentados.
Notar-se-á, sem dúvida, e não sem razão, que esta desconfiança dos Cnidianos em relação à especulação e à hipótese provocou, na prática quotidiana da sua arte, uma espécie de desconfiança inconsciente mais geral para com a inteligência. Pensar a medicina não é com eles.
Efectivamente, é muito raro que os seus escritos produzam a menor ideia geral, a menor fórmula que tenha o estilo do pensamento. Muito raro, mas não excluído. Citemos uma dessas reflexões — talvez a única. Incide ela sobre o método que permitirá à medicina progredir.
Esta reflexão encontra-se no tratado intitulado Os Lugares no Homem. O autor do escrito é um médico, senão cnidiano, pelo menos estreitamente aparentado com a escola. É, em muito, o tratado mais interessante que encontrámos até aqui. O autor escreve isto: "A natureza do corpo é o ponto de partida do raciocínio médico", frase que vai muito além do vulgar empirismo cnidiano.
O autor desta fórmula compreendeu que todas as partes do corpo são solidárias entre si. Razão por que, baseando-se na reflexão de método que citei, faz preceder a exposição patológica que empreende de uma descrição de anatomia geral. Assim, para ele, a medicina não tem outra base mais sólida que o estudo do organismo humano.
A propósito desta frase dos Lugares no Homem, alguns modernos pronunciaram o nome de Claude Bemard. Grande honra feita ao modesto prático anónimo que escreveu este tratado, e honra merecida. Nenhum outro escrito de tendência cnidiana provocaria uma tal aproximação.
Quanto à descrição anatómica do nosso autor, ainda falta muito para que ela seja exacta. Contudo, o médico que escreveu Os Lugares no Homem não ignora que os órgãos dos sentidos estão ligados ao cérebro; observou exactamente as membranas do olho e as do encéfalo; sabe que a veia cava superior leva o sangue ao coração. Em compensação, parece confundir a veia cava inferior com a acorta.
De resto, não é tanto de notar aqui a exactidão dos resultados do seu inquérito como dizer a justeza de um método que tenta fundar a patologia sobre o conhecimento anatómico. [359]
Antes de deixarmos os honestos práticos de Cnide para nos voltarmos para os autores propriamente hipocráticos da Colecção, digamos algumas palavras a respeito do notável tratado intitulado Do Coração. Esta obra sofreu aqui e além a influência da escola de Cnide: foi, recentemente, atribuída, com verosimilhança, a um médico da escola siciliana, o sábio Filistião. Este médico professava no começo do século IV em Siracusa, e Platão conheceu-o bem. Filistião manipulou, sem dúvida, de escalpelo em punho, um coração humano. Não somente o afirma, referindo-se a um antigo uso dos Egípcios neste domínio, mas sobretudo a exactidão da sua descrição anatómica deste órgão confirma, com efeito, que "extraiu o coração de um homem morto". E o nosso sábio praticou, não só a dissecação, mas também a vivissecção dos animais. A não ser assim, como teria ele descoberto que os aurículos continuam a contrair-se quando os ventrículos já deixaram de bater?
O facto é exacto, e o aurículo direito é, por essa razão, chamado ultimun moriens.
Que conhecimento anatómico do coração tem pois o nosso autor? Sabe que o coração é "um músculo muito potente, não pelas suas partes tendinosas. mas pela feltragem da carne". Sabe que o coração possui dois ventrículos e dois aurículos; distingue o coração direito e o coração esquerdo e sabe que não existe entre eles nenhuma comunicação directa. Observa: "Os dois ventrículos são a fonte da vida do homem. De lá partem os (dois) rios (artéria pulmonar e aorta) que irrigam todo o interior do corpo: por eles é irrigada a habitação da alma. Quando estas duas fontes se esgotam, o homem está morto."
Mas Filistião faz observações mais delicadas ainda. Distingue as veias e as artérias, segundo a natureza diferente dos seus tecidos. Nota muito justamente que o coração está inclinado para a esquerda, que a sua ponta é formada unicamente pelo ventrículo esquerdo e que o tecido deste é mais espesso e mais resistente que o do ventrículo direito. Finalmente — e esta é a obra-prima da observação — , descreve com brevidade mas com grande precisão as válvulas que fazem comunicar ventrículos e aurículos e as que estão colocadas sobre a artéria pulmonar e sobre a aorta: compostas de três pregas membranosas — válvulas sigmóides ou semilunares — estão em condições de fechar rigorosamente o orifício arterial, observa que as válvulas da artéria pulmonar resistem mais debilmente à pressão que as da aorta.
Surpreender-nos-á talvez que um observador tão sagaz, um sábio que tenta uma verdadeira experiência (na verdade, mal conduzida) num porco para [360] descobrir a origem do líquido que se encontra no pericárdio e banha o coração — surpreender-nos-á que um tal sábio possa contentar-se, para explicar a função fisiológica do coração, com hipóteses extravagantes. O facto é esse. Esse facto indica que o autor do tratado Acerca do Coração não ultrapassou muito o nível de exigência científica dos médicos cnidianos. Mas o nosso espanto seria muito pouco científico. A ciência edifica-se lentamente num estranho amálgama de verdades, de "intuições justas" e de erros. A sua edificação foi durante longos séculos uma história de Torre de Babel. Os erros dos sábios, no fim de contas, são-lhe tão proveitosos como as justas intuições, porque são eles os primeiros a pedir rectificação.
Esta análise sumária da Colecção Hipocrática quereria contribuir para mostrar a marcha sempre ziguezagueante da ciência que nasce.
*
Eis agora, no centro da Colecção, alguns tratados — sete ou oito — cuja raça se conhece imediatamente: são os filhos do génio. Se não é possível apresentar a prova de que fosse Hipócrates em pessoa o autor, pode-se, pelo menos, assegurar que estes tratados são obra dos seus mais próximos discípulos. Que tal ou tal tratado seja do mestre de Cós, é mais do que provável. Mas qual?... Não nos percamos em falsos problemas. Sabemos que Hipócrates escreveu: oito obras lhe são hoje atribuídas, ora por um crítico, ora por outro, e os sábios que lhe reconhecem essa paternidade são da mais circunspecta espécie.
Os tratados são: Dos Ares, das Aguas e dos Lugares, Do Prognóstico, Do Regime nas Doenças Agudas, os livros I e III das Epidemias, Aforismos (as quatro primeiras secções), finalmente Das Articulações e Das Fracturas, tratados de cirurgia, obras-primas da Colecção.
Digna do mestre, e contudo certamente de uma outra mão, é a obra Da Antiga Medicina, contemporânea da juventude de Hipócrates (440 ou 430). Nesta obra se define com rara mestria a medicina de espírito positivo, a medicina racional que será a de Hipócrates na sua plena maturidade.
A esta enumeração de obras maiores, deverá mais adiante acrescentar-se algumas obras de tendência ética — O Juramento, A Lei, O Médico, O Decoro, Os Preceitos, etc. — que farão desabrochar nos finais do século V, começos do século IV, a medicina científica de Hipócrates em humanismo médico. [361]
"Uma nuvem paira sobre a vida de Hipocrates - , escreve Littré. Consideremos primeiramente os factos mais seguros.
Hipocrates nasceu em Cós. A ilha. colonizada pelos Dórios, era de civilização e de dialecto jónios. A data do seu nascimento é mais certa do que comumente para um autor antigo: Hipocrates nasceu em 460, contemporâneo exacto de Demócrito e de Tucídides. Pertence à família dos Asclepíades. corporação de médicos que pretende descender do grande médico dos tempos homéricos, Asclépio. (Foi somente após Homero que Asclépio foi considerado um deus.) Entre os Asclepíades, um saber médico humano transmite-se de pai para filho, de mestre para discípulo, Hipocrates teve filhos médicos, um genro médico e numerosos discípulos.
Esta corporação dos Asclepíades, a quem também se dá o nome de escola de Cós, conserva no século V, como toda a corporação cultural, quadros e usos religiosos: a prática do juramento, por exemplo, que liga estreitamente os alunos ao mestre, aos seus confrades, aos deveres da profissão. Mas este carácter religioso da corporação, se implica uma certa atitude moral, não altera em nada a pesquisa da verdade, que continua a ser de intenção rigorosamente científica.
A medicina que se funda na Grécia do século V, nomeadamente a de Cós. é inimiga de todo o sobrenatural. Se se quisesse procurar para o médico hipocrático um antepassado, não seria o padre, nem mesmo o filósofo da natureza que se deveria designar. Isto o compreendeu muito bem o autor da Antiga Medicina. Escreve uma obra polémica destinada a defender a medicina como uma arte. (A palavra que emprega é intermédia entre técnica e ciência). Ataca sobretudo Empédocles, que foi médico e filósofo, de uma filosofia cheia de intuições geniais, é certo, mas também de armadilhas para a razão, e que se engana quando declara "que é impossível saber a medicina quando não se sabe o que é o homem e que é essa precisamente a ciência que deve ter adquirido aquele que quer tratar correctamente os doentes". Não, responde o autor da
Antiga Medicina, a arte de curar não deriva nem do conhecimento da natureza, nem de qualquer filosofia do género místico. Rejeita toda a filiação do filósofo (ou do sacerdote) ao médico. O antepassado do médico, quere-o ele humilde, ocupado de humildes tarefas, necessárias e positivas: é, diz ele, o cozinheiro.
Explica, com grande perspicácia, que os homens, na origem, comiam a sua alimentação crua, à maneira dos animais selvagens. Este regime "violento e brutal" tinha como consequência uma forte mortalidade. Foi preciso um [362] longo período de tempo para descobrir uma alimentação mais "temperada". Pouco a pouco, os homens aprenderam a descascar a cevada e o fromento, a moer o grão, a amassar a farinha, a cozê-la no forno, a fazer o pão. Em tudo, "eles temperaram os alimentos mais fortes pelos mais fracos, fizeram massas, ferveram, assaram"... até que "a natureza do homem estivesse em condições de assimilar o alimento preparado e que daí resultasse para ela nutrição, desenvolvimento e saúde". E conclui com este ponto: "Ora, a esta busca e a esta descoberta, que nome mais justo atribuir que o de Medicina?"
Foi a esta cozinha destinada à criatura humana, a esta medicina da saúde tanto como da doença, a dos corpos atléticos tanto como dos mais sofredores, que Hipócrates serviu com uma paixão fervorosa durante a sua longa vida. Viajou muito pela Grécia e fora da Grécia, continuando a tradição dos médicos itinerantes ou "periodeutas". Estes médicos viajantes dos tempos homéricos, vêmo-los nós, através da obra de Hipócrates, instalarem-se para uma longa estada num país novo e aí praticarem a medicina, ao mesmo tempo que observam os costumes dos habitantes.
Hipócrates teve, em vida, a maior celebridade. Platão, uma geração mais novo, mas seu contemporâneo, no sentido amplo da palavra, comparando num dos seus diálogos a medicina com as outras artes, põe Hipócrates de Cós em paralelo com os maiores escultores do tempo, Policleto de Argos e Fídias de Atenas.
Hipócrates morreu numa idade avançada, pelo menos em 375, isto é, aos oitenta e cinco anos, no máximo aos cento e trinta anos. A tradição antiga, unânime, atribui-lhe uma grande longevidade.
Tais são os factos seguros desta vida toda votada ao serviço do corpo humano. Ao lado deles floresce, mesmo em vida do mestre, uma lenda fecunda. A prática natural da medicina parece um espantoso prodígio e faz nascer a lenda como um acompanhamento obrigatório duma melodia demasiado pura. Deixaríamos estes ornatos de parte, se alguns desses relatos não encontrassem ainda hoje crédito. É o caso da presença de Hipócrates em Atenas aquando da famosa "peste" (que o não foi) e do que ele fez para desinfectar a cidade. Nada disto repousa em testemunho sério. Tucídides, que dá sobre esta epidemia numerosos pormenores e fala dos médicos que a combateram, não diz uma palavra a respeito de Hipócrates. Argumento e silentio, sem dúvida, mas na ocorrência plenamente decisivo. Do mesmo modo é pura lenda o relato da recusa dos presentes de Artaxerxes. Do mesmo modo ainda o relato do [363] diálogo entre Hipócrates e Demócrito, a que acima fiz alusão, por brincadeira, citando La Fontaine.
O que conta para nós infinitamente mais que estas "histórias", é o pensamento, é essa prática da medicina que enche de acções e de reflexões em absoluto convincentes os escritos autênticos do mestre.
O que impressiona em primeiro lugar, nestes textos, é o insaciável apetite de informação. O médico começa por olhar e o seu olho é agudo. Interroga e toma notas. A vasta colecção dos sete livros das Epidemias não é mais que uma sequência de notas tomadas pelo médico à cabeceira do doente. Apresentam, na desordem de uma volta médica, os casos encontrados e ainda não classificados. O texto é frequentemente cortado por uma reflexão geral, sem relação com os casos próximos, mas que o médico parece ter notado ao acaso do seu pensamento sempre em movimento.
Uma dessas reflexões vagabundas reporta-se à maneira de examinar o doente, e a palavra decisiva, reveladora, irrompe muitas vezes com rigor, ultrapassando a preocupação da simples observação e mostrando o contorno do espírito do sábio. "O exame do corpo é coisa complexa: reclama a vista, o nariz, o tacto, a língua, o raciocínio." Esta última palavra é uma surpresa que nos deslumbra, uma prenda de valor.
O tratado dos Aforismos, célebre entre todos — que Rabelais explicava no texto grego aos seus estudantes de Montpellier, proeza sem exemplo em 1531. e de que dava a primeira edição moderna — , esse tratado dos Aforismos não é outra coisa que a compilação destas reflexões sobrevindas como raios de luz no decurso do exame, anotadas no ardor do trabalho.
Todos conhecem o primeiro desses aforismos, denso como a soma de um método longamente experimentado. "A vida é curta, a arte é longa, a ocasião fugaz, a experiência fugidia, o juízo difícil.". Toda uma carreira de médico se resume nestas palavras, com os seus reveses, os seus riscos, as suas conquistas sobre a doença arrancadas pela ciência assente na prática, pelo diagnóstico ousadamente lançado no meio da dificuldade. A experiência não se separa aqui da razão que dificilmente se enraizou num terreno "escorregadio".
Eis, nas Epidemias /, uma longa reflexão sobre o exame do doente.
"Quanto a estas doenças, eis como as diagnosticamos: o nosso conhecimento apoia-se na natureza humana comum-a todos e sobre a natureza própria de cada indivíduo; sobre as doenças, sobre o doente; sobre as substâncias ministradas, [364] sobre aquele que as prescreveu — porque tudo isto pode ter contribuído para uma modificação para o bem ou para o mal —, sobre a constituição geral da atmosfera e as condições particulares de cada céu e de cada lugar; sobre os hábitos do doente, o regime de vida, as ocupações, a idade de cada um; sobre as palavras, os modos, os silêncios, os pensamentos que o ocupam, o sono, as insónias, a natureza e o momento dos sonhos; sobre os gestos desordenados das mãos, as comichões e as lágrimas; sobre os paroxismos, os excrementos, as urinas, os escarros e os vómitos; sobre a natureza das doenças que no doente se sucederam, assim como sobre o que delas ficou, princípios de destruição ou de crise; sobre o suor, o arrefecimento, a tosse, o soluço, o arroto, os gases silenciosos ou ruidosos, as hemorragias e as hemorróidas. São estes dados e o que eles permitem apreender que devemos examinar com atenção."
Note-se a extrema amplitude destas exigências. O exame do médico não tem em conta apenas o estado corporal presente do doente; tem em conta igualmente doenças anteriores e os rastos que elas podem ter deixado, tem em conta o seu género de vida, o clima em que vive, não esquece que este doente é um homem como os outros e que, para o conhecer, é preciso conhecer os outros homens; o exame sonda os seus pensamentos. Até os próprios "silêncios" o informam! Tarefa esmagadora, em que se perderia um espírito sem a necessária envergadura.
Esta medicina é claramente psicossomática, como hoje se diz. Digamos mais simplesmente que é a medicina do homem total (corpo e alma) ligada ao seu meio como ao seu passado. As consequências desta amplitude do exame incidirão no tratamento, que exigirá que o doente, por sua vez, sob a orientação do médico, participe inteiramente também, de corpo e alma, na sua cura.
Ao alargamento da investigação junta-se a rapidez do golpe de vista. Porque "fugaz é a ocasião" de mudar para bem o curso da doença. A famosa descrição, que atravessou os séculos, do "fácies hipocrático" — esse fácies que denuncia a morte próxima — atesta a segurança e a acuidade do olhar do mestre.
"Nas doenças agudas", diz o autor do Prognóstico, "o médico fará as observações seguintes: examinará primeiro o rosto do doente e verá se a fisionomia é semelhante à das pessoas com saúde, e sobretudo se é parecida consigo mesma. Esta seria a aparência mais favorável, e quanto mais dela se afastar, maior será o perigo. As feições atingiram o último grau de alteração quando o nariz está afilado, quando os olhos estão fundos, as fontes cavadas... [365] os lóbulos das orelhas afastados, quando a pele da fronte está seca, tensa e árida, a pele de todo o rosto amarela ou negra, ou lívida, ou cor de chumbo.. Se os olhos fogem da luz, se se enchem involuntariamente de lágrimas, se se afastam do seu eixo, se um se torna mais pequeno que o outro... se estão ou agitados, ou saindo para fora da órbita, ou profundamente encovados, se as pupilas estão ressequidas e baças... o conjunto destes sinais é mau. Igualmente se dará um prognóstico funesto se os lábios estão soltos, pendentes, frios e pálidos."
A extrema atenção dada nesta passagem à pessoa do doente, como nos inúmeros casos estudados nas Epidemias, em que se sente o médico, por mais apressado que esteja, preocupado em nada anotar que não seja exacto e dado pela "sensação", esta abundante observação imediata não impede Hipócrates de dar uma atenção igual às condições do meio em que vivem os homens.
Dos Ares, das Aguas, dos Lugares é um estudo do mais alto interesse sobre as relações do meio com a saúde das populações.
Bourgey observa a propósito: "O médico (antigo) interessa-se não só pelos doentes, mas em maior grau do que hoje se faz, pelo homem com saúde, prescrevendo com este objectivo toda uma higiene de vida." Vimo-la mais acima: a Antiga Medicina declarava que a arte médica, atravancada de filosofia ou empolada de sofística, podia ser redescoberta a partir de uma pesquisa sobre a alimentação conveniente ao homem são e ao doente. Hipócrates segue esta linha de pesquisa. Não quer ser apenas curador, quer informar os homens sobre as condições desse bem precioso entre todos os bens, a saúde. Hipócrates é o médico da saúde, mais ainda que da doença.
Em Dos Ares, das Aguas, dos Lugares estuda o género de vida de um grande número de povos e descreve-o com um rigor e um relevo impressionantes. Hipócrates sabe que o conhecimento do género de vida de cada homem é útil para o médico e para o higienista.
O médico não pode ignorar se o seu paciente é amigo do vinho, inclinado à boa mesa, à volúpia, ou se prefere a ginástica e o esforço a estes prazeres mais fáceis. Só a natureza do meio social e, em primeiro lugar, físico, o informará. Põe uma perspicácia e uma consciência sem igual na determinação das relações precisas, das relações de causa e efeito que unem, em todas as regiões, o homem ao seu meio natural.
Numerosas regiões da Europa e da Ásia alimentam com factos o seu inquérito. [366]
Em cada uma delas, interroga o clima e daí tira consequências relativas a certas doenças locais, como febres, por exemplo, que se esforça por melhor tratar, após ter descoberto a sua origem.
Interroga atentamente as estações. Investiga a sua influência e a das suas mudanças, nos equinócios e nos solstícios, sobre diversas doenças. Algumas estações têm um carácter "desregrado" e, se assim se pode dizer, anormal. (Fala do assunto noutro tratado.) Essas estações são como as doenças do ano. Engendram por sua vez doenças na população. Não ignora as recrudescências das febres intermitentes durante o Verão.
Interroga as águas, trata dos efeitos que certas águas podem exercer no organismo, particularmente as águas pantanosas provenientes das lagoas, e as águas demasiadamente frias. As águas estagnadas provocam as febres quartãs. Manda que sejam fervidas certas águas...
E nada disto é feito de afirmações banais repisando que o homem é dependente do meio físico, que a natureza da terra contribui para modelar a natureza do corpo, etc. Trata-se, pelo contrário, para Hipocrates, de saber se tal homem, vivendo em tal lugar da crosta terrestre, submetido a tal e tal influência, comendo isto, bebendo aquilo, não estará sujeito a contrair tal doença determinada.
É entregando-se a esta investigação concreta, percorrendo os países da Europa e da Ásia, que Hipocrates chega a desenvolver verdadeiros estudos de costumes, a mostrar que o solo e o céu exercem uma clara influência nas disposições psicológicas dos povos. Faz o que antigamente se chamava etnopsiquia. O homem pensa e age de acordo com o meio que habita.
No entanto, em tudo isto, o autor não se esquece de evocar a influência das condições sociais sobre o desenvolvimento e a própria constituição do organismo. A este propósito introduz a distinção familiar aos sofistas entre a natureza (physis) e o costume (nomos).
Todas estas considerações, e muitas outras, fazem de Dos Ares, das Águas, dos Lugares uma tentativa solidamente documentada, talvez a única feita em dois mil anos para estudar atentamente e num mesmo lanço os factos médicos e os factos geográficos, sem falar nos factos meteorológicos. E isto que faz desta obra modesta uma das mais originais que a Antiguidade nos deixou. Habituados às compartimentações das ciências, os nossos espíritos modernos ficam desconcertados pela multiplicidade dos factos reunidos aqui por Hipocrates e orientados para uma única finalidade: a saúde dos homens. [367]
*
Mas, em Hipócrates, a observação não fica por aí.
Nos tratados propriamente hipocráticos da Colecção, uma forte vontade domina o que primeiro não parece ser mais que um amontoado de observações — a vontade de compreender os factos recolhidos, de lhes dar um sentido útil aos homens.
"Convém", escreve o autor do Regime das Doenças Agudas, "aplicar a inteligência a todas as partes da arte médica, quaisquer que sejam." Fórmulas semelhantes encontram-se na maior parte dos tratados atribuídos a Hipócrates. O pensamento está sempre presente na observação. Essa é a atitude fundamental que distingue um médico de Cós de um médico de Cnide.
Aqui temos o Prognóstico. O médico está perante uma otite. Nota os seus numerosos sintomas. E acrescenta, sobretudo: "É preciso imediatamente, e desde o primeiro dia, prestar atenção (espírito, inteligência) ao conjunto dos sinais."
Eis as Epidemias, essa compilação de fichas de clínico. A cada momento vemos o médico, que pareceria dever estar submergido pela observação, libertar-se dela ou antes apoiar-se nela para tentar generalizar o caso individual em regra geral ou para elaborar um raciocínio. Diante de uma doença sujeita a recidiva, anota: "Importa dar atenção aos sinais de recidiva e lembrar que nesses momentos da doença as crises serão decisivas para a salvação ou para a morte, ou, pelo menos, que o mal se inclinará sensivelmente para o melhor ou para o pior." Inteligência sempre disponível, sempre visando a acção.
Ou ainda, nas Feridas da Cabeça: "Se o osso foi descamado, aplique-se a inteligência em tentar distinguir o que não é visível aos olhos, em reconhecer se o osso está fracturado e contuso, ou apenas contuso, e se tendo o instrumento vulnerante produzido uma hedra (lesão oblíqua), há contusão ou fractura, ou contusão e fractura ao mesmo tempo." O espírito está atento, pronto a interpretar a observação. Poderiam citar-se inúmeros exemplos.
Assim, a abundância da observação de modo algum dispensa o sábio do esforço e compreensão. Os verbos que em grego significam pensar, reflectir são numerosos: Hipócrates escolhe, na maior parte dos casos, aquele que apresenta a reflexão como uma atitude permanente do espírito, e põe-no no tempo em que se inscreve a duração. De modo que reflectir é trazer sempre consigo no coração. Hipócrates trouxe consigo, alimentou com o seu [368] pensamento os casos que a observação lhe propõe, os dados dos sentidos, a vista, a auscultação, a palpação. Hipócrates tem essa paciência do espírito que faz frente às dificuldades e resolve os problemas.
Eis um exemplo manifesto, entre muitos, que mostra claramente a novidade do método de Cós em relação ao de Cnide. O tratado Das Articulações, que é um tratado de cirurgia, enumera os diferentes acidentes a que estão sujeitos os membros do corpo: fracturas do braço, do nariz, da perna, luxação do húmero, do fémur, etc... Indica, com abundantes pormenores, os múltiplos processos que permitem reduzir fracturas e luxações. Feito isto, escolhe entre estes processos e dá com precisão as razões dessa escolha. Os médicos que não sabem fazer e justificar esta escolha reflectida — os médicos cnidianos — são severamente julgados. O autor escreve: "Entre os médicos, há-os que têm as mãos hábeis, mas que não têm inteligência." Cnide, aqui, é apontada a dedo.
O estabelecimento do prognóstico é um dos objectivos essenciais da medicina hipocrática: traz-nos um belo exemplo da união da observação e do pensamento.
O médico hipocrático propõe-se, como é sabido, reconstituir a doença total com as suas causas, as suas complicações, a sua terminação, as suas sequelas. Quer, segundo as Epidemias e o tratado Do Prognóstico, "dizer o que foi, conhecer o que é, predizer o que será." Mais tarde, a escola de Alexandria dará nomes a estas três operações: a anamnese, evocação do passado: o diagnóstico, determinação da doença pelos sintomas presentes; finalmente, o prognóstico, previsão do futuro.
Na maior parte das histórias da medicina, não se presta inteira justiça ao prognóstico hipocrático, do qual se diz que é um meio destinado a estabelecer a autoridade do médico sobre o doente e os que o rodeiam. Sem dúvida, e a Colecção Hipocrática di-lo também, acessoriamente. Este juízo sobre o prognóstico tem paralelo na frase humorística de um professor de Lausana aos seus estudantes: "Um diagnóstico rigoroso espanta-vos a vós mesmos. Um tratamento eficaz espanta o confrade. Mas o que espanta o doente é um prognóstico exacto." Juízo humorístico.
Contudo, este humor erra o alvo. Em todo o caso, o prognóstico não é um punhado de poeira atirado aos olhos do doente por um charlatão. Se é. por um lado, uma maneira de inspirar confiança ao doente, é sobretudo, para o médico, a solução dada a um problema de grande complexidade. [369]
Um doente no seu leito é um terrível nó que ali está para ser desatado. Causas obscuras, antigas e recentes o levaram ali. Quais? E que vai acontecer-lhe? A morte, ou a cura? O prognóstico — que aliás não será comunicado ao doente se for desfavorável — é uma ordenação, através do pensamento do médico, do extraordinário emaranhado de sinais que a observação lhe propõe. Hipócrates é muito sensível à grande complexidade de factos oferecidos aos médicos por qualquer doença. Por outro lado, conhece o valor relativo desses factos. Não ignora, por exemplo, que os sinais mais certos de um desenlace mortal podem ser contraditados, em certas doenças que nomeia, por sinais favoráveis que o médico fará bem em não esquecer. É sobre um conjunto de inúmeros sinais que o médico deve estabelecer o seu prognóstico: e ainda assim esse prognóstico tem sempre um carácter hipotético e, por assim dizer, movediço. Uma fórmula admirável aparece, mais que uma vez. sob formas diversas, nos textos de Hipócrates. Esta: "É preciso ter ainda em consideração os outros sinais. Palavras de honestidade intelectual, mas também palavras de esperança. A vida é um fenómeno demasiado complexo para que se não possa sempre, por um desvio inesperado, tentar salvá-la e muitas vezes consegui-lo.
A falar verdade, os sábios modernos não deixam de sublinhar as fraquezas do prognóstico hipocrático: estas fraquezas provêm de um facto que deve ser constantemente lembrado, a ignorância quase total do médico em anatomia e sobretudo em fisiologia. Como, persuadido, por exemplo, de que as artérias conduzem ar (!), estará o médico em condições de elaborar um prognóstico assente, como ele quereria, nas causas da doença? Contudo, há já casos em que os poucos conhecimentos que tem dessas matérias lhe permitem fazê-lo. Desde que saiba mais, o seu prognóstico tornar-se-á mais firme.
De resto, para Hipócrates, o prognóstico não tem o seu fim em si mesmo. E nele que assenta o tratamento (e neste sentido equivale ao diagnóstico moderno). Ora, em matéria de tratamento, os outros médicos que não pertenciam à escola de Cós estavam entregues à imaginação ou ao acaso. Ou se apoiavam em considerações teóricas arbitrárias, ou aceitavam sem verificação os tratamentos ditos provados pela tradição. O autor do Regime das Doenças Agudas fala com ironia dos tratamentos contraditórios a que chegavam estes médicos ignaros. Escreve:
"Os médicos não têm o hábito de agitar tais problemas. Se os agitassem, certamente não encontrariam soluções para eles. Contudo, daqui ressalta, para o público, um grande desfavor sobre toda a profissão médica, a tal ponto que [370] se chega a crer que a medicina é simplesmente uma arte inexistente. Verifica-se, com efeito, que, nas doenças agudas, os práticos diferem de tal maneira entre si que a prescrição ordenada por um como a melhor será pelo outro condenada como detestável. Deste ponto de vista, há que comparar a medicina com a arte dos adivinhos que olham a mesma ave como de bom augúrio se voa à esquerda, como de mau augúrio se voa à direita... Mas outros adivinhos têm, sobre as mesmas coisas, opiniões diametralmente opostas. Digo, pois, que a questão que acabo de levantar é de uma extrema beleza e toca a maior parte dos pontos da arte médica e os mais importantes; porque ela pode muito, para todos os doentes quanto ao seu restabelecimento, para as pessoas saudáveis quanto à conservação da saúde, para as pessoas que se entregam aos exercícios ginásticos quanto ao aumento das suas forças; numa palavra, aplica-se a tudo quanto se quiser."
Esta passagem é de um bom senso que faz pensar em Molière, não sem razão. A indignação do autor, o seu entusiasmo por esta medicina que levanta questões "de extrema beleza", brilham através da ironia.
Outros textos indicam claramente o bom método a seguir nas prescrições a dar. Não entremos no pormenor. Indiquemos antes uma das direcções que se afirmam, a propósito, na Colecção Hipocrática: essa direcção é também uma linha de cumeada do pensamento de Hipócrates.
Hipócrates conhece os limites da ciência que está fundando. Esses limites estão fixados ao mesmo tempo pela natureza do homem e pela natureza do universo. O homem-microcosmo e o mundo-macrocosmo são, cada um, o espelho do outro. Nesta maneira de pensar e de exprirmir não entra nenhuma concepção mítica do mundo natural. Nada mais que um realismo fundamental. Hipócrates reconhece que para as conquistas da medicina sobre a doença e a morte existem barreiras.
Admite, por outro lado, que estes dois mundos — microcosmo e macro-cosmo — , apoiados um no outro, são ao mesmo tempo fronteiras da ciência e caminho da cura. A cura produz-se no homem graças ao concurso da natureza e, em primeiro lugar, pelo trabalho do organismo humano. O objectivo de Hipócrates — que começa por parecer modesto — é a de dar uma ajuda à acção curativa da natureza. "A natureza é o médico das doenças", diz-se nas Epidemias V. "É a própria natureza que abre à sua acção os caminhos. Ela não tem de reflectir... A língua executa sozinha o seu ofício. Muitas outras coisas [371] se fazem assim. A natureza, que não recebeu ensinamentos, que nada aprendeu, faz o que convém." Noutra passagem, lê-se: A natureza age sem mestres. O médico, cuja função é manter o homem com saúde, procura e encontra no mundo natural e no corpo humano aliados que sabe serem benéficos. O tratamento ordinário do doente consiste em abrir à acção da natureza medicadora um caminho justo, um caminho apropriado a cada caso determinado. Porque o corpo organizado possui como que uma vitalidade activa que lhe é própria: tende, por si mesmo, a manter-se na existência empregando recursos múltiplos. Por isso mesmo, o concurso do homem da arte, graças ao seu conhecimento dessas actividades salvadoras do corpo, não é de modo algum descurável: casos há em que é decisivo.
Esta concepção da natureza medicadora não é, como certos historiadores pensaram, a de uma medicina preguiçosa, que resultaria em deixar a natureza agir sozinha. É, pelo contrário, um conhecimento assente sobre factos observados, segundo o qual cada organismo humano é um reservatório de forças biológicas, de forças que se defendem espontaneamente contra a sua própria destruição. O médico ajuda o homem na medida em que conhece o jogo dessas forças que o animam e constituem a vida. Conhecimento-acção, eis um dos temas clássicos da civilização grega.
Alguns dos processos de defesa do corpo funcionam por si mesmo. Mas é permitido pensar que este jogo de defesa pode ser também ajudado pelo médico que penetrou os seus poderes. A natureza precisa por vezes de ser amparada: Hipócrates pede ao médico que esteja sempre pronto a responder aos apelos e às possibilidades do organismo e a remediar as insuficiências que nele se encontrem.
O exemplo clássico nesta matéria é a prática da respiração artificial. Já o pulmão, privado de oxigénio, tentou aumentar o seu ritmo respiratório. O sangue multiplica os glóbulos vermelhos. Defesa natural e espontânea. O médico que pratica a respiração artificial não faz mais que suprir as lacunas da natureza: manobra as últimas reservas de um corpo cuja capitulação estava próxima.
Este médico, colaborador da natureza, não preencherá uma função mais alta e inteligente que o taumaturgo ignorante que se louvaria de "criar saúde" a partir de nada?
O médico que espreita "a ocasião fugaz" sobre o próprio terreno da "experiência escorregadia" é um modesto mas eficaz fabricante de vida. Tal como o poeta não fabrica as suas imagens a partir do nada, mas a partir do [372] real, o médico fabrica o homem com saúde a partir do que encontra no corpo do doente, a partir da natureza humana observada e utilizada.
Não foi ao nada, foi ao Sol que Prometeu arrancou o fogo.
*
Tais são os passos rigorosos da medicina hipocrática, tal é a filosofia da profissão médica que Hipocrates tira da natureza e do corpo humano. Nesta exposição insisti mais nos métodos da ciência que Hipocrates fundou do que nos resultados que obtém. É que a ciência progride mais pela justeza dos métodos que pela acumulação dos resultados.
Tanta altura intelectual, tanta modéstia e elevação de pensamento encontram a sua conclusão, o seu coroamento esplêndido no comportamento moral que Hipocrates exige dos discípulos e ele próprio pratica.
Indiquei acima os textos de carácter ético da Colecção — O Juramento, A Lei, O Médico, etc. Lembro que foram sem dúvida escritos no tempo da velhice de Hipocrates ou pouco depois da sua morte, mas conformemente aos seus princípios e à sua prática. Precisemos que o Juramento, que dá forma escrita a um uso antigo e sem dúvida primitivo da Escola, é, por um lado, o texto mais antigo da Colecção, e, por outro lado, e ao mesmo tempo, na sua forma actual, um pouco mais recente que os grandes tratados hipocráticos do século V. É também o mais importante dos textos éticos.
Eis a tradução integral desse juramento, que os médicos pronunciavam no momento de abordar a profissão:
"Juro por Apolo médico, por Esculápio, por Higia e Panaceia, por todos os deuses e deusas, tomando-os por testemunhas, que cumprirei, segundo o meu poder e o meu juízo, o juramento e o compromisso seguintes:
"Terei por aquele que me ensinou a arte da medicina o mesmo respeito que pelos autores dos meus dias; partilharei com ele os meus bens e, se for necessário, proverei às suas necessidades; seus filhos serão para mim meus irmãos e, se eles desejarem aprender a medicina, ensiná-la-ei sem salário nem compromisso.
"Darei parte dos preceitos, das lições orais e do resto do ensino que recebi a meus filhos, aos filhos de meus mestres e aos discípulos ligados por um compromisso e por um juramento à fé médica, mas a ninguém mais. [373]
"Dirigirei o regime dos doentes em seu benefício, segundo o meu poder e o meu juízo, com vista a afastar deles todo o mal e todo o dano.
"Não entregarei a ninguém veneno, mesmo se me pedirem, nem tomarei a iniciativa de o aconselhar. Igualmente não darei a mulher alguma pessário abortivo.
"Passarei a minha vida e exercerei a minha arte em continência e pureza
"Não praticarei a operação da talha e deixá-la-ei àqueles que dela se ocupam.
"Seja qual for a casa em que eu entre, entrarei nela para bem dos doentes, preservando-me de todo o erro voluntário, de toda a corrupção e particularmente da sedução de mulheres e de rapazes, livres ou escravos.
"Tudo quanto eu tiver visto ou ouvido no exercício e mesmo fora do exercício da minha profissão e que não deve ser divulgado, eu o calarei encarando o silêncio como meu estrito dever.
"Se me mantiver fiel a este juramento e o não infrigir, que me seja dado a gozar afortunadamente a minha vida e a minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se o violar e for perjuro, que eu sofra a sorte contrária."
A maior parte dos estados modernos exigem que os médicos sejam ajuramentados. Mas o próprio emprego da palavra juramento se tornou as mais das vezes abusivo. Em geral, o médico apenas se compromete pela sua honra ou faz uma promessa. A evolução das crenças, os progressos da ciência parecem ter praticamente esvaziado o velho texto de Hipócrates do seu conteúdo.
Na minha terra, o cantão de Vaud, o médico compromete-se nestes termos perante o prefeito do distrito, representante do Conselho de Estado, que exerce o poder executivo.
"Depois de ter tomado conhecimento dos princípios fundamentais da deontologia e das disposições legais que regulam a minha profissão, comprometo-me, por minha honra, a respeitá-los fielmente, prometo exercer esta profissão com a consciência, a dignidade e a humanidade que a sua finalidade auxiliadora exige."
Nada ficou da interdição de receitar venenos: o médico de hoje, que dominou os elementos tóxicos que um remédio pode conter, prescreve "venenos" remédios durante todo o dia. Nada sobre a interdição do aborto solicitado: esse aborto tornou-se legal, em mais de um caso. Ficou a deferência para corm os colegas, prevista pelas disposições da deontologia. Ficou o segredo profissional protegido — pelo menos teoricamente — pela Lei Sanitária de 9 de [374] Dezembro de 1952 e igualmente pelo Código Penal Suíço, cujo artigo 321 dispõe que aqueles "que tiverem revelado um segredo médico que lhes fora confiado em virtude da sua profissão, podem ser punidos com prisão e multa".
Ficam, sobretudo, na promessa de Vaud, tomada a título de exemplo, essas belas palavras de consciência, dignidade, humanidade, esse prosseguimento de uma única finalidade auxiliadora, que são como que um eco longínquo mas autêntico do amor que Hipócrates dedicava aos seus doentes e que ele exigia dos seus discípulos.
A promessa do médico genebrino, intitulada ainda Juramento de Genebra, está mais perto do juramento de Hipócrates. É prestada perante a assembleia geral da Associação dos Médicos, não perante a autoridade política. Nestes termos:
"No momento de ser admitido no número dos membros da profissão médica:
"Tomo o compromisso solene de consagrar a minha vida ao serviço da Humanidade.
"Conservarei para com os meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhe são devidos.
"Exercerei a minha arte com consciência e dignidade.
"Considerarei a saúde do meu paciente como meu primeiro cuidado. "Respeitarei o segredo de quem a mim se tiver confiado.
"Manterei, na medida de todos os meus recursos, a honra e as nobres
tradições da profissão médica.
"Os meus colegas serão meus irmãos.
"Não permitirei que considerações de nação, de raça, de partido ou de
classe social venham interpor-se entre o meu dever e o meu paciente. "Guardarei o respeito absoluto da vida humana, desde a concepção. "Mesmo sob ameaça, não admitirei fazer uso dos meus conhecimentos
médicos contra as leis da Humanidade.
"Faço estas promessas solenemente, livremente, por minha honra."
Este Juramento de Genebra foi adoptado pela assembleia geral da Assembleia
Médica Mundial, em Genebra, em Setembro de 1948.
*
O Juramento, a Lei, e os outros tratados éticos de Hipócrates suscitam ainda outras observações. [375]
A primeira, não destituída de importância, é que as instruções dadas ac médico sobre a prática da sua profissão, se estão reunidas e reforçadas nestes escritos pela forma do juramento, nunca são contraditadas mas pelo contrário confirmadas pelos outros tratados da Colecção, nomeadamente por aqueles que é permitido atribuir a Hipócrates. Estamos pois perante a simples codificação de usos antigos, e esta codificação é feita conformemente à inspiração do Mestre, numa inteira fidelidade à sua memória.
Nenhuma das práticas interditas pelo Juramento se encontra nos sete livros das Epidemias, notas que, como vimos, foram redigidas sem cuidados, sem preocupação de publicidade, e de que uma parte pelo menos é do punho de Hipócrates; o conjunto, espelho sem mancha da prática da escola.
Outro aspecto. Os escritos éticos dão a maior atenção ao porte do médico, ao seu comportamento físico e moral. Ele só entra nas casas "para bem do doente". Esse doente, qualquer que seja, qualquer que seja a sua condição social, quer se trate de uma mulher, de um homem ou de uma criança, seja de condição livre ou escravo — não é para o médico mais do que um ser sofredor, um "paciente" no sentido forte e etimológico do termo. Tem direito às atenções, ao respeito do médico, e este respeita-o como deve respeitar-se a si próprio.
"O médi", escreve o autor da Boa Conduta, "como o bom filósofo, com quem se parece, pratica o desinteresse, a reserva, o pudor; veste com modéstia; tem a seriedade, a tranquilidade do juízo, a serenidade, a pureza da vida... Possui o conhecimento de tudo o que é útil e necessário, está liberto da superstição."
O autor do livro intitulado Do Médico declara por sua vez que o médico deve possuir a continência e "conservar as mãos puras... Os seus costumes são honestos e irrepreensíveis e, com isto, será grave e humano para com todos."
Numa palavra, a sua atitude é a do "homem de bem" e ele mostra-se "amável com as pessoas de bem". Diante do doente "nem impulsivo, nem precipitado". Nunca está de mau humor, "sem ser no entanto duma alegria excessiva".
"Não é coisa de somenos, na verdade", continua o mesmo autor, "as relações do médico com os seus doentes", mas relações que requerem "justiça-. a do juízo (a justeza) e a da conduta.
Uma das virtudes mais necessárias deste médico homem de bem é a modéstia, virtude intelectual tanto quanto moral. O médico pode enganar-se: reconhecê-lo-á logo que disso se aperceba, e diante do doente, pelo menos se se [376] tratar de "pequenos erros". A sua formação, que foi longa e feita sob a direcção de mestres esclarecidos, guardá-lo-á em geral dos erros graves. Se os comete e se eles podem levar à morte, não deve reconhecê-los na presença do doente, sob pena de comprometer a calma deste. Preferirá consigná-los nos escritos, a fim de esclarecer os médicos das gerações seguintes.
A modéstia, por outro lado, impõe ao médico o dever de apelar para os confrades se se encontrar embaraçado. Lê-se nos Preceitos:
"O médico que, por causa da sua inexperiência, não está vendo claro, reclamará a assistência doutros médicos, com quem consultará sobre o caso do doente e que se associarão a ele para encontrar a solução... Os médicos que vêem em conjunto um doente não discutirão nem se cobrirão reciprocamente de ridículo. Porque, afirmo-o sob juramento, nunca um médico que propõe um raciocínio deverá invejar o raciocínio de um confrade. Se o fizer, só mostra a fraqueza do seu."
Finalmente, sempre por modéstia, o médico recusar-se-á a empregar processos que teriam um ar ostensivo, procurando com isso impor-se ao doente. Porque "seria vergonhoso que depois de muito barulho, muita exibição e muitas palavras acabasse por chegar, no fim de contas, a coisa nenhuma". O médico deve escolher em todas as circunstâncias o meio de cura onde se encontre o mínimo de ostentação. Esta atitude é a única digna de um "homem de coração e de um homem da arte", ao mesmo tempo. Os dois termos implicam-se um ao outro, porque a arte do médico está ao serviço dos homens. Os Preceitos recordam-no numa fórmula inesquecível: "Lá onde houver amor dos homens, há também amor da arte."
A modéstia do médico resulta em primeiro lugar do amor que ele dedica à arte que exerce; o médico conhece com efeito a imensidade das exigências da sua arte; toma conhecimento delas quotidianamente no exercício da sua profissão, como toma consciência dos limites das suas capacidades. Mas em segundo lugar, porque ele ama os homens que trata, porque tem o sentimento agudo do carácter precioso e complexo da vida que deseja proteger, a modéstia impõe-se ao médico que tem em si a responsabilidade dessa vida.
O amor dos homens e o amor da arte são os dois pólos do seu humanismo. [377]
*
Insistamos, para terminar, num último aspecto, apenas indicado até aqui.
A Colecção Hipocrática nunca faz, em nenhum dos seus numerosos tratados, a menor distinção entre os escravos e as pessoas de condição livre. Uns e outros têm os mesmos direitos à atenção, ao respeito e aos cuidados do médico. Não apenas os escravos, mas os pobres, que começam a ser muitos em todo o mundo helénico, pelos finais do século v, e cuja vida, muitas vezes, não é menos dura que a dos escravos.
Nos livros das Epidemias não redigidos por Hipócrates (que indica raramente nas suas notas a profissão dos pacientes), eis algumas das profissões designadas pelo médico: carpinteiros, sapateiros, correeiros, pisoeiros, vinhateiros, hortelões, mineiros, pedreiros, mestres primários, taberneiros, cozinheiros, palafreneiros, atletas profissionais, diversos funcionários (que podem ser escravos públicos), etc. Num grande número de casos, a profissão não é dada. Há também muitas mulheres, livres ou escravas. Vê-se que estas profissões são modestas ou modestíssimas. É de crer que alguns dos operários indicados sejam escravos. Essa indicação é dada mais que uma vez.
Escravo, estrangeiro ou cidadão, para o médico não faz qualquer diferença. O autor dos Preceitos chega mesmo a pedir "que se trate com atenção particular o doente estrangeiro ou pobre".
Ora, acontece que este "preceito" é seguido, e mais do que isso. Se relermos as fichas de doentes de um só livro das Epidemias, tomado ao acaso, o quinto livro, verificamos que em cem doentes dezanove e talvez mais (é muitas vezes difícil distinguir) são seguramente escravos (doze do sexo masculino, sete mulheres). Alguns foram tratados em Larissa de Tessália, durante a estada assaz longa que ali fez o médico periodeuta que redige o livro V. Todos parecem ter beneficiado de cuidados vigilantes e prolongados. Uma das mulheres escravas morre duma afecção encefálica por altura do quadragésimo dia. depois de ter estado muito tempo sem conhecimento.
Eis o caso de um moço de cavalariça, um escravo escolhido entre estes dezanove. Tem onze anos, e foi ferido por uma patada de cavalo na testa, por cima do olho direito. "O osso parece não estar são", diz o médico, "e dele saiu um pouco de sangue. O ferido foi amplamente trepanado até à díploe (sutura de duas placas ósseas formando a superfície interna e externa do crânio). Em seguida foi tratado, conservando-se o osso a descoberto, e o tratamento [378] ressequiu a porção de osso primeiramente serrada. Por alturas do vigésimo dia, começou uma tumefacção perto da orelha, com febre e arrepios; o inchaço era mais considerável e doloroso durante o dia; o movimento febril começou por um estremecimento; os olhos tumeficaram-se, assim como a fronte e todo o rosto; o lado direito da cabeça era o mais afectado; mas a tumefacção passou também para o lado esquerdo. Não aconteceu nada de desagradável; para o fim, a febre foi menos contínua; isto durou oito dias. O ferido escapou: foi cauterizado, tomou um purgante, e teve aplicações medicamentosas sobre o inchaço. A ferida nada tinha que ver com estes acidentes."
São muito diversas as afecções de que sofrem os doentes deste livro V. Exemplo: angina, surdez, gangrena ou esfacelo, pleurisia, peripneumonia, tísica, diarreias e outras perturbações do intestino ou do estômago, tumor no ventre, perturbações da bexiga, cálculos, anorexia febril, erisipela, e muitas outras. Muitas vezes trata-se de chagas resultantes de acidentes, ou de casos de gravidez. Em geral, o médico não parece tratar ou anotar nas suas fichas senão doenças graves: não se interessa pelos pequenos achaques.
A mortalidade é muito elevada. Dos dezanove escravos tratados no livro V. doze morrem. Mas a proporção dos mortos não é menos forte para o conjunto dos doentes que para os escravos. Em quarenta e dois casos assinalados nos livros I e II das Epidemias, vinte e cinco têm desenlace mortal. Um médico do final da era pré-cristã declara que devem ser lidas as Epidemias porque elas são "uma meditação sobre a morte". Os homens desse tempo ainda morriam como moscas! E como poderia ser doutra maneira? A medicina, tal como a descrevemos. ignorando o essencial da anatomia, porque a dissecação lhe é interdita pelos costumes, não está ainda em condições de baixar a taxa "natural" da mortalidade. Natural? Quero dizer: aquela que o meio natural e o seu próprio corpo tinham fixado à espécie humana. Contudo, virá uma dia em que os médicos poderão dizer, e não só como em Molière: "Nós modificámos tudo isto."
Pelo menos entre estes homens tão perigosamente mortais, a medicina não distingue. Os escravos, para ela, são também criaturas humanas. Trata-se de um facto tão surpreendente que vale a pena pô-lo em evidência, antes de concluir. É certo que o proprietário pode ter interesse em conservar este capital humano. Mas que vale este rapaz de onze anos, cuja história contei? Menos do que nada, menos do que as despesas do prático, sem dúvida.
Aliás, o tom em que são redigidas as anotações do médico, idêntico qualquer que seja a condição social do paciente, parece revelador desse misto
[379] de interesse científico e de simpatia humana que define o humanismo de Hipócrates.
Pensemos nos dois grandes filósofos dos séculos seguintes, no seu desprezo por essas "ferramentas animadas" que são os escravos!
Pelo seu espantoso apetite de saber, pelo rigor da sua pesquisa sempre vivificada pelo raciocínio, enfim, pelo seu devotamento à criatura sofredora, por essa amizade oferecida a todos os homens sem distinção, a medicina de Hipócrates atinge o nível mais alto do humanismo de século V e ultrapassa mesmo ousadamente, neste último ponto, as maneiras de viver e de pensar desta época.
Oferecendo a todos os homens a salvação corporal que, no meio das dificuldades, procura para eles, é, nas trevas da sua ignorância, a mais bela das promessas.
Quanto ao resto, não esqueçamos as palavras de Bacon (que cito de memória): "A medicina pode mais do que julga." [380]

Somos seres pensantes. Pensamos sobre as coisas passadas, projetamos nosso futuro, resolvemos problemas, criamos, sonhamos, fantasiamos, somos até capazes de pensar sobre nós mesmos, isto é, somos capazes de nos tornar objetos da nossa própria investigação. Fazemos ciência, poesia, música, construímos máquinas incríveis, transformamos o mundo em símbolos e códigos, criando a linguagem que nos permite a comunicação e o pensamento. Não há dúvida de que somos uma incrível espécie de seres1
Essa capacidade de pensar, da qual somos dotados, sempre foi objeto de curiosidade dos filósofos, dos cientistas e, dentre eles, dos psicólogos.
Como pensamos? Como resolvemos os problemas que se nos colocam?
Foi a partir de questões assim que se iniciaram investigações científicas para a compreensão da gênese do pensamento humano, ou seja, de como se elabora, como se estrutura esta capacidade.
Um dos mais pesquisados aspectos do pensamento foi a inteligência. [pg. 179]
Concepções de inteligência
“... uma decisão inteligente.” Provavelmente você conhece um comercial de cigarros que utiliza esse slogan. Neste comercial podemos identificar uma das concepções que o senso comum apresenta sobre a inteligência: qualidade que as pessoas possuem para resolver corretamente um problema. O comercial coloca como problema o excesso de nicotina e de alcatrão que os cigarros possuem, o qual seria inteligentemente resolvido pela mudança de marca de cigarro, pois a anunciada possui (assim eles dizem) menos alcatrão e menos nicotina, “sem tirar o prazer de fumar”.
Outras concepções de inteligência incluem a qualidade de adaptar-se a situações novas e aprender com facilidade. As concepções científicas da inteligência não são muito diferentes destas do senso comum. Gohara Yehia conta no livro Avaliação da inteligência que, em um
“simpósio sobre inteligência realizado em 1921, grande número de psicólogos expôs suas opiniões a respeito da natureza da inteligência. Alguns consideravam um indivíduo inteligente na medida em que fosse capaz de um pensamento abstrato; para outros, a inteligência era a capacidade de se adaptar ao ambiente ou a capacidade de se adaptar a situações relativamente novas ou, ainda, a capacidade de aquisição de novos conhecimentos. Houve várias teorias sobre inteligência: as que postulavam a existência de uma inteligência geral, as que postulavam a existência de várias faculdades diferenciadas e as que defendiam a existência de múltiplas aptidões independentes”2.
Grosso modo podemos dizer que os psicólogos dividiram-se em dois grandes blocos, quanto à compreensão desse aspecto do pensamento (cognição) humano: a abordagem da Psicologia diferencial e a abordagem dinâmica. [pg. 180]
A abordagem da Psicologia diferencial
A Psicologia diferencial, baseando-se na tradição positivista, acredita que a tarefa da ciência é estudar aquilo que é observável (positivo) e mensurável. Portanto, a inteligência, para ser estudada, deve-se tornar observável. Esta capacidade humana foi, então, decomposta em inúmeros aspectos e manifestações. Nós não observamos diretamente a inteligência, mas podemos medi-la através dos comportamentos humanos, que são expressões da capacidade cognitiva.
Assim, “vemos” e medimos a inteligência das pessoas através de sua capacidade de verbalizar idéias, compreender instruções, perceber a organização espacial de um desenho, resolver problemas, adaptar-se a situações novas, comportar-se criativamente frente a uma situação. A inteligência, nesta abordagem, seria um composto de habilidades e poderia ser medida por meio dos conhecidos testes psicológicos de inteligência.
Os testes de inteligência
Em 1904, na França, Alfred Binet (1857-1911) criou os primeiros testes de inteligência, que tinham como objetivo verificar os progressos de crianças deficientes do ponto de vista intelectual. Programas especiais eram realizados para o progresso dessas crianças, e os testes tornaram-se necessários para que se pudesse avaliar a eficiência desses programas, isto é, o progresso obtido.
Binet partiu daquilo que as crianças poderiam realizar em cada idade. Vários itens ou problemas eram colocados para as crianças, e, se a maioria delas, numa certa idade, conseguisse realizá-los e a maioria das crianças de uma faixa de idade inferior não conseguisse, esses itens eram considerados como discriminatórios, isto é, estava caracterizada a realização normal de crianças daquela idade.
Ao se examinar uma criança, tornava-se possível avaliar se seu desenvolvimento intelectual acompanhava ou não o das crianças de sua idade.
Os resultados de quase todos os testes de inteligência são apresentados pelo que se denominou Quociente Intelectual (Q.I.). Este quociente é obtido relacionando a idade da criança com o seu desempenho no teste, ou seja, verifica-se se ela está no nível de desenvolvimento intelectual considerado normal para sua idade.
Sabemos que uma das curiosidades mais comuns entre os leigos é saber se o quociente intelectual modifica-se ou não no decorrer de nossas vidas. Moreira Leite responde a esta curiosidade afirmando que
“nada existe, teoricamente, que impeça a modificação do Q.l. para mais ou para menos. Para entender esse processo, podemos pensar [pg. 181] no que ocorre com o desenvolvimento do corpo: uma criança pode nascer com muita saúde e ter possibilidades de bom desenvolvimento físico; no entanto, se for subalimentada durante vários anos, é provável que apresente um desenvolvimento físico pior do que uma criança que nasceu mais fraca, mas teve melhores condições de alimentação e higiene. Está claro que, nos casos extremos, essas diferenças de ambiente não chegam a eliminar as diferenças de constituição. Por exemplo, se uma criança nasce com graves defeitos físicos, pode continuar deficiente, apesar de condições muito favoráveis para seu desenvolvimento. Não existe razão para que o mesmo não ocorra com o desenvolvimento da inteligência (...) Concluindo, pode-se dizer que o Q.l. tende a ser estável quando as condições de desenvolvimento da criança também o são: se tais condições se modificarem para melhor ou pior, o mesmo acontecerá com o Q.l.”3.
Problemas dos testes de inteligência
Com a utilização dos testes de inteligência, alguns questionamentos foram surgindo:
- O termo inteligência era compreendido de diferentes maneiras pelos psicólogos construtores dos testes e os testes refletiam essas diferenças. E, apesar de diferentes testes serem considerados como avaliadores da inteligência, o que se viu na prática é que estavam medindo fatores parecidos ou completamente diferentes. Alguns testes avaliavam, fundamentalmente, o aspecto ou fator verbal, enquanto outros, o fator percepção espacial. Assim, um mesmo indivíduo poderia ter um alto quociente intelectual aqui e um baixo ali.
- A utilização freqüente dos testes levantou um outro questionamento — a rotulação ou classificação das crianças. Avaliadas pelos testes de inteligência e classificadas como deficientes, normais ou superdotadas, as crianças eram fechadas dentro destas classificações, os pais e professores passavam a agir em função das expectativas que as classificações geravam, e a criança era induzida a corresponder às expectativas, comportando-se de acordo com o novo papel imposto.
- Os testes sofreram também sérios questionamentos pela tendenciosidade que apresentavam, pois eram construídos em função de fatores valorizados pela sociedade, ou seja, fatores que os grupos dominantes apresentavam e que eram considerados como desejáveis. Falar bem, resolver problemas com facilidade, apresentar facilidade para aprender. [pg. 182]
A abordagem dinâmica
A abordagem clínica da personalidade, que questionou fundamentalmente a decomposição da totalidade humana em diversos aspectos ou fatores, introduziu, na Psicologia, uma nova forma de interpretar os dados obtidos por meio dos testes psicológicos.
“Os dados obtidos nos testes deixaram de ser considerados como medidas da inteligência. Passaram a ser vistos como medidas apenas de eficiência do sujeito e as alterações dessa eficiência encaradas como sintomas de perturbações globais e não como indicadores de potencial intelectual deficiente”4.
Assim, nesta abordagem, o termo inteligência é questionado, porque supõe uma existência distinta do organismo na sua totalidade. A inteligência existiria como algo, ou algum fator no indivíduo, que poderia ser medido e avaliado. Nesta abordagem dinâmica, a inteligência passa a ser um adjetivo — inteligente — que qualifica a produção cognitiva e intelectual do homem. Por isso, nesta abordagem, os dados obtidos nos testes não são medidas da inteligência, mas medidas da eficiência intelectual do indivíduo.
Cabe ressaltar ainda que os níveis baixos nos testes não implicam pouca inteligência, pois nesta abordagem o indivíduo é visto na sua globalidade. A criança que apresenta dificuldades de verbalizar, de resolver problemas, ou de aprender o que lhe é ensinado deve ser compreendida, não como uma criança deficiente intelectual ou pouco [pg. 183] inteligente, mas como uma criança que, provavelmente, vive, naquele momento, dificuldades psicológicas, conflitos relacionados ao seu desenvolvimento, sendo um de seus sintomas um rebaixamento da produção intelectual. Esta criança deve ser recuperada em todas as suas capacidades, na sua globalidade.
Os testes passam a ser instrumentos auxiliares na identificação de dificuldades, as quais são encaradas como sintomas de conflitos; tornam-se instrumentos para iniciar um trabalho de recuperação, e não instrumentos para finalizar um trabalho de classificação. Além disso, nesta abordagem, os testes tornam-se muitas vezes dispensáveis.
O estudo do comportamento intelectual ou cognitivo do indivíduo, ou outro qualquer, é feito em função de sua personalidade e de seu contexto social. O indivíduo faz parte de um meio, no qual age, manipula, transforma, desenvolvendo concomitantemente suas estruturas psíquicas.
A inteligência deixa de ser estudada como uma capacidade isolada, para ser pensada como capacidade cognitiva e intelectual que integra a globalidade humana. Assim, quando é enfocada uma produção intelectual do homem, esta é analisada nos seus componentes cognitivos, afetivos e sociais.
A inteligência nesta abordagem não tem lugar de destaque. A noção de unidade do organismo e totalidade de reações enfatizou a impossibilidade de se decompor a personalidade em funções isoladas.
A inteligência, compreendida como capacidade cognitiva ou intelectual, não pode ser estudada, analisada, nem compreendida, isolada da totalidade de aspectos, aptidões, capacidades do ser humano.
Todas as expressões do homem são carregadas de elementos psíquicos, decorrentes de sua capacidade cognitiva, afetiva, corporal. E os atos, que são adjetivados como inteligentes, não estão isentos de componentes afetivos, além dos cognitivos.
Nesta abordagem dinâmica, supõe-se que o indivíduo, quando está bem do ponto de vista da vida psíquica, conseguindo lidar adequadamente com seus conflitos, tem todas as condições para enfrentar o mundo, realizando atos “inteligentes”, ou seja, resolvendo adequadamente problemas que se apresentam, sendo criativo, verbalizando bem suas idéias etc.
E aqui é fácil dar um exemplo: quando você tem alguma preocupação ou algum conflito que toma grande parte de seu pensamento, você apresenta maior dificuldade para aprender um conteúdo novo ou resolver problemas ou, mesmo, para expressar seus pensamentos. [pg. 184]
“O homem não tem natureza, o homem tem história"
Com a afirmação acima, de Ortega y Gasset5, gostaríamos de enfatizar o aspecto histórico na determinação das capacidades intelectuais do homem. Foi o trabalho, a atividade, a ação do homem sobre o mundo real que possibilitou o surgimento da espécie humana como seres pensantes, como vimos no capítulo anterior; e foi também a ação sobre o mundo que possibilitou a gênese do pensamento em cada um de nós, no decorrer de nosso desenvolvimento. E, sem dúvida, o inverso também se deu. Ao transformar-se em ser pensante, o homem modificou sua forma de agir no mundo. Sua ação passou a ser uma ação consciente, seu trabalho proposital e não mais instintivo, como nos animais. Marx comparou, assim, o trabalho humano ao trabalho animal:
“Uma aranha desempenha operações que se parecem com a de um tecelão, e a abelha envergonha muito arquiteto na construção de seu cortiço. Mas o que distingue o pior dos arquitetos da melhor das abelhas é que o arquiteto figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo de trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira”6. [pg. 185]
Em cada indivíduo, o aspecto histórico deve estar sempre presente. Para compreendermos a expressão de um ser, seus comportamentos e dificuldades, devemos sempre inseri-lo em sua história pessoal, em sua história social.
Citamos então M. Mannoni: “Tanto o nível do Q.l. como a gravidade dos transtornos da atenção, as dificuldades no campo da abstração ou um transtorno escolar têm sentido somente no seio de uma história”7.

A Psicologia, no Brasil, é uma profissão reconhecida por lei, ou seja, a Lei 4.119, de 1962, reconhece a existência da Psicologia como profissão. São psicólogos, habilitados ao exercício profissional, aqueles que completam o curso de graduação em Psicologia e se registram no órgão profissional competente. O exercício da profissão, na forma como se apresenta na Lei 4.119, está relacionado ao uso (que é privativo dos psicólogos) de métodos e técnicas da Psicologia para fins de diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Mas essas são “formalidades da profissão” que você não precisa saber em profundidade. Aqui, nosso papo pode ser outro. Podemos refletir, a partir de questões formuladas por jovens que estão escolhendo seu futuro profissional, ou por estudantes que fazem a disciplina em cursos de 2o ou 3o graus, ou, ainda, pelos próprios alunos dos cursos de Psicologia. Então, vamos às questões: [pg. 150]
- O psicólogo adivinha o que os outros pensam?
- Quando fazemos um curso de Psicologia, passamos a nos conhecer melhor?
- Que diferença há entre a ajuda prestada por um psicólogo e um bom amigo?
- O que diferencia o trabalho do psiquiatra do trabalho do psicólogo? Qual a finalidade do trabalho do psicólogo?
- Quais as áreas e os locais em que o psicólogo atua?
- Há usos e também abusos da Psicologia. Certo?
Claro que não pretendemos esgotar todas as dúvidas sobre Psicologia existentes entre os estudantes. Mas acreditamos serem essas as mais freqüentes. Esperamos que as suas estejam dentre essas, pois gostaríamos muito de ajudá-lo a esclarecê-las. Então, vamos ao desafio das respostas.
Antes, porém, gostaríamos de alertá-lo de que as nossas respostas expressam posições pessoais dos autores. Por isso, sempre que você encontrar um psicólogo, não se acanhe e volte a levantar suas dúvidas.
O Psicólogo não adivinha nada
Psicólogo não tem bola de cristal nem é bruxo da sociedade contemporânea. Ele dispõe, apenas, de um conjunto de técnicas e de conhecimentos que lhe possibilitam compreender o que o outro diz, compreender as expressões e gestos que o outro faz, integrando tudo isso em um quadro de análise que busca descobrir as razões dos atos, dos pensamentos, dos desejos, das emoções. O psicólogo possui instrumentos teóricos para desvendar o que está implícito, encoberto, não-aparente e, nesse sentido, a pessoa, grupo ou instituição tem um papel fundamental, pois o psicólogo não pode ver nada na bola de cristal ou nas cartas. Para poder trabalhar, ele precisa que as pessoas falem de si, contem sua história, dialoguem, exponham suas reflexões. O psicólogo pode, junto com o paciente, desvendar razões e compreender dificuldades, caracterizando-se, assim, sua intervenção.
Poderíamos dizer, de uma forma talvez um pouco exagerada, que as pessoas sabem muito sobre si mesmas; no entanto, o psicólogo possui instrumentos adequados para auxiliar o indivíduo a compreender, organizar e aplicar esse saber, permitindo a sua transformação e a mudança da sua ação sobre o meio. [pg. 151]
A Psicologia ajuda as pessoas a se conhecerem melhor
A Psicologia, como ciência humana, permitiu-nos ter um conhecimento abrangente sobre o homem. Sabemos mais sobre suas emoções, seus sentimentos, seus comportamentos; sabemos sobre seu desenvolvimento e suas formas de aprender; conhecemos suas inquietações, vivências, angústias, alegrias. Apesar do grande desenvolvimento alcançado pela Psicologia, ainda há muito o que pesquisar sobre o psiquismo humano e, tentar conhecê-lo melhor, é sempre uma forma de tentar conhecer-se melhor. Mas é importante fazermos aqui alguns esclarecimentos sobre isso...
Os conhecimentos científicos, construídos pelo homem, estão todos voltados para ele. Mesmo aqueles que lhe parecem mais distantes foram construídos para permitir ao homem uma compreensão maior sobre o mundo que o cerca, e isso significa saber mais sobre si mesmo.
O que estamos querendo dividir com você é a idéia de que o aprendizado dos conhecimentos científicos possibilita sempre um melhor conhecimento sobre a vida humana. A Biologia, por exemplo, permite-nos um tipo de conhecimento sobre o homem: seu corpo, sua constituição e sua origem. A História possibilita-nos compreender o homem enquanto parte da humanidade, isto é, o homem que, no decorrer do tempo, foi construindo formas de vida e, portanto, formas de ser. A Economia abrange outro conhecimento sobre o homem, na medida em que nos ajuda a compreender as formas de construção da sobrevivência. Não há dúvida: todos os conhecimentos permitem um saber sobre o mundo e, portanto, aumentam seu conhecimento sobre você mesmo.
O Psicólogo é diferente de um bom amigo
O apoio de qualquer pessoa pode, sem dúvida alguma, ter uma função de ajuda para a superação de dificuldades — assim como fazer ginástica, ouvir música, dançar, tomar uma cervejinha no bar com os amigos. [pg. 152] No entanto, o psicólogo, em seu trabalho, utiliza o conhecimento científico na intervenção técnica. A Psicologia dispõe de técnicas e de instrumentos apropriados e cientificamente elaborados, que lhe possibilitam diagnosticar os problemas; possui, também, um modelo de interpretação e de intervenção.
A intervenção do psicólogo é intencional, planejada e feita com a utilização de conhecimentos específicos do campo da Ciência. Portanto, difere do amigo que não planeja sua intervenção, não usa conhecimentos específicos nem pretende diagnosticar ou intervir em algum aspecto percebido como crucial.
Mesmo quando os psicólogos não atuam para curar, mas para promover a saúde já existente, eles o fazem a partir de um planejamento e da perspectiva da Ciência.
Fazer ginástica pode ser algo muito prazeroso e pode também ajudá-lo a aliviar tensões e preocupações do seu dia-a-dia. Mas não é uma atividade psicoterapêutica porque não está sendo feita a partir de um planejamento terapêutico nem foi iniciada com um psicodiagnóstico. Claro que, se o psicólogo utilizar a ginástica como instrumento de intervenção psicoterapêutica, aí sim, a ginástica passa a fazer parte de uma atividade com essa finalidade.
Vale aqui lembrar que, se a ginástica for utilizada com outra finalidade terapêutica que não a de intervenção no processo psicológico do sujeito, ela deixa de ser psicoterapêutica e passa a ser, de acordo com a nova finalidade, fisioterapêutica, por exemplo.
No entanto, podemos não ser tão rigorosos e dizer que os homens construíram, ao longo de sua história, formas de ajudarem uns aos outros na busca de uma vida melhor e mais feliz. Amigos são, sem dúvida, uma “invenção” muito boa (já dizia o poema: “Amigo é coisa pra se guardar, do lado esquerdo do peito...”). As religiões e as ciências também são tentativas humanas de melhorar a vida. Não devemos, contudo, confundir estas tentativas com a atuação especializada do psicólogo.
O psicólogo é um profissional que desenvolve uma intervenção no processo psicológico do homem, uma intervenção que tem a finalidade de torná-lo saudável, isto é, capaz de enfrentar as dificuldades do cotidiano; e faz isso a partir de conhecimentos acumulados pelas pesquisas científicas na área da Psicologia. A Psicologia, em seu desenvolvimento histórico como ciência, criou teorias explicativas da realidade psicológica (por exemplo, a Psicanálise), ou descritivas do comportamento (por exemplo, o Behaviorismo), bem como métodos e técnicas próprias de investigação da vida psicológica e do comportamento humano. [pg. 153]
Hoje, a Psicologia possui instrumentos próprios para obter dados sobre a vida psíquica, como os testes psicológicos (de personalidade, de atenção, de inteligência, de interesses etc.); as técnicas de entrevista (individual ou grupal); as técnicas aprimoradas de observação e registro de dados do comportamento humano.
Os dados coletados por meio de testes, entrevistas ou observações devem ser compreendidos a partir de modelos psicológicos, isto é, cada teoria em Psicologia tem ou se constitui em um modelo de análise dos dados coletados. Por exemplo, numa abordagem psicanalítica, a análise dos sonhos poderá ser feita a partir da associação livre do paciente cora cada um dos elementos presentes no sonho que relata, e estes dados analisados a partir da teoria do aparelho psíquico postulada por Freud.
Com a coleta e análise dos dados, o psicólogo pensará sua intervenção, que pode ser uma terapia (existem inúmeras: a rogeriana, a psicanalítica, a comportamental, o psicodrama etc.), um treinamento, um trabalho de orientação de grupo ou qualquer outro tipo de intervenção individual, grupal ou institucional, no sentido da promoção da saúde.
Psicólogos e psiquiatras aproximam-se em suas práticas
A Psicologia e a Psiquiatria são áreas do saber fundadas em campos de preocupações diferentes. Desde Wundt, a Psicologia tem seu objeto de estudo marcado pela busca da compreensão do funcionamento da consciência, enquanto a Psiquiatria tem trabalhado para construir e catalogar um saber sobre a loucura, sobre a doença mental. Os conhecimentos alcançados pela Psicologia permitiram realçar a existência de uma “normalidade”, bem como compreender os processos e o funcionamento psicológicos, não assumindo compromisso com o patológico. A Psiquiatria, por sua vez, desenvolveu uma sistematização do conhecimento e, mais precisamente, dos aspectos e do funcionamento psicológicos que se desviavam de uma normalidade, sendo entendidos e significados socialmente como patológicos, como doenças. De certa forma, poderíamos dizer, correndo o risco de um certo exagero ou reducionismo, que, enquanto a Psiquiatria se constitui como um saber da doença mental ou psicológica, a Psicologia tornou-se um saber sobre o funcionamento mental ou psicológico.
O médico Sigmund Freud, com suas teorizações, foi responsável pela aproximação entre essas duas áreas por ter dado continuidade ao funcionamento normal e patológico. Freud postulou que o patológico [pg. 154] não era mais do que uma exacerbação do funcionamento normal, ou seja, uma exacerbação entre o que era normal e doentio no mundo psíquico, ocorrendo apenas uma diferença de grau. Com isso, as duas áreas estavam articuladas e as respectivas práticas se assemelharam e se aproximaram muito, a ponto de estarmos aqui ocupando este espaço para esclarecermos a você as diferenças entre elas.
Mas se Freud aproximou esses saberes em suas preocupações, a década de 50, no século 20, traria o desenvolvimento da psicofarmacologia, o qual foi responsável por uma retomada das bases biológicas e orgânicas da Psiquiatria, tributária dos métodos e das técnicas da Medicina. Assim, ocorreu um novo distanciamento entre a Psicologia e a Psiquiatria, sobretudo em relação aos métodos e técnicas de intervenção utilizados por estas duas especialidades profissionais. A Psicologia deu continuidade à expansão de seus conhecimentos por outros campos, sempre marcada pela busca da compreensão dos processos de funcionamento do mundo psicológico, dedicando-se a processos, como o da aprendizagem, o dos condicionamentos, o da relação entre os comportamentos e as relações sociais, ou entre os comportamentos e o meio ambiente, o do mundo afetivo, o das diversas possibilidades humanas; enfim, centrou-se nos variados aspectos que foram sendo apontados como constitutivos do mundo subjetivo, do mundo psicológico do homem.
As fronteiras entre a Psicologia e a Psiquiatria, excetuando-se as práticas profissionais farmacológicas, tendem a diminuir no campo profissional no que diz respeito às intervenções nos processos patológicos da subjetividade humana. Os afazeres desses profissionais realmente se aproximam muito. Os psiquiatras têm buscado muitos conhecimentos e técnicas na Psicologia, e os psicólogos têm se dedicado mais à compreensão das patologias para qualificar seus afazeres profissionais. Quando se toma, especificamente, a patologia, a loucura, a doença mental ou os distúrbios psicológicos como temas ou objetos de trabalho, os pontos de contato dessas áreas são muitos e o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar tem sido a meta de ambos os profissionais. Mas, se sairmos desse campo e entrarmos no campo da “normalidade”, da saúde, do desenvolvimento, os psicólogos aparecerão acompanhados de outros profissionais, como os assistentes sociais, os pedagogos, os administradores, os sociólogos, os antropólogos e outros mais. Neste campo, as possibilidades teóricas e técnicas da Psicologia são outras: intervenções nas relações sociais e nas relações institucionais; desenvolvimento de trabalhos em Educação e de programas de intervenção no trânsito, nos esportes, nas questões jurídicas, em projetos de urbanização, nas artes; enfim, a Psicologia pretende contribuir com a promoção da saúde. [pg. 155]
A finalidade do trabalho do Psicólogo
Uma das concepções que vêm ganhando espaço é a do psicólogo como profissional de saúde. Um profissional que, ao lado de muitos outros, aplica conhecimentos e técnicas da Psicologia para promover a saúde.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é o “estado de bem-estar físico, mental e social”. Ampliando um pouco essa concepção, ao falarmos de saúde, estamos fazendo referência a um conjunto de condições, criadas coletivamente, que permitem a continuidade da própria sociedade. Estamos falando, portanto, das condições (de alimentação, de educação, de lazer, de participação na vida social etc.) que permitem a um conjunto social produzir e reproduzir- se de modo saudável.
Nessa perspectiva, o psicólogo, como profissional de saúde, deve empregar seus conhecimentos de Psicologia na promoção de condições satisfatórias de vida, na sociedade em que vive e trabalha, isto é, em que está comprometido como cidadão e como profissional.
Assim, o psicólogo tem seu trabalho relacionado às condições gerais de vida de uma sociedade, embora atue enfocando a subjetividade dos indivíduos e/ou suas manifestações comportamentais. Pensar a saúde dos indivíduos significa pensar as condições objetivas e subjetivas de vida, de modo indissociado.
Reafirmamos que a profissão do psicólogo deve-se caracterizar pela aplicação dos conhecimentos e técnicas da Psicologia na promoção da saúde. Este trabalho pode estar sendo realizado nos mais diversos locais: consultórios, escolas, hospitais, creches e orfanatos, empresas e sindicatos de trabalhadores, bairros, presídios, instituições de reabilitação de deficientes físicos e mentais, ambulatórios, postos e centros de saúde e outros. [pg. 156]
Neste ponto, é importante lembrar que o compromisso do psicólogo com a promoção da saúde não o impedirá de intervir quando se defrontar com a doença e a necessidade da cura. Isto é, deparando-se com indivíduos que apresentem certa ordem de distúrbios e sofrimentos psíquicos, que necessitem de uma intervenção curativa, poderá buscar a cura através de terapias verbais ou corporais (o psicólogo não pode valer-se de medicamentos, pois esta é uma prática restrita aos médicos — no caso, os psiquiatras).
Assim, a prática do psicólogo como profissional de saúde irá caracterizar-se pela aplicação dos conhecimentos psicológicos no sentido de uma intervenção específica junto a indivíduos, grupos e instituições, com o objetivo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, grupal e institucional, numa postura de promoção da saúde.
Mas o que significa trabalhar para a promoção da saúde?
Mantendo o parâmetro colocado no trecho anterior, de que pensar a saúde dos indivíduos significa pensar as condições objetivas e subjetivas de vida, de modo indissociado, podemos especificar um pouco mais essa questão, quando nos referimos ao psicólogo ou à Psicologia.
A Psicologia tem, como objeto de estudo, o fenômeno psicológico, como já vimos no capítulo 1. Esse fenômeno se refere a processos internos ao indivíduo. E a subjetividade, o seu mundo interior, que é, como não podemos deixar de lembrar, construído no decorrer da vida, a partir das relações sociais com toda sua riqueza, com todas as suas possibilidades e limitações. Aqui vamos falar de saúde mental dos indivíduos, significando a possibilidade de o indivíduo pensar-se como ser histórico, perceber a construção da sua subjetividade ao longo de uma vida. Perceber a si próprio é, aqui, sinônimo de compreender-se como síntese de muitas determinações. [pg. 157] Ter e manter uma condição saudável do psiquismo é conseguir pensar-se como um indivíduo inserido em uma sociedade, numa teia de relações sociais, que é o espaço onde ele torna-se homem.
Assim, a saúde mental do indivíduo está diretamente ligada às condições materiais de vida, pois a miséria material caracterizada por fome, falta de habitação, desemprego, analfabetismo, altas taxas de mortalidade infantil torna-se, nessa visão, a condição que prejudica o desenvolvimento do indivíduo. Poderíamos usar a seguinte imagem para tornar mais claro nosso pensamento: como construir um mundo psíquico, se não há matéria-prima adequada? As construções serão frágeis. Retomando e sintetizando, o psicólogo trabalha para promover saúde, isto é, trabalha para que as pessoas desenvolvam uma compreensão cada vez maior de sua inserção nas relações sociais e de sua constituição histórica e social enquanto ser humano. Quanto mais clareza se tiver sobre isso, maiores serão as possibilidades de o indivíduo lidar com a situação cotidiana que o envolve, decidindo o que fazer, projetando intervenções para alterar a realidade, compreendendo as relações que vive e, portanto, compreendendo a si mesmo e aos outros.
As áreas de atuação do psicólogo
Colocada a finalidade do trabalho do psicólogo, podemos agora falar das áreas e locais nos quais ele trabalha.
Nos consultórios, nas clínicas psicológicas, hospitais, ambulatórios e centros de saúde, para citar apenas algumas instituições de saúde, os psicólogos estarão atuando para promover saúde. Nesses locais, a doença poderá estar presente, merecendo intervenções terapêuticas. Aí o psicólogo precisará do conhecimento da Psicologia para fazer um diagnóstico, intervir e avaliar. A atuação do psicólogo nesse campo é
muito conhecida; conhecemos muitas de suas técnicas, como testes, entrevistas e terapias. Esse tipo de atuação aparece nas novelas, nos filmes e nos livros. As pessoas comumente se referem a esse psicólogo como “o terapeuta”.
Na escola ou nas instituições educacionais (creches, orfanatos etc.), o processo pedagógico vai se colocar como realidade principal. Todo o trabalho do psicólogo estará em função deste processo e para ele direcionado. E isso irá obrigá-lo a escolher técnicas em Psicologia que se adaptem aos limites que sua intervenção terá, dada a realidade educacional. Estará sendo psicólogo porque estará utilizando o conhecimento da ciência psicológica para compreender e intervir, só que, neste caso, com o objetivo de promover saúde num espaço que é educacional. [pg. 158]
Na empresa ou indústria, as relações de trabalho e o processo produtivo vão ser colocados como realidade principal do psicólogo. Portanto, os conhecimentos, as técnicas que utilizará estarão em função da realidade e das exigências que elas colocam para o profissional. A promoção da saúde naquele espaço de trabalho é seu objetivo maior.
Sempre que falamos nessa área, citamos as empresas e indústrias, isto porque são as organizações mais conhecidas do trabalho dos psicólogos. Mas, na verdade, sempre que estivermos pensando em promover saúde a partir da intervenção nas relações de trabalho, estaremos dentro desse campo. Hoje já existem psicólogos que fazem trabalhos junto a sindicatos, centrais sindicais, centros de referência dos trabalhadores, núcleos de pesquisa do trabalho etc. São psicólogos que têm como realidade principal de intervenção o processo de trabalho ou as relações de trabalho. Se pensarmos assim, esse profissional poderá estar atuando num hospital ou numa escola, desde que sua intervenção se dê no processo de trabalho, e não no processo de tratamento da saúde ou no processo educacional.
Estamos querendo dizer, com isso, que não há uma Psicologia Clínica, outra Escolar, e ainda outra Organizacional, mas há a Psicologia, como corpo de conhecimento científico, que é aplicada a processos individuais ou a relações entre pessoas, nas escolas, nas indústrias e nas clínicas, assim como em hospitais, presídios, orfanatos, ambulatórios, centros de saúde etc. Claro que não podemos negar que, na medida em que os psicólogos iniciam suas atuações nesses campos, passam a desenvolver discussões e reflexões que especificam uma intervenção. Isso pode levar, tem levado e é desejável que leve à construção de conhecimentos específicos de cada campo: sua clientela, seus processos, sua problemática, criando assim, como áreas de conhecimento dentro da Psicologia, a Psicologia Educacional, com todos os seus ramos: aprendizagem, alfabetização, relação professor-aluno, análise institucional do espaço escolar, fracasso escolar, educação de deficientes etc. a Psicologia Clínica, cora todo seu conhecimento sobre populações específicas, como a Psicologia da gravidez e do puerpério, a Psicologia da terceira idade etc. seus conhecimentos sobre os estados psíquicos alterados, sobre a angústia, a ansiedade, o luto, suicídio etc. E a Psicologia do Trabalho, também com seus conhecimentos: o stress, conseqüências psíquicas do trabalho, a saúde do trabalhador, as técnicas de seleção, treinamento, avaliação de desempenho etc. [pg. 159]
Há, ainda, a possibilidade de o psicólogo se dedicar ao magistério de ensino superior e à pesquisa. Esses profissionais estão mais ligados à Ciência Psicológica enquanto corpo de conhecimentos, produzindo-os ou transmitindo-os. Essas são consideradas atuações de base na profissão, pois, para atuar, os psicólogos dependem da produção do conhecimento e da formação de profissionais. E também ao magistério do ensino profissional (antigo ensino técnico), como pode ser o caso de seu professor. Esse profissional trabalha no sentido de contribuir com a formação dos jovens, dando-lhes mais uma possibilidade de enriquecer a leitura e compreensão que têm do mundo.
Devido aos conhecimentos que possui sobre o psiquismo humano, o psicólogo tem sido requisitado também para o trabalho nas áreas de publicidade — na produção de imagens (de políticos, por exemplo); Marketing, pesquisas de mercado etc. Ele está conquistando espaços na área esportiva, junto à Justiça, nos presídios e nas instituições chamadas de reeducação ou reabilitação. Pode-se citar, também, uma área menos acessível para o psicólogo, mas na qual sua contribuição tem sido prestimosa, que é a de planejamento urbano.
Fica claro, portanto, que a Psicologia possui um conhecimento importante para a compreensão da realidade e por isso é utilizada, pelos psicólogos ou por outros profissionais, em vários locais de trabalho, em vários campos. Mas os psicólogos também precisam dos conhecimentos de outras áreas da ciência para construir uma visão mais globalizante do fenômeno estudado. Na Educação, por exemplo, o psicólogo tem necessidade dos conhecimentos da Pedagogia, da Sociologia e da Filosofia.
Na maioria dos locais de trabalho, os psicólogos não estão sozinhos. Nesses locais, o profissional necessita compor-se em equipes multidisciplinares, onde cada um, com seu conhecimento específico, procura integrar suas análises e ter, assim, uma compreensão globalizante do fenômeno estudado e uma prática integrada.
Usos e abusos da Psicologia
A Psicologia, além de usada pelos psicólogos, tem sido também “abusada” por eles. O sentido do abuso, ou melhor, o critério do abuso da Psicologia pode ser dado pelo fato de não estar sendo usado o conhecimento para a promoção da saúde da coletividade. Não gostaríamos aqui de apontar locais ou processos onde esse fato estaria ocorrendo, pois ele poderá acontecer em qualquer prática de qualquer psicólogo — na clínica, na escola, no hospital psiquiátrico ou na empresa. No entanto, um deles não deve deixar [pg. 160] de ser citado: a utilização da Psicologia para práticas repressivas, que podem existir nas escolas, presídios, instituições educacionais e/ou de reabilitação, hospitais psiquiátricos etc.
Isto se torna possível porque o conhecimento da Psicologia, ao permitir que saibamos promover a saúde mental, permite também que saibamos promover a loucura, o medo, a insegurança, com o objetivo de coagir o indivíduo.

As tendências teóricas apresentadas nos capítulos 3, 4 e 5 — Behaviorismo, Gestalt e Psicanálise, respectivamente — constituíram-se em matrizes do desenvolvimento da ciência psicológica, propiciando o surgimento de inúmeras abordagens da Psicologia contemporânea. Do Behaviorismo, por exemplo, surgiram as abordagens do Behaviorismo Radical (B. F. Skinner) e do Behaviorismo Cognitivista (A. Bandura e, atualmente, K. Hawton e A. Beck). A Gestalt (do ponto de vista de uma teoria com bases psicofisiológicas) praticamente desapareceu. No entanto, a tradição filosófica que a fundamenta — a Fenomenologia — avançou por um caminho diferente, buscando a compreensão do ser no mundo e, de certa maneira, associou-se ao campo da Psicologia Existencialista. Hoje, essa vertente da Psicologia discute as bases da consciência através dos ensinamentos de Jean Paul Sartre. Outra vertente da Fenomenologia faz essa discussão através do Existencialismo de Martin Heiddeger, desenvolvendo uma profícua corrente denominada Dasein Análise, que tem no psiquiatra suíço Medard Boss, uma das figuras mais destacadas. Outra corrente derivada da Gestalt e que segue um caminho diferente do traçado pela Fenomenologia, é a da Gestalt Terapia. Fundada por Pearls, esta corrente trabalha [pg. 85] os níveis da conscientização humana com a consciência corporal, nossa consciência do “aqui e agora” etc.
Da Psicanálise originaram-se inúmeras abordagens, como a Psicologia Analítica (Carl G. Jung) e a Reichiana (W. Reich) — dissidências que construíram corpos próprios de conhecimento; ou a Psicanálise Kleiniana (Melanie Klein) e a Lacaniana (J. Lacan), que deram continuidade à teoria freudiana.
Como você pôde perceber, a Psicologia não ficou estagnada no tempo. Pelo contrário: desenvolveu-se e, ao desenvolver-se, construiu abordagens que deram prosseguimento às já existentes, retomando conhecimentos antigos e superando-os. Enfim, a Psicologia é uma ciência em constante processo de construção.
Neste capítulo, abordaremos uma vertente teórica que surgiu no início do século 20 e ficou restrita ao Leste europeu até os anos 60, quando explodiria na Europa e nos Estados Unidos como uma nova possibilidade teórica. Estamos falando da Psicologia Sócio-Histórica, que chegou ao Brasil nos anos 80 através da Psicologia Social e da Psicologia da Educação, ganhando rapidamente importância e espaço no meio acadêmico.
VIgotski e a Psicologia Sócio-Histórica
A Psicologia, como você já deve ter percebido, está em permanente movimento, isto é, novas abordagens vão se constituindo, gerando uma permanente transformação teórica.
Escolhemos apresentar-lhe uma vertente teórica que nasceu na ex-União Soviética, embalada pela Revolução de 1917 e pela teoria marxista. No Ocidente, a teoria Sócio-Histórica ganharia importância nos anos 70, tornando-se referência para a Psicologia do Desenvolvimento, a Psicologia Social e para a Educação.
Tendo como referência esta nova abordagem teórica formulada por Vigotski, buscava-se construir uma Psicologia que superasse as tradições positivistas e estudasse o homem e seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade. Para Vigotski, o mundo psíquico que temos hoje não foi nem será sempre assim, pois sua caracterização está diretamente ligada ao mundo material e às formas de vida que os homens vão construindo no decorrer da história da humanidade. [pg. 86]
Princípios da teoria
Vigotski morreu muito cedo e não pôde completar sua obra, mas deixou alguns princípios aos seus seguidores:
- A compreensão das funções superiores do homem não pode ser alcançada pela psicologia animal, pois os animais não têm vida social e cultural.
- As funções superiores do homem não podem ser vistas apenas como resultado da maturação de um organismo que já possui, em potencial, tais capacidades.
- A linguagem e o pensamento humano têm origem social. A cultura faz parte do desenvolvimento humano e deve ser integrada ao estudo e à explicação das funções superiores.
- A consciência e o comportamento são aspectos integrados de uma unidade, não podendo ser isolados pela Psicologia.
Vigotski desenvolveu, também, uma estrutura teórica marxista para a Psicologia:
- Todos os fenômenos devem ser estudados como processos em permanente movimento e transformação.
- O homem constitui-se e se transforma ao atuar sobre a natureza com sua atividade e seus instrumentos.
- Não se pode construir qualquer conhecimento a partir do aparente, pois não se captam as determinações que são constitutivas do objeto. Ao contrário, é preciso rastrear a evolução dos fenômenos, pois estão em sua gênese e em seu movimento as explicações para sua aparência atual.
- A mudança individual tem sua raiz nas condições sociais de vida. Assim, não é a consciência do homem que determina as formas de vida, mas é a vida que se tem que determina a consciência.
O desafio de Vigotski foi assumido por outros teóricos, entre eles Luria e Leontiev, seus parceiros de trabalho. Sua obra ficou, por muitos anos, restrita à ex-União Soviética. Hoje, na Europa, nos Estados Unidos e em países do Terceiro Mundo, como o Brasil, Vigotski vem sendo estudado e utilizado, principalmente, nas áreas de Psicologia da Educação e Psicologia Social. No Brasil, essas duas áreas foram influenciadas pela obra de Vigotski na década de 80 — na Educação, através das teorias construtivistas da aprendizagem, principalmente a partir da influência de Emília Ferreiro; na Psicologia Social, pela atuação da professora Silvia Lane, que contribuiu significativamente para a construção de uma Psicologia Social crítica, permitindo que, ao se pensar o psiquismo humano, se falasse das condições sociais que são constitutivas deste mundo psicológico. [pg. 87]
Hoje, Vigotski é um autor conhecido e seu pensamento é fundamento da corrente denominada Psicologia Sócio-Histórica ou Psicologia de Orientação Sócio-Cultural.
As noções básicas da Psicologia Sócio-Histórica no Brasil
A Psicologia Sócio-Histórica, no Brasil, tem se constituído, fundamentalmente, pela crítica à visão liberal de homem, na qual encontramos idéias como:
- O homem visto como ser autônomo, responsável pelo seu próprio processo de individuação.
- Uma relação de antagonismo entre o homem e a sociedade, em que esta faz eterna oposição aos anseios que seriam naturais do homem. • Uma visão de fenômeno psicológico, na qual este é tomado como uma entidade abstrata que tem, por natureza, características positivas que só não se manifestam se sofrerem impedimentos do mundo material e social. O fenômeno psicológico, visto como enclausurado no homem, é concebido como um verdadeiro eu.
A Psicologia Sócio-Histórica entende que essas concepções liberais construíram uma ciência na qual o mundo psicológico foi completamente deslocado do campo social e material. Esse mundo psicológico passou, então, a ser definido de maneira abstrata, como algo que já estivesse dentro do homem, pronto para se desenvolver — semelhante à semente que germina. Esta visão liberal naturalizou o mundo psicológico, abolindo, da Psicologia, as reflexões sobre o mundo social.
No Brasil, os teóricos da Psicologia Sócio-Histórica buscam construir uma concepção alternativa à liberal. Retomaremos um pouco essas reflexões a partir de algumas idéias fundamentais.
Não existe natureza humana.
Não existe uma essência eterna e universal do homem, que no decorrer de sua vida se atualiza, gerando suas pontencialidades e faculdades. Tal idéia de natureza humana tem sido utilizada como fundamento da maioria das correntes psicológicas e faz, na verdade, um trabalho de ocultamente das condições sociais, que são determinantes das individualidades. [pg. 88] Esta idéia está ligada à visão de indivíduo autônomo, que também não é aceita na Psicologia Sócio-Histórica. O indivíduo é construído ao longo de sua vida a partir de sua intervenção no meio (sua atividade instrumental) e da relação com os outros homens. Somos únicos, mas não autônomos no sentido de termos um desenvolvimento independente ou já previsto pela semente de homem que carregamos.
Existe a condição humana.
A concepção de homem da Psicologia Sócio-Histórica pode ser assim sintetizada: o homem é um ser ativo, social e histórico. É essa sua condição humana. O homem constrói sua existência a partir de uma ação sobre a realidade, que tem, por objetivo, satisfazer suas necessidades. Mas essa ação e essas necessidades têm uma característica fundamental: são sociais e produzidas historicamente em sociedade. As necessidades básicas do homem não são apenas biológicas; elas, ao surgirem, são imediatamente socializadas. Por exemplo, os hábitos alimentares e o comportamento sexual do homem são formas sociais e não naturais de satisfazer necessidades biológicas.
Através da atividade, o homem produz o necessário para satisfazer essas necessidades. A atividade de cada indivíduo, ou seja, sua ação particular, é determinada e definida pela forma como a sociedade se organiza para o trabalho. Entendido como a transformação da natureza para a produção da existência humana, o trabalho só é possível em sociedade. E um processo pelo qual o homem estabelece, ao mesmo tempo, relação com a natureza e com os outros homens; essas relações determinam-se reciprocamente. Portanto, o [pg. 89] trabalho só pode ser entendido dentro de relações sociais determinadas. São essas relações que definem o lugar de cada indivíduo e a sua atividade. Por isso, quando se diz que o homem é um ser ativo, diz-se, ao mesmo tempo, que ele é um ser social.
A ação do homem sobre a realidade que, obrigatoriamente, ocorre em sociedade, é um processo histórico. E uma ação de transformação da natureza que leva à transformação do próprio homem. Quando produz os bens necessários à satisfação de suas necessidades, o homem estabelece novos parâmetros na sua relação com a natureza, o que gera novas necessidades, que também, por sua vez, deverão ser satisfeitas. As relações sociais, nas quais ocorre esse processo, modificam-se à medida que se desenvolvem as necessidades humanas e a produção que visa satisfazê-las. É um processo de transformação constante das necessidades e da atividade dos homens e das relações que estes estabelecem entre si para a produção de sua existência. Esse movimento tem por base a contradição: o desenvolvimento das necessidades humanas e das formas de satisfazê-las, ao mesmo tempo em que só são possíveis diante de determinadas relações sociais, provocam a necessidade transformação mesmas de dessas relações e condicionam o aparecimento de novas relações sociais. Esse processo histórico é construído pelo homem e é esse processo histórico que constrói o homem. Assim, o homem é um ser ativo, social e histórico.
O homem é criado pelo homem. Não há uma natureza humana pronta, nem mesmo aptidões prontas. A “aptidão” do homem está, justamente, no fato de poder desenvolver várias aptidões. Esse desenvolvimento se dá na relação com os outros homens através do contato com a cultura já constituída e das atividades que realiza neste meio.
Os objetos produzidos pelos homens materializam a história e cristalizam as “aptidões” desenvolvidas pelas gerações anteriores. Quando os manuseia e deles se apropria, o homem desenvolve atividades que reproduzem os traços essenciais das atividades acumuladas e cristalizadas nos objetos. A criança que aprende a manusear um lápis, está de alguma forma submetida à forma, à consistência, [pg. 90] às possibilidades e aos limites do lápis. Isso envolve não apenas uma questão “física”, material, mas, necessariamente, uma condição social e histórica do uso e significado do lápis. As habilidades humanas, que utilizam o lápis como seu instrumento, estão cristalizadas na forma, na consistência e nas possibilidades do lápis, bem como nos seus limites e significados. Nas relações com os outros homens ocorre a “descristalização” destas possibilidades — a “mágica” acontece — e, do lápis, o pequeno homem retira suas habilidades de rabiscar, escrever e desenhar, colocando-se, assim, no “patamar” da história, tornando-se capaz de recuperá-la e transformá-la. Portanto, é do instrumento e das relações sociais, nas quais esse instrumento é utilizado, que o homem retira suas possibilidades humanas.
Esse processo acontece com todas as suas aptidões. O homem, ao nascer, é candidato à humanidade e a adquire no processo de apropriação do mundo. Nesse processo, converte o mundo externo em um mundo interno e desenvolve, de forma singular, sua individualidade. Assim, através da mediação das relações sociais e das atividades que desenvolve, o homem se individualiza, torna-se homem, desenvolve suas possibilidades e significa seu mundo.
A linguagem é instrumento fundamental nesse processo e, como instrumento, também é produzida social e historicamente, e dela também o homem deve se apropriar.
A linguagem materializa e dá forma a uma das aptidões humanas: a capacidade de representar a realidade. Juntamente com a atividade, o homem desenvolve o pensamento. Através da linguagem, o pensamento objetiva-se, permitindo a comunicação das significações e o seu desenvolvimento.
Mas o pensamento humano, historicamente transforma-se em algo mais complexo, justamente por representar, cada vez melhor, a complexidade da vida humana em sociedade. Transforma-se em consciência. A linguagem é instrumento essencial na construção da consciência, na construção de um mundo interno, psicológico. Permite a representação não só da realidade imediata, mas das mediações que ocorrem na relação do homem com essa realidade. Assim, a linguagem apreende e materializa o mundo de significações, que é construído no processo social e histórico.
Quando se apropria da linguagem enquanto instrumento, o indivíduo tem acesso a um mundo de significações historicamente produzido. Além disso, a linguagem também é instrumento de mediação na apropriação de outros instrumentos. Por isso, quando se torna indivíduo — o que só ocorre socialmente — o homem apropria-se de todos os significados sociais. Mas, por ser ativo, também atribui significados, ou seja, apropria-se da história, apreende o [pg. 91] mundo, atribuindo-lhe um sentido pessoal construído a partir de sua atividade, de suas relações e dos significados aprendidos. Esse processo de apropriação do mundo social permite o desenvolvimento da consciência no homem.
O homem concreto é objeto de estudo da Psicologia.
A Psicologia deve buscar compreender o indivíduo como ser determinado histórica e socialmente. Esse indivíduo jamais poderá ser compreendido senão por suas relações e vínculos sociais, pela sua inserção em uma determinada sociedade, em um momento histórico específico.
O homem existe, age e pensa de certa maneira porque existe em um dado momento e local, vivendo determinadas relações.
A consciência humana revela as determinações sociais e históricas do homem — não diretamente, de maneira imediata, porque não é assim, mecanicamente, que se processa a consciência. As mediações devem ser desvendadas, pois passam pelas formas de atividade e relações sociais, pelos significados atribuídos nesse processo a toda realidade na qual vivem os homens. É necessário conhecer além da aparência, buscando a essência deste processo, que revela o movimento de transformação constante a partir da contradição, entendida como princípio fundamental do movimento da realidade.
Assim, para conhecer o homem é preciso situá-lo em um momento histórico, identificar as determinações e desvendá-las. Para entender o movimento contraditório da totalidade na qual se encontram os indivíduos, deve-se partir do geral para o particular — para o processo individual de relação entre atividade e consciência. É necessário perceber o singular e seu movimento como parte do movimento geral e, ao revelar essas mediações, compreender não só o geral, mas o particular. É dessa forma que o indivíduo deve ser entendido pela Psicologia fundamentada no materialismo histórico e dialético.
Subjetividade social e subjetividade individual.
Nesta teoria, os fenômenos sociais não são externos aos indivíduos nem são fenômenos que acontecem na sociedade e pouco têm que ver com cada um de nós. Os fenômenos sociais estão, de forma simultânea, dentro e fora dos indivíduos, isto é, estão na subjetividade individual e na subjetividade social.
A subjetividade deve ser compreendida como “um sistema integrador do interno e do externo, tanto em sua dimensão social, como individual, que por sua gênese é também social... A subjetividade não é interna nem externa: ela supõe outra representação teórica na qual o interno e o externo deixam de ser dimensões excludentes [pg. 92] e se convertem em dimensões constitutivas de uma nova qualidade do ser: o subjetivo. Como dimensões da subjetividade ambos (o interno e o externo) se integram e desintegram de múltiplas formas no curso de seu desenvolvimento, no processo dentro do qual o que era interno pode converter-se em externo e vice-versa”.
A subjetividade individual representa a constituição da história de relações sociais do sujeito concreto dentro de um sistema individual. O indivíduo, ao viver relações sociais determinadas e experiências determinadas em uma cultura que tem idéias e valores próprios, vai se constituindo, ou seja, vai construindo sentido para as experiências que vivencia. Este espaço pessoal dos sentidos que atribuímos ao mundo se configura como a subjetividade individual. A subjetividade social é exatamente a aresta subjetiva da constituição da sociedade. Refere-se “ao sistema integral de configurações subjetivas (grupais ou individuais), que se articulam nos distintos níveis da vida social...” Assim, para a Psicologia Sócio-Histórica, não há como se saber de um indivíduo sem que se conheça seu mundo. Para compreender o que cada um de nós sente e pensa, e como cada um de nós age, é preciso conhecer o mundo social no qual estamos imersos e do qual somos construtores; é preciso investigar os valores sociais, as formas de relação e de produção da sobrevivência de nosso mundo, e as formas de ser de nosso tempo.
Para facilitar a compreensão dessas noções básicas da Psicologia Sócio-Histórica, sugerimos-lhe que reflita sobre o que sente, pensa e como age, identificando em seu mundo social os espaços nos quais estas formas se configuram, pois, com certeza, é nelas que você busca a matéria-prima para construir sua forma particular de ser. Mesmo sem perceber, você as reforça ou reconstrói diariamente, atuando para que elas se mantenham. Há um movimento constante que vai de você para o mundo social e que lhe vem deste mesmo mundo. O instrumento básico para esta relação é a linguagem. Para a teoria Sócio-Histórica, os fenômenos do mundo psíquico não são naturais do mundo psíquico, mas fenômenos que vão se constituindo conforme o homem atua no mundo e se relaciona com os outros homens. O mundo social deixa de ser visto como um espaço de oposição a nossas vontades e impulsos, passando a ser visto como o lugar no qual nosso mundo psicológico se constitui. [pg. 93]

SIGMUND FREUD - As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram, radicalmente, o desenvolvimento do conhecimento. - Sigmund Freud (1856-1939) foi um médico vienense que alterou, radicalmente, o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável à de Karl Marx na compreensão dos processos históricos e sociais. Freud ousou colocar os “processos misteriosos” do psiquismo, suas “regiões obscuras”, isto é, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem, como problemas científicos. A investigação sistemática desses problemas levou Freud à criação da Psicanálise1.
O termo psicanálise é usado para se referir a uma teoria, a um método de investigação e a uma prática profissional. Enquanto teoria caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. Freud publicou uma extensa obra, durante toda a sua vida, relatando suas descobertas e formulando leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana. A Psicanálise, enquanto método de investigação, caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as associações livres, os atos falhos. A prática profissional refere-se à forma de tratamento — a Análise — que busca o autoconhecimento ou a [pg. 70] cura, que ocorre através desse autoconhecimento. Atualmente, o exercício da Psicanálise ocorre de muitas outras formas. Ou seja, é usada como base para psicoterapias, aconselhamento, orientação; é aplicada no trabalho com grupos, instituições. A Psicanálise também é um instrumento importante para a análise e compreensão de fenômenos sociais relevantes: as novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a exacerbação da violência etc.
Compreender a Psicanálise significa percorrer novamente o trajeto pessoal de Freud, desde a origem dessa ciência e durante grande parte de seu desenvolvimento. A relação entre autor e obra torna-se mais significativa quando descobrimos que grande parte de sua produção foi baseada em experiências pessoais, transcritas com rigor em várias de suas obras, como A interpretação dos sonhos e A psicopatologia da vida cotidiana, dentre outras.
Compreender a Psicanálise significa, também, percorrer, no nível pessoal, a experiência inaugural de Freud e buscar “descobrir” as regiões obscuras da vida psíquica, vencendo as resistências interiores, pois se ela foi realizada por Freud, “não é uma aquisição definitiva da humanidade, mas tem que ser realizada de novo por cada paciente e por cada psicanalista”2.
A Gestação da Psicanálise
Freud formou-se em Medicina na Universidade de Viena, em 1881, e especializou-se em Psiquiatria. Trabalhou algum tempo em um laboratório de Fisiologia e deu aulas de Neuropatologia no instituto onde trabalhava. Por dificuldades financeiras, não pôde dedicar-se integralmente à vida acadêmica e de pesquisador. Começou, então, a clinicar, atendendo pessoas acometidas de “problemas nervosos”. Obteve, ao final da residência médica, uma bolsa de estudo para Paris, onde trabalhou com Jean Charcot, psiquiatra francês que tratava as histerias com hipnose. Em 1886, retornou a [pg. 71] Viena e voltou a clinicar, e seu principal instrumento de trabalho na eliminação dos sintomas dos distúrbios nervosos passou a ser a sugestão hipnótica3.
Em Viena, o contato de Freud com Josef Breuer, médico e cientista, também foi importante para a continuidade das investigações. Nesse sentido, o caso de uma paciente de Breuer foi significativo. Ana O. apresentava um conjunto de sintomas que a fazia sofrer: paralisia com contratura muscular, inibições e dificuldades de pensamento. Esses sintomas tiveram origem na época em que ela cuidara do pai enfermo. No período em que cumprira essa tarefa, ela havia tido pensamentos e afetos que se referiam a um desejo de que o pai morresse. Estas idéias e sentimentos foram reprimidos e substituídos pelos sintomas.
Em seu estado de vigília, Ana O. não era capaz de indicar a origem de seus sintomas, mas, sob o efeito da hipnose, relatava a origem de cada um deles, que estavam ligados a vivências anteriores da paciente, relacionadas com o episódio da doença do pai. Com a rememoração destas cenas e vivências, os sintomas desapareciam. Este desaparecimento não ocorria de forma “mágica”, mas devido à liberação das reações emotivas associadas ao evento traumático — a doença do pai, o desejo inconsciente da morte do pai enfermo.
Breuer denominou método catártico o tratamento que possibilita a liberação de afetos e emoções ligadas a acontecimentos traumáticos que não puderam ser expressos na ocasião da vivência desagradável ou dolorosa. Esta liberação de afetos leva à eliminação dos sintomas.
Freud, em sua Autobiografia, afirma que desde o início de sua prática médica usara a hipnose, não só com objetivos de sugestão, mas também para obter a história da origem dos sintomas. Posteriormente, passou a utilizar o método catártico e, “aos poucos, foi modificando a técnica de Breuer: abandonou a hipnose, porque nem todos os pacientes se prestavam a ser hipnotizados; desenvolveu a técnica de ‘concentração’, na qual a rememoração sistemática era feita por meio da conversação normal; e por fim, acatando a sugestão (de uma jovem) anônima, abandonou as perguntas ‘— e com elas a direção da sessão — para se confiar por completo à fala desordenada do paciente”4. [pg. 72]
A descoberta do inconsciente
“Qual poderia ser a causa de os pacientes esquecerem tantos fatos de sua vida interior e exterior...?”5, perguntava-se Freud.
O esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo, e era exatamente por isso que havia sido esquecido e o penoso não significava, necessariamente, sempre algo ruim, mas podia se referir a algo bom que se perdera ou que fora intensamente desejado. Quando Freud abandonou as perguntas no trabalho terapêutico com os pacientes e os deixou dar livre curso às suas idéias, observou que, muitas vezes, eles ficavam embaraçados, envergonhados com algumas idéias ou imagens que lhes ocorriam. A esta força psíquica que se opunha a tornar consciente, a revelar um pensamento, Freud denominou resistência. E chamou de repressão o processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência, uma idéia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Estes conteúdos psíquicos “localizam-se” no inconsciente.
Tais descobertas
“(...) constituíram a base principal da compreensão das neuroses e impuseram uma modificação do trabalho terapêutico. Seu objetivo (...) era descobrir as repressões e suprimi-las através de um juízo que aceitasse ou condenasse definitivamente o excluído pela repressão. Considerando este novo estado de coisas, dei ao método de investigação e cura resultante o nome de psicanálise em substituição ao de catártico”6.
A primeira teoria sobre a estrutura do aparelho psíquico
Em 1900, no livro A interpretação dos sonhos, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento da personalidade. Essa teoria refere-se à existência de três sistemas ou instâncias psíquicas: inconsciente, pré-consciente e consciente.
- O inconsciente exprime o “conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da consciência”7. É constituído por conteúdos reprimidos, que não têm acesso aos sistemas pré-consciente/consciente, pela ação de censuras internas. Estes conteúdos [pg. 73] podem ter sido conscientes, em algum momento, e ter sido reprimidos, isto é, “foram” para o inconsciente, ou podem ser genuinamente inconscientes. O inconsciente é um sistema do aparelho psíquico regido por leis próprias de funcionamento. Por exemplo, é atemporal, não existem as noções de passado e presente;
- O pré-consciente refere-se ao sistema onde permanecem aqueles conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência, neste momento, e no momento seguinte pode estar;
- O consciente é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Na consciência, destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior, a atenção, o raciocínio.
A descoberta da sexualidade infantil
Freud, em suas investigações na prática clínica sobre as causas e o funcionamento das neuroses, descobriu que a maioria de pensamentos e desejos reprimidos referiam-se a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos, isto é, que na vida infantil estavam as experiências de caráter traumático, reprimidas, que se configuravam como origem dos sintomas atuais, e confirmava-se, desta forma, que as ocorrências deste período da vida deixam marcas profundas na estruturação da pessoa. As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psíquica, e é postulada a existência da sexualidade infantil. Estas afirmações tiveram profundas repercussões na sociedade puritana da época, pela concepção vigente da infância como “inocente”.
Os principais aspectos destas descobertas são:
- A função sexual existe desde o princípio da vida, logo após o nascimento, e não só a partir da puberdade como afirmavam as idéias dominantes;
- O período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo até chegar à sexualidade adulta, onde as funções de reprodução e de obtenção do prazer podem estar associadas, tanto no homem como na mulher. Esta afirmação contrariava as idéias predominantes de que o sexo estava associado, exclusivamente, à reprodução;
- A libido, nas palavras de Freud, é “a energia dos instintos sexuais e só deles”8. [pg. 74]
No processo de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo, nos primeiros tempos de vida, tem a função sexual ligada à sobrevivência, e, portanto, o prazer é encontrado no próprio corpo. O corpo é erotizado, isto é, as excitações sexuais estão localizadas em partes do corpo, e há um desenvolvimento progressivo que levou Freud a postular as fases do desenvolvimento sexual em: fase oral (a zona de erotização é a boca), fase anal (a zona de erotização é o ânus), fase fálica (a zona de erotização é o órgão sexual); em seguida vem um período de latência, que se prolonga até a puberdade e se caracteriza por uma diminuição das atividades sexuais, isto é, há um “intervalo” na evolução da sexualidade. E, finalmente, na puberdade é atingida a última fase, isto é, a fase genital, quando o objeto de erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas era um objeto externo ao indivíduo — o outro. Alguns autores denominam este período exclusivamente como genital, incluindo o período fálico nas organizações pré-genitais, enquanto outros autores denominam o período fálico de organização genital infantil.
No decorrer dessas fases, vários processos e ocorrências sucedem-se. Desses eventos, destaca-se o complexo de Édipo, pois é em torno dele que ocorre a estruturação da personalidade do indivíduo. Acontece entre 3 e 5 anos, durante a fase fálica. No complexo de Édipo, a mãe é o objeto de desejo do menino, e o pai é o rival que impede seu acesso ao objeto desejado. Ele procura então ser o pai para “ter” a mãe, escolhendo-o como modelo de comportamento, passando a internalizar as regras e as normas sociais representadas e impostas pela autoridade paterna. Posteriormente, por medo da perda do amor do pai, “desiste” da mãe, isto é, a mãe é “trocada” [pg. 75] pela riqueza do mundo social e cultural, e o garoto pode, então, participar do mundo social, pois tem suas regras básicas internalizadas através da identificação com o pai. Este processo também ocorre com as meninas, sendo invertidas as figuras de desejo e de identificação. Freud fala em Édipo feminino.
Explicando alguns conceitos
Antes de prosseguirmos um pouco mais acerca das descobertas fundamentais de Freud, é necessário esclarecer alguns conceitos que permitem compreender os dados e informações colocados até aqui, de um modo dinâmico e sem considerá-los processos mecânicos e compartimentados. Além disso, estes aspectos também são postulações de Freud, e seu conhecimento é fundamental para se compreender a continuidade do desenvolvimento de sua teoria.
- No processo terapêutico e de postulação teórica, Freud, inicialmente, entendia que todas as cenas relatadas pelos pacientes tinham de fato ocorrido. Posteriormente, descobriu que poderiam ter sido imaginadas, mas com a mesma força e conseqüências de uma situação real. Aquilo que, para o indivíduo, assume valor de realidade é a realidade psíquica. E é isso o que importa, mesmo que não corresponda à realidade objetiva.
- O funcionamento psíquico é concebido a partir de três pontos de vista:
- o econômico (existe uma quantidade de energia que “alimenta” os processos psíquicos),
- o tópico (o aparelho psíquico é constituído de um número de sistemas que são diferenciados quanto a sua natureza e modo de funcionamento, o que permite considerá-lo como “lugar” psíquico) e
- o dinâmico (no interior do psiquismo existem forças que entram em conflito e estão, permanentemente, ativas. A origem dessas forças é a pulsão). Compreender os processos e fenômenos psíquicos é considerar os três pontos de vista simultaneamente
- A pulsão refere-se a um estado de tensão que busca, através de um objeto, a supressão deste estado. Eros é a pulsão de vida e abrange as pulsões sexuais e as de autoconservação. Tanatos é a pulsão de morte, pode ser autodestrutiva ou estar dirigida para fora e se manifestar como pulsão agressiva ou destrutiva.
- Sintoma, na teoria psicanalítica, é uma produção — quer seja um comportamento, quer seja um pensamento — resultante de um conflito psíquico entre o desejo e os mecanismos de defesa. O sintoma, ao mesmo tempo que sinaliza, busca encobrir um conflito, substituir a satisfação do desejo. Ele é ou pode ser o ponto de partida da investigação psicanalítica na tentativa de descobrir os processos [pg. 76] psíquicos encobertos que determinam sua formação. Os sintomas de Ana O. eram a paralisia e os distúrbios do pensamento; hoje, o sintoma da colega da sala de aula é recusar-se a comer.
A segunda teoria do aparelho psíquico
Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego para referir-se aos três sistemas da personalidade.
O id constitui o reservatório da energia psíquica, é onde se “localizam” as pulsões: a de vida e a de morte. As características atribuídas ao sistema inconsciente, na primeira teoria, são, nesta teoria, atribuídas ao id. É regido pelo princípio do prazer.
O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id, as exigências da realidade e as “ordens” do superego. Procura “dar conta” dos interesses da pessoa. É regido pelo princípio da realidade, que, com o princípio do prazer, rege o funcionamento psíquico. É um regulador, na medida em que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação considerando as condições objetivas da realidade. Neste sentido, a busca do prazer pode ser substituída pelo evitamento do desprazer. As funções básicas do ego são: percepção, memória, sentimentos, pensamento.
O superego origina-se com o complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A moral, os ideais são funções do superego. O conteúdo do superego refere-se a exigências sociais e culturais.
Para compreender a constituição desta instância — o superego — é necessário introduzir a idéia de sentimento de culpa. Neste estado, o indivíduo sente-se culpado por alguma coisa errada que fez — o que parece óbvio — ou que não fez e desejou ter feito, alguma coisa considerada má pelo ego mas não, necessariamente, perigosa ou prejudicial; pode, pelo contrário, ter sido muito desejada. Por que, então, é considerada má? Porque alguém importante para ele, como o pai, por exemplo, pode puni-lo por isso. E a principal punição é a perda do amor e do cuidado desta figura de autoridade.
Portanto, por medo dessa perda, deve-se evitar fazer ou desejar fazer a coisa má; mas, o desejo continua e, por isso, existe a culpa.
Uma mudança importante acontece quando esta autoridade externa é internalizada pelo indivíduo. Ninguém mais precisa lhe dizer “não”. É como se ele “ouvisse” esta proibição dentro de si. Agora, não importa mais a ação para sentir-se culpado: o pensamento, o desejo de fazer algo mau se encarregam disso. E não há [pg. 77] como esconder de si mesmo esse desejo pelo proibido. Com isso, o mal-estar instala-se definitivamente no interior do indivíduo. A função de autoridade sobre o indivíduo será realizada permanentemente pelo superego. É importante lembrar aqui que, para a Psicanálise, o sentimento de culpa origina-se na passagem pelo Complexo de Édipo.
O ego e, posteriormente, o superego são diferenciações do id, o que demonstra uma interdependência entre esses três sistemas, retirando a idéia de sistemas separados. O id refere-se ao inconsciente, mas o ego e o superego têm, também, aspectos ou “partes” inconscientes.
É importante considerar que estes sistemas não existem enquanto uma estrutura vazia, mas são sempre habitados pelo conjunto de experiências pessoais e particulares de cada um, que se constitui como sujeito em sua relação com o outro e em determinadas circunstâncias sociais. Isto significa que, para compreender alguém, é necessário resgatar sua história pessoal, que está ligada à história de seus grupos e da sociedade em que vive.
Os mecanismos de defesa, ou a realiadade como ela não é
A percepção de um acontecimento, do mundo externo ou do mundo interno, pode ser algo muito constrangedor, doloroso, desorganizador. Para evitar este desprazer, a pessoa “deforma” ou suprime a realidade — deixa de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos, interfere no pensamento.
São vários os mecanismos que o indivíduo pode usar para realizar esta deformação da realidade, chamados de mecanismos de defesa. São processos realizados pelo ego e são inconscientes, isto é, ocorrem independentemente da vontade do indivíduo.
Para Freud, defesa é a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo, desta forma, o aparelho psíquico. O ego — uma instância a serviço da realidade externa e sede dos processos defensivos — mobiliza estes mecanismos, que suprimem ou dissimulam a percepção do perigo interno, em função de perigos reais ou imaginários localizados no mundo exterior.
Estes mecanismos são:
- Recalque: o indivíduo “não vê”, “não ouve” o que ocorre. Existe a supressão de uma parte da realidade. Este aspecto que não é percebido pelo indivíduo faz parte de um todo e, ao ficar invisível, altera, deforma o sentido do todo. É como se, ao ler esta página, [pg. 78] uma palavra ou uma das linhas não estivesse impressa, e isto impedisse a compreensão da frase ou desse outro sentido ao que está escrito. Um exemplo é quando entendemos uma proibição como permissão porque não “ouvimos” o “não”. O recalque, ao suprimir a percepção do que está acontecendo, é o mais radical dos mecanismos de defesa. Os demais referem-se a deformações da realidade.
- Formação reativa: o ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção, e, para isto, o indivíduo adota uma atitude oposta a este desejo. Um bom exemplo são as atitudes exageradas — ternura excessiva, superproteção — que escondem o seu oposto, no caso, um desejo agressivo intenso. Aquilo que aparece (a atitude) visa esconder do próprio indivíduo suas verdadeiras motivações (o desejo), para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo que poderia ser bastante dolorosa. É o caso da mãe que superprotege o filho, do qual tem muita raiva porque atribui a ele muitas de suas dificuldades pessoais. Para muitas destas mães, pode ser aterrador admitir essa agressividade em relação ao filho;
- Regressão: o indivíduo retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento; é uma passagem para modos de expressão mais primitivos. Um exemplo é o da pessoa que enfrenta situações difíceis com bastante ponderação e, ao ver uma barata, sobe na mesa, aos berros. Com certeza, não é só a barata que ela vê na barata.
- Projeção: é uma confluência de distorções do mundo externo e interno. O indivíduo localiza (projeta) algo de si no mundo externo e não percebe aquilo que foi projetado como algo seu que considera indesejável. É um mecanismo de uso freqüente e observável na vida cotidiana. Um exemplo é o jovem que critica os colegas por serem extremamente competitivos e não se dá conta de que também o é, às vezes até mais que os colegas.
- Racionalização: o indivíduo constrói uma argumentação intelectualmente convincente e aceitável, que justifica os estados “deformados” da consciência. Isto é, uma defesa que justifica as outras. Portanto, na racionalização, o ego coloca a razão a serviço do irracional e utiliza para isto o material [pg. 79] fornecido pela cultura, ou mesmo pelo saber científico. Dois exemplos: o pudor excessivo (formação reativa), justificado com argumentos morais; e as justificativas ideológicas para os impulsos destrutivos que eclodem na guerra, no preconceito e na defesa da pena de morte.
Além destes mecanismos de defesa do ego, existem outros: denegação, identificação, isolamento, anulação retroativa, inversão e retorno sobre si mesmo. Todos nós os utilizamos em nossa vida cotidiana, isto é, deformamos a realidade para nos defender de perigos internos ou externos, reais ou imaginários. O uso destes mecanismos não é, em si, patológico, contudo distorce a realidade, e só o seu desvendamento pode nos fazer superar essa falsa consciência, ou melhor, ver a realidade como ela é.
Psicanálise: aplicações e contribuições sociais
A característica essencial do trabalho psicanalítico é o deciframento do inconsciente e a integração de seus conteúdos na consciência. Isto porque são estes conteúdos desconhecidos e inconscientes que determinam, em grande parte, a conduta dos homens e dos grupos — as dificuldades para viver, o mal-estar, o sofrimento.
A finalidade deste trabalho investigativo é o autoconhecimento, que possibilita lidar com o sofrimento, criar mecanismos de superação das dificuldades, dos conflitos e dos submetimentos em direção a uma produção humana mais autônoma, criativa e gratificante de cada indivíduo, dos grupos, das instituições.
Nesta tarefa, muitas vezes bastante desejada pelo paciente, é necessário que o psicanalista ajude a desmontar, pacientemente, as resistências inconscientes que obstaculizam a passagem dos conteúdos inconscientes para a consciência.
A representação social (a idéia) da Psicanálise ainda é bastante estereotipada em nosso meio. Associamos a Psicanálise com o divã, com o trabalho de consultório excessivamente longo e só possível para as pessoas de alto poder aquisitivo. Esta idéia correspondeu, durante muito tempo, à prática nesta área que se restringia, exclusivamente, ao consultório.
Contudo, há várias décadas é possível constatar a contribuição da Psicanálise e dos psicanalistas em várias áreas da saúde mental. Historicamente, é importante lembrar a contribuição do [pg. 80] psiquiatra e psicanalista D. W. Winnicott, cujos programas radiofônicos transmitidos na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, orientavam os pais na criação dos filhos, ou a contribuição de Ana Freud para a Educação e, mais recentemente, as contribuições de Françoise Dolto e Maud Mannoni para o trabalho com crianças e adolescentes em instituições — hospitais, creches, abrigos.

A Psicologia da Gestalt é uma das tendências teóricas mais coerentes e coesas da história da Psicologia. Seus articuladores preocuparam-se em construir não só uma teoria consistente, mas também uma base metodológica forte, que garantisse a consistência teórica. Gestalt é um termo alemão de difícil tradução. O termo mais próximo em português seria forma ou configuração, que não é utilizado, por não corresponder exatamente ao seu real significado em Psicologia. No final do século passado muitos estudiosos procuravam compreender o fenômeno psicológico em seus aspectos naturais (principalmente no sentido da mensurabilidade). A Psicofísica estava em voga.
Ernst Mach (1838-1916), físico, e Christian von Ehrenfels (1859-1932), filósofo e psicólogo, desenvolviam uma psicofísica com estudos sobre as sensações (o dado psicológico) de espaço-forma e tempo-forma (o dado físico) e podem ser considerados como os mais diretos antecessores da Psicologia da Gestalt.
Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) e Kurt Koffka (1886-1941), baseados nos estudos psicofísicos que relacionaram a forma e sua percepção, construíram a base de uma teoria eminentemente psicológica.
Eles iniciaram seus estudos pela percepção e sensação do movimento. Os gestaltistas estavam preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da que ele tem na realidade. [pg. 59]
É o caso do cinema. Quem já viu uma fita cinematográfica sabe que ela é composta de fotogramas estáticos. O movimento que vemos na tela é uma ilusão de ótica causada pela pós-imagem retiniana (a imagem demora um pouco para se “apagar” em nossa retina). Como as imagens vão-se sobrepondo em nossa retina, temos a sensação de movimento. Mas o que de fato está na tela é uma fotografia estática.
A Percepção
A percepção é o ponto de partida e também um dos temas centrais dessa teoria. Os experimentos com a percepção levaram os teóricos da Gestalt ao questionamento de um princípio implícito na teoria behaviorista — que há relação de causa e efeito entre o estímulo e a resposta — porque, para os gestaltistas, entre o estímulo que o meio fornece e a resposta do indivíduo, encontra-se o processo de percepção. O que o indivíduo percebe e como percebe são dados importantes para a compreensão do comportamento humano.
O confronto Gestalt/Behaviorismo pode ser resumido na posição que cada uma das teorias assume diante do objeto da Psicologia — o comportamento, pois tanto a Gestalt quanto o Behaviorismo definem a Psicologia como a ciência que estuda o comportamento.
O Behaviorismo, dentro de sua preocupação cora a objetividade, estuda o comportamento através da relação estímulo-resposta, procurando isolar o estímulo que corresponderia à resposta esperada e desprezando os conteúdos de “consciência”, pela impossibilidade de controlar cientificamente essas variáveis.
A Gestalt irá criticar essa abordagem, por considerar que o comportamento, quando estudado de maneira isolada de um contexto mais amplo, pode perder seu significado (o seu entendimento) para o psicólogo.
Na visão dos gestaltistas, o comportamento deveria ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em consideração as condições que alteram a percepção do estímulo. Para justificar essa postura, eles se baseavam na teoria do isomorfismo, que supunha uma unidade no universo, onde a parte está sempre relacionada ao todo.
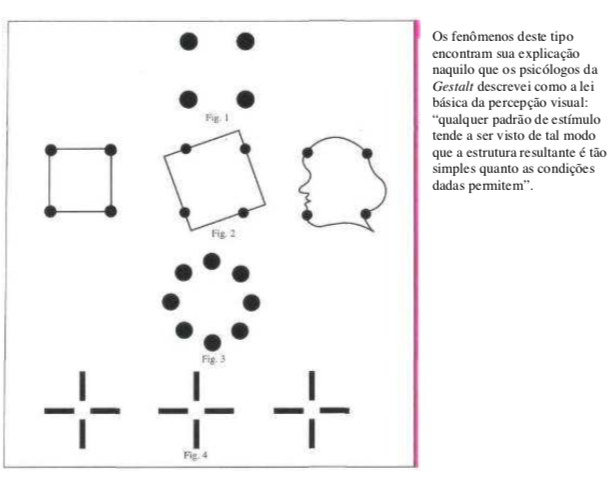 Quando eu vejo uma parte de um objeto, ocorre uma tendência à restauração do equilíbrio da forma, garantindo o entendimento do que estou percebendo.
Quando eu vejo uma parte de um objeto, ocorre uma tendência à restauração do equilíbrio da forma, garantindo o entendimento do que estou percebendo.
Esse fenômeno da percepção é norteado pela busca de fechamento, simetria e regularidade dos pontos que compõem uma figura (objeto).
Rudolf Arnheim dá um bom exemplo da tendência à restauração do equilíbrio na relação parte-todo: “De que modo o sentido [pg. 60] da visão se apodera da forma? Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso perfeito apreende a forma alinhavando os retalhos da cópia de suas partes (...) o sentido normal da visão (...) apreende um padrão global1”.
Nós percebemos a figura 1 como um quadrado, e não como uma figura inclinada ou um perfil (figura 2), apesar de essas últimas também conterem os quatro pontos. Se forem acrescentados mais quatro pontos à figura 1, o padrão mudará, e perceberemos um círculo (figura 3). Na figura 4 é possível ver círculos brancos ou quadrados no centro das cruzes, mesmo não havendo vestígio dos seus contornos.
A Boa-forma
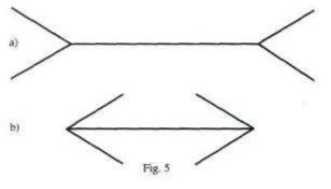 A Gestalt encontra nesses fenômenos da percepção as condições para a compreensão do comportamento humano. A maneira como percebemos um determinado estímulo irá desencadear nosso comportamento. [pg. 61]
A Gestalt encontra nesses fenômenos da percepção as condições para a compreensão do comportamento humano. A maneira como percebemos um determinado estímulo irá desencadear nosso comportamento. [pg. 61]
Muitas vezes, os nossos comportamentos guardam relação estreita com os estímulos físicos, e outras, eles são completamente diferentes do esperado porque “entendemos” o ambiente de uma maneira diferente da sua realidade. Quantas vezes já nos aconteceu de cumprimentarmos a distância uma pessoa conhecida e, ao chegarmos mais perto, depararmos com um atônito desconhecido. Um “erro” de percepção nos levou ao comportamento de cumprimentar o desconhecido. Ora, ocorre que, no momento em que confundimos a pessoa, estávamos “de fato” cumprimentando nosso amigo. Esta pequena confusão demonstra que a nossa percepção do estímulo (a pessoa desconhecida) naquelas condições ambientais dadas é mediatizada pela forma como interpretamos o conteúdo percebido.
 Se nos elementos percebidos não há equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade, não alcançaremos a boa-forma.
Se nos elementos percebidos não há equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade, não alcançaremos a boa-forma.
O elemento que objetivamos compreender deve ser apresentado em aspectos básicos, que permitam a sua decodificação, ou seja, a percepção da boa-forma.
O exemplo da figura 5 ilustra a noção de boa-forma. Geralmente percebemos o segmento de reta a maior que o segmento de reta b, mas, na realidade, isso é uma ilusão de ótica, já que ambos são idênticos.
A maneira como se distribuem os elementos que compõem as duas figuras não apresenta equilíbrio, simetria, estabilidade ensimplicidade suficientes para garantir a boa-forma, isto é, para superar a ilusão de ótica.
A tendência da nossa percepção em buscar a boa-forma permitirá a relação figura-fundo. Quanto mais clara estiver a forma (boa-forma), mais clara será a separação entre a figura e o fundo. Quando isso não ocorre, torna-se difícil distinguir o que é figura e o que é fundo. , como é o caso da figura 6. Nessa figura ambígua, fundo e figura substituem-se, dependendo da percepção de quem os olha. Faça o teste: é possível ver a taça e os perfis ao mesmo tempo? [pg. 62]
Meio geográfico e meio comportamental
O comportamento é determinado pela percepção do estímulo e, portanto, estará submetido à lei da boa-forma. O conjunto de estímulos determinantes do comportamento (lembre-se da visão global dos gestaltistas) é denominado meio ou meio ambiental. São conhecidos dois tipos de meio: o geográfico e o comportamental.
O meio geográfico é o meio enquanto tal, o meio físico em termos objetivos. O meio comportamental é o meio resultante da interação do indivíduo com o meio físico e implica a interpretação desse meio através das forças que regem a percepção (equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade). No exemplo, a pessoa que cumprimentamos era um desconhecido — esse deveria ser o dado percebido, se só tivéssemos acesso ao meio geográfico. Ocorre que, no momento em que vimos a pessoa, a situação (encontro casual no trânsito em movimento, por exemplo) levou-nos a uma interpretação diferente da realidade, e acabamos por confundi-la com uma pessoa conhecida. Esta particular interpretação do meio, onde o que percebemos agora é uma “realidade” subjetiva, particular, criada pela nossa mente, é o meio comportamental. Naturalmente, o comportamento é desencadeado pela percepção do meio comportamental.
Certamente, a semelhança entre as duas pessoas do exemplo (a que vimos e a que conhecemos) foi a causa do engano. Nesse caso, houve uma tendência a estabelecer a unidade das semelhanças entre as duas pessoas, mais que as suas diferenças. Essa tendência a “juntar” os elementos é o que a Gestalt denomina de força do campo psicológico.
O campo psicológico é entendido como um campo de força que nos leva a procurar a boa-forma. Funciona figurativamente como um campo eletromagnético criado por um ímã (a força de atração e repulsão). Esse campo de força psicológico tem uma tendência que garante a busca da melhor forma possível em situações que não estão muito estruturadas. [pg. 63]
Esse processo ocorre de acordo com os seguintes princípios:
- Proximidade — os elementos mais próximos tendem a ser agrupados.

- Semelhança — os elementos semelhantes são agrupados.

- Fechamento — ocorre uma tendência de completar os elementos faltantes da figura para garantir sua compreensão.

Insight
A Psicologia da Gestalt, diferentemente do associacionismo, vê a aprendizagem como a relação entre o todo e a parte, onde o todo tem papel fundamental na compreensão do objeto percebido, enquanto as teorias de S-R (Associacionismo, Behaviorismo) acreditam que aprendemos estabelecendo relações — dos objetos mais simples para os mais complexos.
 Exemplificando, é possível a uma criança de 3 anos, que não sabe ler, distinguir a logomarca de um refrigerante e nomeá-lo corretamente. Ela separou a palavra na sua totalidade, distinguindo a figura (palavra) e o fundo. No caso, a criança não aprendeu [pg. 64] a ler a palavra juntando as letras, como nos ensinaram, mas dando significação ao todo.
Exemplificando, é possível a uma criança de 3 anos, que não sabe ler, distinguir a logomarca de um refrigerante e nomeá-lo corretamente. Ela separou a palavra na sua totalidade, distinguindo a figura (palavra) e o fundo. No caso, a criança não aprendeu [pg. 64] a ler a palavra juntando as letras, como nos ensinaram, mas dando significação ao todo.
Nem sempre as situações vividas por nós apresentam-se de forma tão clara que permita sua percepção imediata. Essas situações dificultam o processo de aprendizagem, porque não permitem uma clara definição da figura-fundo, impedindo a relação parte/todo.
Acontece, às vezes, de estarmos olhando para uma figura que não tem sentido para nós e, de repente, sem que tenhamos feito nenhum esforço especial para isso, a relação figura-fundo elucida-se.
A esse fenômeno a Gestalt dá o nome de insight. O termo designa uma compreensão imediata, enquanto uma espécie de “entendimento interno”.
A Teoria de Campo de Kurt Lewin
Kurt Lewin (1890-1947) trabalhou durante 10 anos com Wertheimer, Koffka e Köhler na Universidade de Berlim, e dessa colaboração cora os pioneiros da Gestalt nasceu a sua Teoria de Campo. Entretanto não podemos considerar Lewin como um gestaltista, já que ele acaba seguindo um outro rumo. Lewin parte da teoria da Gestalt para construir um conhecimento novo e genuíno. Ele abandona a preocupação psicofisiológica (limiares de percepção) da Gestalt, para buscar na Física as bases metodológicas de sua psicologia.
O principal conceito de Lewin é o do espaço vital, que ele define como a totalidade dos fatos que determinam o comportamento do indivíduo num certo momento2. O que Lewin concebeu como campo psicológico foi o espaço de vida considerado dinamicamente, onde se levam em conta não somente o indivíduo e o meio, mas também a totalidade dos fatos coexistentes e mutuamente interdependentes.
Segundo Garcia-Roza, o “campo não deve, porém, ser compreendido como uma realidade física, mas sim fenomênica. Não são apenas os fatos físicos que produzem efeitos sobre o comportamento. O campo deve ser representado tal como ele existe para o indivíduo em questão, em um determinado momento, e não como ele é em si. Para a constituição desse campo, as amizades, os objetivos conscientes e inconscientes, os sonhos e os medos são tão essenciais como qualquer ambiente físico”3. [pg. 65]
A realidade fenomênica em Lewin pode ser compreendida como o meio comportamental da Gestalt, ou seja, a maneira particular como o indivíduo interpreta uma determinada situação. Entretanto, para Lewin, esse conceito não está se referindo apenas à percepção (enquanto fenômeno psicofisiológico), mas também a características de personalidade do indivíduo, a componentes emocionais ligados ao grupo e à própria situação vivida, assim como a situações passadas e que estejam ligadas ao acontecimento, na forma em que são representadas no espaço de vida atual do indivíduo.
Como exemplo de campo psicológico e espaço vital, contaremos um breve encontro:
Um rapaz, ao chegar a sua casa, surpreende os pais num final de conversa e escuta o seguinte: “Ele chegou, é melhor não falarmos disso agora”. Ele entende que os pais conversavam sobre um problema muito sério, de que ele não deveria tomar conhecimento. Resolve não fazer nenhum comentário sobre o assunto. Dias depois, chegando novamente em casa, encontra seus pais na sala com dois homens em ternos escuros. Imediatamente, associa esses homens ao final da conversa escutada e entende que eles, de alguma forma, estariam relacionados às preocupações dos pais.
Ocorre que a conversa referia-se a uma surpresa que os pais preparavam para o seu aniversário, e os dois homens eram antigos colegas de faculdade de seu pai, que aproveitavam a passagem pela cidade para fazer uma visita ao colega que há tanto tempo não viam.
Nessa história, o campo psicológico é representado pelas “linhas de força” (como no campo da eletromagnética), que “atraem” a percepção e lhe dão significado. O rapaz interpretou a situação pelo seu aspecto fenomênico e não pelo que ocorria de fato. A sua interpretação ganhou consistência com a visita de duas pessoas que ele não conhecia e, nesse sentido, as linhas de força estavam fazendo um corte no tempo. Isso foi possível porque o rapaz havia memorizado a situação anterior e a ela associado a seguinte. A partir da experiência anterior, a nova ganhou significado. O espaço vital esteve representado pela situação mais imediata, que determinou o comportamento. Foi o caso do rapaz quando surpreendeu os pais conversando e procurou fingir que nada havia escutado ou a surpresa ao encontrar aqueles homens na sua casa.
O entendimento desse espaço vital depende diretamente do campo psicológico.
Como Lewin considerava que o comportamento deve ser visto em sua totalidade, não demorou muito para chegar ao conceito de grupo. Praticamente todos os momentos de nossas vidas se dão no interior de grupos. Segundo Lewin, a característica essencialmente definidora do grupo é a interdependência de seus membros. [pg. 66] Isto significa que o grupo, para ele, não é a soma das características de seus membros, mas algo novo, resultante dos processos que ali ocorrem. Assim, a mudança de um membro no grupo pode alterar completamente a dinâmica deste. Lewin deu muita ênfase ao pequeno grupo, por considerar que a Psicologia ainda não possui instrumental suficiente para o estudo de grandes massas.
Transportando a noção de campo psicológico para a Psicologia social, Lewin criou o conceito de campo social, formado pelo grupo e seu ambiente. Outra característica do grupo é o clima social, onde uma liderança autocrática, democrática ou laissez-faire irá determinar o desempenho do grupo. Através de um minucioso trabalho experimental, Lewin pesquisou a dinâmica grupal e foi, sem dúvida alguma, um dos psicólogos que mais contribuições trouxeram para a área da Psicologia, contribuições que estão presentes até hoje, embasando as teorias e as técnicas de trabalho com os grupos.
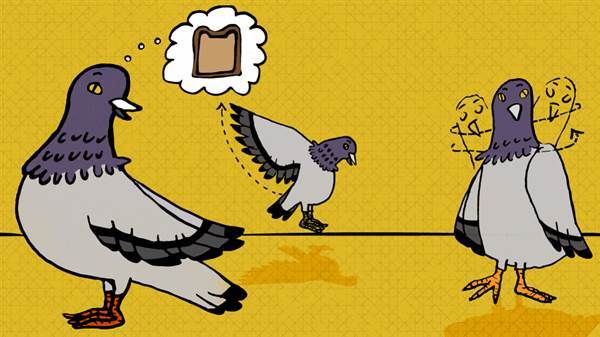
O termo Behaviorismo foi inaugurado pelo americano John B. Watson, em artigo publicado em 1913, que apresentava o título “Psicologia: como os behavioristas a vêem”. O termo inglês behavior significa “comportamento”; por isso, para denominar essa tendência teórica, usamos Behaviorismo — e, também, Comportamentalismo, Teoria Comportamental, Análise Experimental do Comportamento, Análise do Comportamento.
Watson, postulando o comportamento como objeto da Psicologia, dava a esta ciência a consistência que os psicólogos da época vinham buscando — um objeto observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. Essas características foram importantes para que a Psicologia alcançasse o status de ciência, rompendo definitivamente com a sua tradição filosófica. Watson também defendia uma perspectiva funcionalista para a Psicologia, isto é, o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio. Certos estímulos levam o organismo a dar determinadas respostas e isso ocorre porque os organismos se ajustam aos seus ambientes por meio de equipamentos hereditários e pela formação de hábitos. Watson buscava a construção de uma Psicologia sem alma e sem mente, livre de conceitos mentalistas e de métodos subjetivos, e que tivesse a capacidade de prever e controlar.
Apesar de colocar o “comportamento” como objeto da Psicologia, o Behaviorismo foi, desde Watson, modificando o sentido desse termo. Hoje, não se entende comportamento como uma [pg. 45] ação isolada de um sujeito, mas, sim, como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu “fazer” acontece. Portanto, o Behaviorismo dedica-se ao estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (as estimulações).
Os psicólogos desta abordagem chegaram aos termos “resposta” e “estímulo” para se referirem àquilo que o organismo faz e às variáveis ambientais que interagem com o sujeito. Para explicar a adoção desses termos, duas razões podem ser apontadas: uma metodológica e outra histórica.
A razão metodológica deve-se ao fato de que os analistas experimentais do comportamento tomaram, como modo preferencial de investigação, um método experimental e analítico.
Com isso, os experimentadores sentiram a necessidade de dividir o objeto para efeito de investigação, chegando a unidades de análise.
A razão histórica refere-se aos termos escolhidos e popularizados, que foram mantidos posteriormente por outros estudiosos do comportamento, devido ao seu uso generalizado.
Comportamento, entendido como interação indivíduo-ambiente, é a unidade básica de descrição e o ponto de partida para uma ciência do comportamento. O homem começa a ser estudado a partir de sua interação com o ambiente, sendo tomado como produto e produtor dessas interações.
A análise experimental do comportamento
O mais importante dos behavioristas que sucedem Watson é B. F. Skinner (1904-1990).
O Behaviorismo de Skinner tem influenciado muitos psicólogos estadunidenses e de vários países onde a Psicologia estadunidense tem grande penetração, como o Brasil. Esta linha de estudo ficou conhecida por Behaviorismo radical, termo cunhado pelo próprio Skinner, em 1945, para designar uma filosofia da Ciência do Comportamento (que ele se propôs defender) por meio da análise experimental do comportamento.
A base da corrente skinneriana está na formulação do comportamento operante. Para desenvolver este conceito, retrocederemos um pouco na história do Behaviorismo, introduzindo as noções de comportamento reflexo ou respondente, para então chegarmos ao comportamento operante. Vamos lá. [pg. 46]
O comportamento respondente
O comportamento reflexo ou respondente é o que usualmente chamamos de “não-voluntário” e inclui as respostas que são eliciadas (“produzidas”) por estímulos antecedentes do ambiente. Como exemplo, podemos citar a contração das pupilas quando uma luz forte incide sobre os olhos, a salivação provocada por uma gota de limão colocada na ponta da língua, o arrepio da pele quando um ar frio nos atinge, as famosas “lágrimas de cebola” etc.
Esses comportamentos reflexos ou respondentes são interações estímulo-resposta (ambiente-sujeito) incondicionadas, nas quais certos eventos ambientais confiavelmente eliciam certas respostas do organismo que independem de “aprendizagem”. Mas interações desse tipo também podem ser provocadas por estímulos que, originalmente, não eliciavam respostas em determinado organismo. Quando tais estímulos são temporalmente pareados com estímulos eliciadores podem, em certas condições, eliciar respostas semelhantes às destes. A essas novas interações chamamos também de reflexos, que agora são condicionados devido a uma história de pareamento, o qual levou o organismo a responder a estímulos que antes não respondia. Para deixar isso mais claro, vamos a um exemplo: suponha que, numa sala aquecida, sua mão direita seja mergulhada numa vasilha de água gelada. A temperatura da mão cairá rapidamente devido ao encolhimento ou constrição dos vasos sangüíneos, caracterizando o comportamento como respondente. Esse comportamento será acompanhado de uma modificação semelhante, e mais facilmente mensurável, na mão esquerda, onde a constrição vascular também será induzida. Suponha, agora, que a sua mão direita seja mergulhada na água gelada um certo número de vezes, em intervalos de três ou quatro minutos, e que você ouça uma campainha pouco antes de cada imersão. Lá pelo vigésimo pareamento do som da campainha com a água fria, a mudança de temperatura nas mãos poderá ser eliciada apenas pelo som, isto é, sem necessidade de imergir uma das mãos.
Neste exemplo de condicionamento respondente, a queda da temperatura da mão, eliciada pela água fria, é uma resposta incondicionada, enquanto a queda da temperatura, eliciada pelo som, é uma resposta condicionada (aprendida): a água é um estímulo incondicionado, e o som, um estímulo condicionado. [pg. 47]
No início dos anos 30, na Universidade de Harvard (Estados Unidos), Skinner começou o estudo do comportamento justamente pelo comportamento respondente, que se tornara a unidade básica de análise, ou seja, o fundamento para a descrição das interações indivíduo-ambiente. O desenvolvimento de seu trabalho levou-o a teorizar sobre um outro tipo de relação do indivíduo com seu ambiente, a qual viria a ser nova unidade de análise de sua ciência: o comportamento operante. Esse tipo de comportamento caracteriza a maioria de nossas interações com o ambiente.
O comportamento operante
O comportamento operante abrange um leque amplo da atividade humana — dos comportamentos do bebê de balbuciar, de agarrar objetos e de olhar os enfeites do berço aos mais sofisticados, apresentados pelo adulto. Como nos diz Keller, o comportamento operante “inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que, em algum momento, têm efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta, quer indiretamente”.
A leitura que você está fazendo deste texto é um exemplo de comportamento operante, assim como escrever uma carta, chamar o táxi com um gesto de mão, tocar um instrumento etc.
Para exemplificarmos melhor os conceitos apresentados até aqui, vamos relembrar um conhecido experimento feito com ratos de laboratório. Vale informar que animais como ratos, pombos e macacos — para citar alguns — foram utilizados pelos analistas experimentais do comportamento (inclusive Skinner) para verificar como as variações no ambiente interferiam nos comportamentos. Tais experimentos permitiram-lhes fazer afirmações sobre o que chamaram de leis comportamentais.
Um ratinho, ao sentir sede em seu habitat, certamente manifesta algum comportamento que lhe permita satisfazer a sua necessidade orgânica. Esse comportamento foi aprendido por ele e se mantém pelo efeito proporcionado: saciar a sede. Assim, se deixarmos [pg. 48] um ratinho privado de água durante 24 horas, ele certamente apresentará o comportamento de beber água no momento em que tiver sede. Sabendo disso, os pesquisadores da época decidiram simular esta situação em laboratório sob condições especiais de controle, o que os levou à formulação de uma lei comportamental.
Um ratinho foi colocado na “caixa de Skinner” — um recipiente fechado no qual encontrava apenas uma barra. Esta barra, ao ser pressionada por ele, acionava um mecanismo (camuflado) que lhe permitia obter uma gotinha de água, que chegava à caixa por meio de uma pequena haste.
Que resposta esperava-se do ratinho? — Que pressionasse a barra. Como isso ocorreu pela primeira vez? — Por acaso. Durante a exploração da caixa, o ratinho pressionou a barra acidentalmente, o que lhe trouxe, pela primeira vez, uma gotinha de água, que, devido à sede, fora rapidamente consumida. Por ter obtido água ao encostar na barra quando sentia sede, constatou-se a alta probabilidade de que, estando em situação semelhante, o ratinho a pressionasse novamente.
Neste caso de comportamento operante, o que propicia a aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante — a satisfação de alguma necessidade, ou seja, a aprendizagem está na relação entre uma ação e seu efeito.
Este comportamento operante pode ser representado da seguinte maneira: R —► S, em que R é a resposta (pressionar a barra) e S (do inglês stimuli) o estímulo reforçador (a água), que tanto interessa ao organismo; a flecha significa “levar a”.
Esse estímulo reforçador é chamado de reforço. O termo “estímulo” foi mantido da relação R-S do comportamento respondente para designar-lhe a responsabilidade pela ação, apesar de ela ocorrer após a manifestação do comportamento. O comportamento operante refere-se à interação sujeito-ambiente. Nessa interação, chama-se de relação fundamental à relação entre a ação do indivíduo (a emissão da resposta) e as conseqüências. É considerada fundamental porque o organismo se comporta (emitindo esta ou [pg. 49] aquela resposta), sua ação produz uma alteração ambiental (uma conseqüência) que, por sua vez, retroage sobre o sujeito, alterando a probabilidade futura de ocorrência. Assim, agimos ou operamos sobre o mundo em função das conseqüências criadas pela nossa ação. As conseqüências da resposta são as variáveis de controle mais relevantes.
Pense no aprendizado de um instrumento: nós o tocamos para ouvir seu som harmonioso. Há outros exemplos: podemos dançar para estar próximo do corpo do outro, mexer com uma garota para receber seu olhar, abrir uma janela para entrar a luz etc.
Reforçamento
Chamamos de reforço a toda conseqüência que, seguindo uma resposta, altera a probabilidade futura de ocorrência dessa resposta.
O reforço pode ser positivo ou negativo.
O reforço positivo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz.
O reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o remove ou atenua.
Assim, poderíamos voltar à nossa “caixa de Skinner” que, no experimento anterior, oferecia uma gota de água ao ratinho sempre que encostasse na barra. Agora, ao ser colocado na caixa, ele recebe choques do assoalho. Após várias tentativas de evitar os choques, o ratinho chega à barra e, ao pressioná-la acidentalmente, os choques cessam. Com isso, as respostas de pressão à barra tenderão a aumentar de freqüência. Chama-se de reforçamento negativo ao processo de fortalecimento dessa classe de respostas (pressão à barra), isto é, a remoção de um estímulo aversivo controla a emissão da resposta. É condicionamento por se tratar de aprendizagem, e também reforçamento, porque um comportamento é apresentado e aumentado em sua freqüência ao alcançar o efeito desejado.
O reforçamento positivo oferece alguma coisa ao organismo (gotas de água com a pressão da barra, por exemplo); o negativo permite a retirada de algo indesejável (os choques do último exemplo).
Não se pode, a priori, definir um evento como reforçador. A função reforçadora de um evento ambiental qualquer só é definida por sua função sobre o comportamento do indivíduo. [pg. 50]
Entretanto, alguns eventos tendem a ser reforçadores para toda uma espécie, como, por exemplo, água, alimento e afeto. Esses são denominados reforços primários. Os reforços secundários, ao contrário, são aqueles que adquiriram a função quando pareados temporalmente com os primários. Alguns destes reforçadores secundários, quando emparelhados com muitos outros, tornam-se reforçadores generalizados, como o dinheiro e a aprovação social.
No reforçamento negativo, dois processos importantes merecem destaque: a esquiva e a fuga.
A esquiva é um processo no qual os estímulos aversivos condicionados e incondicionados estão separados por um intervalo de tempo apreciável, permitindo que o indivíduo execute um comportamento que previna a ocorrência ou reduza a magnitude do segundo estímulo. Você, com certeza, sabe que o raio (primeiro estímulo) precede à trovoada (segundo estímulo), que o chiado precede ao estouro dos rojões, que o som do “motorzinho” usado pelo dentista precede à dor no dente. Estes estímulos são aversivos, mas os primeiros nos possibilitam evitar ou reduzir a magnitude dos seguintes, ou seja, tapamos os ouvidos para evitar o estouro dos trovões ou desviamos o rosto da broca usada pelo dentista. Por que isso acontece?
Quando os estímulos ocorrem nessa ordem, o primeiro torna-se um reforçador negativo condicionado (aprendido) e a ação que o reduz é reforçada pelo condicionamento operante. As ocorrências passadas de reforçadores negativos condicionados são responsáveis pela probabilidade da resposta de esquiva.
No processo de esquiva, após o estímulo condicionado, o indivíduo apresenta um comportamento que é reforçado pela necessidade de reduzir ou evitar o segundo estímulo, que também é aversivo, ou seja, após a visão do raio, o indivíduo manifesta um comportamento (tapar os ouvidos), que é reforçado pela necessidade de reduzir o segundo estímulo (o barulho do trovão) — igualmente aversivo. [pg. 51]
Outro processo semelhante é o de fuga. Neste caso, o comportamento reforçado é aquele que termina com um estímulo aversivo já em andamento.
A diferença é sutil. Se posso colocar as mãos nos ouvidos para não escutar o estrondo do rojão, este comportamento é de esquiva, pois estou evitando o segundo estímulo antes que ele aconteça. Mas, se os rojões começam a pipocar e só depois apresento um comportamento para evitar o barulho que incomoda, seja fechando a porta, seja indo embora ou mesmo tapando os ouvidos, pode-se falar em fuga. Ambos reduzem ou evitam os estímulos aversivos, mas em processos diferentes. No caso da esquiva, há um estímulo condicionado que antecede o estímulo incondicionado e me possibilita a emissão do comportamento de esquiva. Uma esquiva bem-sucedida impede a ocorrência do estímulo incondicionado. No caso da fuga, só há um estímulo aversivo incondicionado que, quando apresentado, será evitado pelo comportamento de fuga. Neste segundo caso, não se evita o estímulo aversivo, mas se foge dele depois de iniciado.
Extinção
Outros processos foram sendo formulados pela Análise Experimental do Comportamento. Um deles é o da extinção.
A extinção é um procedimento no qual uma resposta deixa abruptamente de ser reforçada. Como conseqüência, a resposta diminuirá de freqüência e até mesmo poderá deixar de ser emitida. O tempo necessário para que a resposta deixe de ser emitida dependerá da história e do valor do reforço envolvido.
Assim, quando uma menina, que estávamos paquerando, deixa de nos olhar e passa a nos ignorar, nossas “investidas” tenderão a desaparecer.
Punição
A punição é outro procedimento importante que envolve a conseqüenciação de uma resposta quando há apresentação de um estímulo aversivo ou remoção de um reforçador positivo presente.
Os dados de pesquisas mostram que a supressão do comportamento punido só é definitiva se a punição for extremamente intensa, isto porque as razões que levaram à ação — que se pune — não são alteradas cora a punição.
Punir ações leva à supressão temporária da resposta sem, contudo, alterar a motivação. [pg. 52]
Por causa de resultados como estes, os behavioristas têm debatido a validade do procedimento da punição como forma de reduzir a freqüência de certas respostas. As práticas punitivas correntes na Educação foram questionadas pelo Behaviorismo — obrigava-se o aluno a ajoelhar-se no milho, a fazer inúmeras cópias de um mesmo texto, a receber “reguadas”, a ficar isolado etc. Os behavioristas, respaldados por crítica feita por Skinner e outros autores, propuseram a substituição definitiva das práticas punitivas por procedimentos de instalação de comportamentos desejáveis. Esse princípio pode ser aplicado no cotidiano e em todos os espaços em que se trabalhe para instalar comportamentos desejados. O trânsito é um excelente exemplo. Apesar das punições aplicadas a motoristas e pedestres na maior parte das infrações cometidas no trânsito, tais punições não os têm motivado a adotar um comportamento considerado adequado para o trânsito. Em vez de adotarem novos comportamentos, tornaram-se especialistas na esquiva e na fuga.
Controle de estímulos
Tem sido polêmica a discussão sobre a natureza ou a extensão do controle que o ambiente exerce sobre nós, mas não há como negar que há algum controle. Assumir a existência desse controle e estudá-la permite maior entendimento dos meios pelos quais os estímulos agem.
Assim, quando a freqüência ou a forma da resposta é diferente sob estímulos diferentes, diz-se que o comportamento está sob o controle de estímulos. Se o motorista pára ou acelera o ônibus no cruzamento de ruas onde há semáforo que ora está verde, ora vermelho, sabemos que o comportamento de dirigir está sob o controle de estímulos.
Dois importantes processos devem ser apresentados: discriminação e generalização. [pg. 53]
Discriminação
Diz-se que se desenvolveu uma discriminação de estímulos quando uma resposta se mantém na presença de um estímulo, mas sofre certo grau de extinção na presença de outro. Isto é, um estímulo adquire a possibilidade de ser conhecido como discriminativo da situação reforçadora. Sempre que ele for apresentado e a resposta emitida, haverá reforço. Assim, nosso motorista de ônibus vai parar o veículo quando o semáforo estiver vermelho, ou melhor, esperamos que, para ele, o semáforo vermelho tenha se tornado um estímulo discriminativo para a emissão do comportamento de parar.
Poderíamos refletir, também, sobre o aprendizado social. Por exemplo: existem normas e regras de conduta para festas — cumprimentar os presentes, ser gentil, procurar manter diálogo com as pessoas, agradecer e elogiar a dona da casa etc. No entanto, as festas podem ser diferentes: informais ou pomposas, dependendo de onde, de como e de quem as organiza. Somos, então, capazes de discriminar esses diferentes estímulos e de nos comportarmos de maneira diferente em cada situação.
Generalização
Na generalização de estímulos, um estímulo adquire controle sobre uma resposta devido ao reforço na presença de um estímulo similar, mas diferente. Freqüentemente, a generalização depende de elementos comuns a dois ou mais estímulos. Poderíamos aqui brincar com as cores do semáforo: se fossem rosa e vermelho, correríamos o risco dos motoristas acelerarem seus veículos no semáforo vermelho, pois poderiam generalizar os estímulos. Mas isso não acontece com o verde e com o vermelho, que são cores muito distintas e, além disso, estão situadas em extremidades opostas do semáforo — o vermelho, na superior, e o verde, na inferior, permitindo a discriminação dos estímulos.
Na generalização, portanto, respondemos de forma semelhante a um conjunto de estímulos percebidos como semelhantes.
Esse princípio da generalização é fundamental quando pensamos na aprendizagem escolar. Nós aprendemos na escola alguns conceitos básicos, como fazer contas e escrever. Graças à generalização, podemos transferir esses aprendizados para diferentes situações, como dar ou receber troco, escrever uma carta para a namorada distante, aplicar conceitos da Física para consertar aparelhos eletrodomésticos etc.
Na vida cotidiana, também aprendemos a nos comportar em diferentes situações sociais, dada a nossa capacidade de generalização no aprendizado de regras e normas sociais. [pg. 54]
Behaviorismo: sua aplicação
Uma área de aplicação dos conceitos apresentados tem sido a Educação. São conhecidos os métodos de ensino programado, o controle e a organização das situações de aprendizagem, bem como a elaboração de uma tecnologia de ensino.
Entretanto, outras áreas também têm recebido a contribuição das técnicas e conceitos desenvolvidos pelo Behaviorismo, como a de treinamento de empresas, a clínica psicológica, o trabalho educativo de crianças excepcionais, a publicidade e outras mais. No Brasil, talvez a área clínica seja, hoje, a que mais utiliza os conhecimentos do Behaviorismo.
Na verdade, a Análise Experimental do Comportamento pode nos auxiliar a descrever nossos comportamentos em qualquer situação, ajudando-nos a modificá-los.
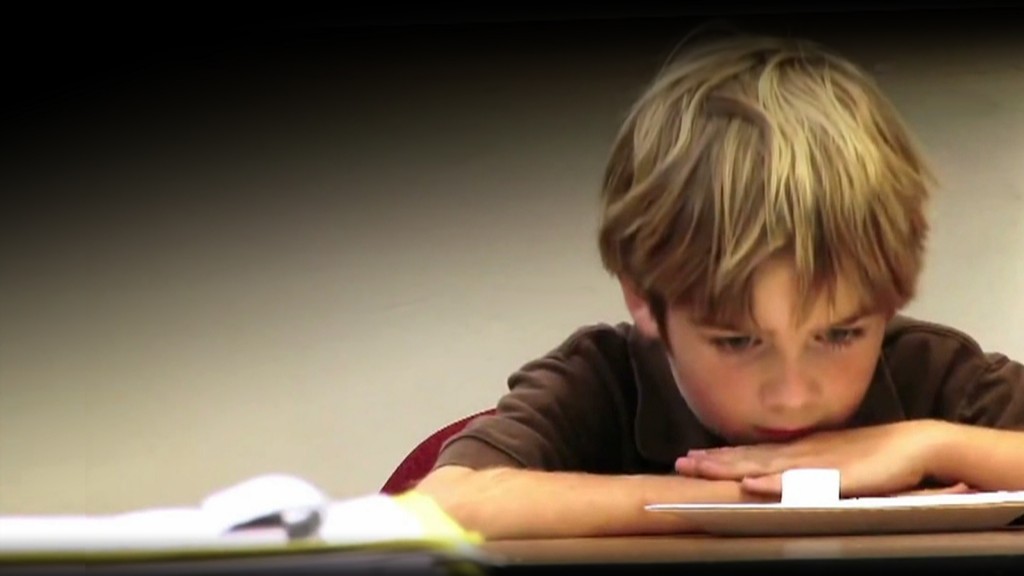
Toda e qualquer produção humana — uma cadeira, uma religião, um computador, uma obra de arte, uma teoria científica — tem por trás de si a contribuição de inúmeros homens, que, em um tempo anterior ao presente, fizeram indagações, realizaram descobertas, inventaram técnicas e desenvolveram idéias, isto é, por trás de qualquer produção material ou espiritual, existe a História.
Compreender, em profundidade, algo que compõe o nosso mundo significa recuperar sua história. O passado e o futuro sempre estão no presente, enquanto base constitutiva e enquanto projeto. Por exemplo, todos nós temos uma história pessoal e nos tornamos pouco compreensíveis se não recorremos a ela e à nossa perspectiva de futuro para entendermos quem somos e por que somos de uma determinada forma.
Esta história pode ser mais ou menos longa para os diferentes aspectos da produção humana. No caso da Psicologia, a história tem por volta de dois milênios. Esse tempo refere-se à Psicologia no Ocidente, que começa entre os gregos, no período anterior à era cristã.
Para compreender a diversidade com que a Psicologia se apresenta hoje, é indispensável recuperar sua história. A história de sua construção está ligada, em cada momento histórico, às exigências de conhecimento da humanidade, às demais áreas do conhecimento humano e aos novos desafios colocados pela realidade econômica e social e pela insaciável necessidade do homem de compreender a si mesmo. [pg. 31]
A Psicologia entre os gregos: os primórdios
A história do pensamento humano tem um momento áureo na Antiguidade, entre os gregos, particularmente no período de 700 a.e.c. até a dominação romana, às vésperas da era cristã.
Os gregos foram o povo mais evoluído nessa época. Uma produção minimamente planejada e bem-sucedida permitiu a construção das primeiras cidades-estados (pólis). A manutenção dessas cidades implicava a necessidade de mais riquezas, as quais alimentavam, também, o poderio dos cidadãos (membros da classe dominante na Grécia Antiga). Assim, iniciaram a conquista de novos territórios (Mediterrâneo, Ásia Menor, chegando quase até a China), que geraram riquezas na forma de escravos para trabalhar nas cidades e na forma de tributos pagos pelos territórios conquistados.
As riquezas geraram crescimento, e este crescimento exigia soluções práticas para a arquitetura, para a agricultura e para a organização social. Isso explica os avanços na Física, na Geometria, na teoria política (inclusive com a criação do conceito de democracia).
Tais avanços permitiram que o cidadão se ocupasse das coisas do espírito, como a Filosofia e a arte. Alguns homens, como Platão e Aristóteles, dedicaram-se a compreender esse espírito empreendedor do conquistador grego, ou seja, a Filosofia começou a especular em torno do homem e da sua interioridade.
É entre os filósofos gregos que surge a primeira tentativa de sistematizar uma Psicologia. O próprio termo psicologia vem do grego psyché, que significa alma, e de logos, que significa razão. Portanto, [pg. 32] etimologicamente, psicologia significa “estudo da alma”. A alma ou espírito era concebida como a parte imaterial do ser humano e abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção.
Os filósofos pré-socráticos (assim chamados por antecederem Sócrates, filósofo grego) preocupavam-se em definir a relação do homem com o mundo através da percepção. Discutiam se o mundo existe porque o homem o vê ou se o homem vê um mundo que já existe. Havia uma oposição entre os idealistas (a idéia forma o mundo) e os materialistas (a matéria que forma o mundo já é dada para a percepção).
Mas é com Sócrates (469-399 a.e.c.) que a Psicologia na Antiguidade ganha consistência. Sua principal preocupação era com o limite que separa o homem dos animais. Desta forma, postulava que a principal característica humana era a razão. A razão permitia ao homem sobrepor-se aos instintos, que seriam a base da irracionalidade. Ao definir a razão como peculiaridade do homem ou como essência humana, Sócrates abre um caminho que seria muito explorado pela Psicologia. As teorias da consciência são, de certa forma, frutos dessa primeira sistematização na Filosofia.
O passo seguinte é dado por Platão (427-347 a.e.c.), discípulo de Sócrates. Esse filósofo procurou definir um “lugar” para a razão no nosso próprio corpo.
Definiu esse lugar como sendo a cabeça, onde se encontra a alma do homem. A medula seria, portanto, o elemento de ligação da alma com o corpo. Este elemento de ligação era necessário porque Platão concebia a alma separada do corpo. Quando alguém morria, a matéria (o corpo) desaparecia, mas a alma ficava livre para ocupar outro corpo. Aristóteles (384-322 a.e.c), discípulo de Platão, foi um dos mais importantes pensadores da história da Filosofia. Sua contribuição foi inovadora ao postular que alma e corpo não podem ser dissociados. Para Aristóteles, a psyché seria o princípio ativo da vida.
Tudo aquilo que cresce, se reproduz e se alimenta possui a sua psyché ou alma. Desta forma, os vegetais, os animais e o homem teriam alma. Os vegetais teriam a alma vegetativa, que se define pela função de alimentação e reprodução. Os animais teriam essa alma e a alma sensitiva, que tem a função de percepção e movimento. E o homem teria os dois níveis anteriores e a alma racional, que tem a função pensante.
Esse filósofo chegou a estudar as diferenças entre a razão, a percepção e as sensações. Esse estudo está sistematizado no Da anima, que pode ser considerado o primeiro tratado em Psicologia. [pg 33] Portanto, 2 300 anos antes do advento da Psicologia científica, os gregos já haviam formulado duas “teorias”: a platônica, que postulava a imortalidade da alma e a concebia separada do corpo, e a aristotélica, que afirmava a mortalidade da alma e a sua relação de pertencimento ao corpo.
A Psicologia no Império romano e na Idade média
Às vésperas da era cristã, surge um novo império que iria dominar a Grécia, parte da Europa e do Oriente Médio: o Império Romano. Uma das principais características desse período é o aparecimento e desenvolvimento do cristianismo — uma força religiosa que passa a força política dominante. Mesmo com as invasões bárbaras, por volta de 400 e.c., que levam à desorganização econômica e ao esfacelamento dos territórios, o cristianismo sobrevive e até se fortalece, tornando-se a religião principal da Idade Média, período que então se inicia. [pg. 34]
E falar de Psicologia nesse período é relacioná-la ao conhecimento religioso, já que, ao lado do poder econômico e político, a Igreja Católica também monopolizava o saber e, conseqüentemente, o estudo do psiquismo.
Nesse sentido, dois grandes filósofos representam esse período: Santo Agostinho (354-430) e São Tomás de Aquino (1225-1274). Santo Agostinho, inspirado em Platão, também fazia uma cisão entre alma e corpo.
Entretanto, para ele, a alma não era somente a sede da razão, mas a prova de uma manifestação divina no homem. A alma era imortal por ser o elemento que liga o homem a Deus. E, sendo a alma também a sede do pensamento, a Igreja passa a se preocupar também com sua compreensão.
São Tomás de Aquino viveu em um período que prenunciava a ruptura da Igreja Católica, o aparecimento do protestantismo — uma época que preparava a transição para o capitalismo, com a revolução francesa e a revolução industrial na Inglaterra. Essa crise econômica e social leva ao questionamento da Igreja e dos conhecimentos produzidos por ela.
Dessa forma, foi preciso encontrar novas justificativas para a relação entre Deus e o homem. São Tomás de Aquino foi buscar em Aristóteles a distinção entre essência e existência. Como o filósofo grego, considera que o homem, na sua essência, busca a perfeição através de sua existência. Porém, introduzindo o ponto de vista religioso, ao contrário de Aristóteles, afirma que somente Deus seria capaz de reunir a essência e a existência, em termos de igualdade. Portanto, a busca de perfeição pelo homem seria a busca de Deus. São Tomás de Aquino encontra argumentos racionais para justificar os dogmas da Igreja e continua garantindo para ela o monopólio do estudo do psiquismo.
A Psicologia no renascimento
Pouco mais de 200 anos após a morte de São Tomás de Aquino, tem início uma época de transformações radicais no mundo europeu. É o Renascimento ou Renascença. O mercantilismo leva à descoberta de novas terras (a América, o caminho para as Índias, a rota [pg. 35] do Pacífico), e isto propicia a acumulação de riquezas pelas nações em formação, como França, Itália, Espanha, Inglaterra. Na transição para o capitalismo, começa a emergir uma nova forma de organização econômica e social. Dá-se, também, um processo de valorização do homem.
As transformações ocorrem em todos os setores da produção humana. Por volta de 1300, Dante escreve A Divina Comédia; entre 1475 e 1478, Leonardo da Vinci pinta o quadro Anunciação; em 1484, Boticelli pinta o Nascimento de Vênus; em 1501, Michelangelo esculpe o Davi; e, em 1513, Maquiavel escreve O Príncipe, obra clássica da política.
As ciências também conhecem um grande avanço. Em 1543, Copérnico causa uma revolução no conhecimento humano mostrando que o nosso planeta não é o centro do universo. Em 1610, Galileu estuda a queda dos corpos, realizando as primeiras experiências da Física moderna. Esse avanço na produção de conhecimentos propicia o início da sistematização do conhecimento científico — começam a se estabelecer métodos e regras básicas para a construção do conhecimento científico.
Neste período, René Descartes (1596-1659), um dos filósofos que mais contribuiu para o avanço da ciência, postula a separação entre mente (alma, espírito) e corpo, afirmando que o homem possui uma substância material e uma substância pensante, e que o corpo, desprovido do espírito, é apenas uma máquina. Esse dualismo mente-corpo torna possível o estudo do corpo humano morto, o que era impensável nos séculos anteriores (o corpo era considerado sagrado pela Igreja, por ser a sede da alma), e dessa forma possibilita o avanço da Anatomia e da Fisiologia, que iria contribuir em muito para o progresso da própria Psicologia. [pg. 36]
A Origem da Psicologia científica
No século 19, destaca-se o papel da ciência, e seu avanço tornasse necessário. O crescimento da nova ordem econômica — o capitalismo — traz consigo o processo de industrialização, para o qual a ciência deveria dar respostas e soluções práticas no campo da técnica. Há, então, um impulso muito grande para o desenvolvimento da ciência, enquanto um sustentáculo da nova ordem econômica e social, e dos problemas colocados por ela.
Para uma melhor compreensão, retomemos algumas características da sociedade feudal e capitalista emergente, sendo esta responsável por mudanças que marcariam a história da humanidade.
Na sociedade feudal, com modo de produção voltado para a subsistência, a terra era a principal fonte de produção. A relação do senhor e do servo era típica de uma economia fechada, na qual uma hierarquia rígida estava estabelecida, não havendo mobilidade social.
Era uma sociedade estável, em que predominava uma visão de um universo estático — um mundo natural organizado e hierárquico, em que a verdade era sempre decorrente de revelações. Nesse mundo vivia um homem que tinha seu lugar social definido a partir do nascimento. A razão estava submetida à fé como garantia de centralização do poder. A autoridade era o critério de verdade. Esse mundo fechado e esse universo finito refletiam e justificavam a hierarquia social inquestionável do feudo.
O capitalismo pôs esse mundo em movimento, com a necessidade de abastecer mercados e produzir cada vez mais: buscou novas matérias-primas na Natureza; criou necessidades; contratou o trabalho de muitos que, por sua vez, tornavam-se consumidores das mercadorias produzidas; questionou as hierarquias para derrubar a nobreza e o clero de seus lugares há tantos séculos estabilizados.
O universo também foi posto em movimento. O Sol tornou-se o centro do universo, que passou a ser visto sem hierarquizações. O homem, por sua vez, deixou de ser o centro do universo (antropocentrismo), passando a ser concebido como um ser livre, capaz de construir seu futuro. O servo, liberto de seu vínculo com a terra, pôde escolher seu trabalho e seu lugar social. Com isso, o capitalismo tornou todos os homens consumidores, em potencial, das mercadorias produzidas.
O conhecimento tornou-se independente da fé. Os dogmas da Igreja foram questionados. O mundo se moveu. A racionalidade do homem apareceu, então, como a grande possibilidade de construção do conhecimento. [pg. 37]
A burguesia, que disputava o poder e surgia como nova classe social e econômica, defendia a emancipação do homem para emancipares também. Era preciso quebrar a idéia de universo estável para poder transformá-lo. Era preciso questionar a Natureza como algo dado para viabilizar a sua exploração em busca de matérias-primas.
Estavam dadas as condições materiais para o desenvolvimento da ciência moderna. As idéias dominantes fermentaram essa construção: o conhecimento como fruto da razão; a possibilidade de desvendar a Natureza e suas leis pela observação rigorosa e objetiva. A busca de um método rigoroso, que possibilitasse a observação para a descoberta dessas leis, apontava a necessidade de os homens construírem novas formas de produzir conhecimento — que não era mais estabelecido pelos dogmas religiosos e/ou pela autoridade eclesial. Sentiu-se necessidade da ciência.
Nesse período, surgem homens como Hegel, que demonstra a importância da História para a compreensão do homem, e Darwin, que enterra o antropocentrismo com sua tese evolucionista. A ciência avança tanto, que se torna um referencial para a visão de mundo. A partir dessa época, a noção de verdade passa, necessariamente, a contar com o aval da ciência. A própria Filosofia adapta-se aos novos tempos, com o surgimento do Positivismo de Augusto Comte, que postulava a necessidade de maior rigor científico na construção dos conhecimentos nas ciências humanas. Desta forma, propunha o método da ciência natural, a Física, como modelo de construção de conhecimento. [pg. 38] É em meados do século 19 que os problemas e temas da Psicologia, até então estudados exclusivamente pelos filósofos, passam a ser, também, investigados pela Fisiologia e pela Neurofisiologia em particular. Os avanços que atingiram também essa área levaram à formulação de teorias sobre o sistema nervoso central, demonstrando que o pensamento, as percepções e os sentimentos humanos eram produtos desse sistema.
É preciso lembrar que esse mundo capitalista trouxe consigo a máquina. Ah! A máquina! Que criação fantástica do homem! E foi tão fantástica que passou a determinar a forma de ver o mundo. O mundo como uma máquina; o mundo como um relógio. Todo o universo passou a ser pensado como uma máquina, isto é, podemos conhecer o seu funcionamento, a sua regularidade, o que nos possibilita o conhecimento de suas leis. Esta forma de pensar atingiu também as ciências do homem.
Para se conhecer o psiquismo humano passa a ser necessário compreender os mecanismos e o funcionamento da máquina de pensar do homem — seu cérebro. Assim, a Psicologia começa a trilhar os caminhos da Fisiologia, Neuroanatomia e Neurofisiologia.
Algumas descobertas são extremamente relevantes para a Psicologia. Por exemplo, por volta de 1846, a Neurologia descobre que a doença mental é fruto da ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais.
A Neuroanatomia descobre que a atividade motora nem sempre está ligada à consciência, por não estar necessariamente na dependência dos centros cerebrais superiores. Por exemplo, quando alguém queima a mão em uma chapa quente, primeiro tira-a da chapa para depois perceber o que aconteceu. Esse fenômeno chama-se reflexo, e o estímulo que chega à medula espinhal, antes de chegar aos centros cerebrais superiores, recebe uma ordem para a resposta, que é tirar a mão.
O caminho natural que os fisiologistas da época seguiam, quando passavam a se interessar pelo fenômeno psicológico enquanto estudo científico, era a Psicofísica. Estudavam, por exemplo, a fisiologia do olho e a percepção das cores. As cores eram estudadas como fenômeno da Física, e a percepção, como fenômeno da Psicologia.
Por volta de 1860, temos a formulação de uma importante lei no campo da Psicofísica. É a Lei de Fechner-Weber, que estabelece a relação entre estímulo e sensação, permitindo a sua mensuração. Segundo Fechner e Weber, a diferença que sentimos ao aumentarmos a intensidade de iluminação de uma lâmpada de 100 para 110 [pg. 39] watts será a mesma sentida quando aumentamos a intensidade de iluminação de 1000 para 1100 watts, isto é, a percepção aumenta em progressão aritmética, enquanto o estímulo varia em progressão geométrica.
Essa lei teve muita importância na história da Psicologia porque instaurou a possibilidade de medida do fenômeno psicológico, o que até então era considerado impossível. Dessa forma, os fenômenos psicológicos vão adquirindo status de científicos, porque, para a concepção de ciência da época, o que não era mensurável não era passível de estudo científico.
Outra contribuição muito importante nesses primórdios da Psicologia científica é a de Wilhelm Wundt (1832-1926). Wundt cria na Universidade de Leipzig, na Alemanha, o primeiro laboratório para realizar experimentos na área de Psicofisiologia. Por esse fato e por sua extensa produção teórica na área, ele é considerado o pai da Psicologia moderna ou científica.
Wundt desenvolve a concepção do paralelismo psicofísico, segundo a qual aos fenômenos mentais correspondem fenômenos orgânicos. Por exemplo, uma estimulação física, como uma picada de agulha na pele de um indivíduo, teria uma correspondência na mente deste indivíduo. Para explorar a mente ou consciência do indivíduo, Wundt cria um método que denomina introspeccionismo. Nesse método, o experimentador pergunta ao sujeito, especialmente treinado para a auto-observação, os caminhos percorridos no seu interior por uma estimulação sensorial (a picada da agulha, por exemplo).
A Psicologia científica
O berço da Psicologia moderna foi a Alemanha do final do século 19. Wundt, Weber e Fechner trabalharam juntos na Universidade de Leipzig. Seguiram para aquele país muitos estudiosos dessa nova ciência, como o inglês Edward B. Titchner e o estadunidense William James.
Seu status de ciência é obtido à medida que se “liberta” da Filosofia, que marcou sua história até aqui, e atrai novos estudiosos e pesquisadores, que, sob os novos padrões de produção de conhecimento, passam a: [pg. 40]
• definir seu objeto de estudo (o comportamento, a vida psíquica, a consciência);
• delimitar seu campo de estudo, diferenciando-o de outras áreas de conhecimento, como a Filosofia e a Fisiologia;
• formular métodos de estudo desse objeto;
• formular teorias enquanto um corpo consistente de conhecimentos na área.
Essas teorias devem obedecer aos critérios básicos da metodologia científica, isto é, deve-se buscar a neutralidade do conhecimento científico, os dados devem ser passíveis de comprovação, e o conhecimento deve ser cumulativo e servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisas na área.
Os pioneiros da Psicologia procuraram, dentro das possibilidades, atingir tais critérios e formular teorias. Entretanto os conhecimentos produzidos inicialmente caracterizaram-se, muito mais, como postura metodológica que norteava a pesquisa e a construção teórica.
Embora a Psicologia científica tenha nascido na Alemanha, é nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rápido crescimento, resultado do grande avanço econômico que colocou os Estados Unidos na vanguarda do sistema capitalista. É ali que surgem as primeiras abordagens ou escolas em Psicologia, as quais deram origem às inúmeras teorias que existem atualmente.
Essas abordagens são: o Funcionalismo, de William James (1842-1910), o Estruturalismo, de Edward Titchner (1867-1927) e o Associacionismo, de Edward L. Thorndike (1874-1949).
O Funcionalismo
O Funcionalismo é considerado como a primeira sistematização genuinamente estadunidense de conhecimentos em Psicologia. Uma sociedade que exigia o pragmatismo para seu desenvolvimento econômico acaba por exigir dos cientistas estadunidenses o mesmo espírito.
Desse modo, para a escola funcionalista de W. James, importa responder “o que fazem os homens” e “por que o fazem”. Para responder a isto, W. James elege a consciência como o centro de suas preocupações e busca a compreensão de seu funcionamento, na medida em que o homem a usa para adaptar-se ao meio. [pg. 41]
O Estruturalismo
O Estruturalismo está preocupado com a compreensão do mesmo fenômeno que o Funcionalismo: a consciência. Mas, diferentemente de W. James, Titchner irá estudá-la em seus aspectos estruturais, isto é, os estados elementares da consciência como estruturas do sistema nervoso central. Esta escola foi inaugurada por Wundt, mas foi Titchner, seguidor de Wundt, quem usou o termo estruturalismo pela primeira vez, no sentido de diferenciá-la do Funcionalismo. O método de observação de Titchner, assim como o de Wundt, é o introspeccionismo, e os conhecimentos psicológicos produzidos são eminentemente experimentais, isto é, produzidos a partir do laboratório.
O Associacionismo
O principal representante do Associacionismo é Edward L. Thorndike, e sua importância está em ter sido o formulador de uma primeira teoria de aprendizagem na Psicologia. Sua produção de conhecimentos pautava-se por uma visão de utilidade deste conhecimento, muito mais do que por questões filosóficas que perpassam a Psicologia.
O termo associacionismo origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação das idéias — das mais simples às mais complexas. Assim, para aprender um conteúdo complexo, a pessoa precisaria primeiro aprender as idéias mais simples, que estariam associadas àquele conteúdo.
Thorndike formulou a Lei do Efeito, que seria de grande utilidade para a Psicologia Comportamentalista. De acordo com essa lei, todo comportamento de um organismo vivo (um homem, um pombo, um rato etc.) tende a se repetir, se nós recompensarmos (efeito) o organismo assim que este emitir o comportamento. Por outro lado, o comportamento tenderá a não acontecer, se o organismo for castigado (efeito) após sua ocorrência. E, pela Lei do Efeito, o organismo irá associar essas situações com outras semelhantes. Por exemplo, se, ao apertarmos um dos botões do rádio, formos “premiados” com música, em outras oportunidades apertaremos o mesmo botão, bem como generalizaremos essa aprendizagem para outros aparelhos, como toca-discos, gravadores etc. [pg. 42]
As principais teorias da Psicologia no século XX
A Psicologia enquanto um ramo da Filosofia estudava a alma. A Psicologia científica nasce quando, de acordo com os padrões de ciência do século 19, Wundt preconiza a Psicologia “sem alma”. O conhecimento tido como científico passa então a ser aquele produzido em laboratórios, com o uso de instrumentos de observação e medição. Se antes a Psicologia estava subordinada à Filosofia, a partir daquele século ela passa a ligar-se a especialidades da Medicina, que assumira, antes da Psicologia, o método de investigação das ciências naturais como critério rigoroso de construção do conhecimento.
Essa Psicologia científica, que se constituiu de três escolas — Associacionismo, Estruturalismo e Funcionalismo —, foi substituída, no século 20, por novas teorias.
As três mais importantes tendências teóricas da Psicologia neste século são consideradas por inúmeros autores como sendo o Behaviorismo ou Teoria (S-R) (do inglês Stimuli-Respond — Estímulo- Resposta), a Gestalt e a Psicanálise.
- O Behaviorismo, que nasce com Watson e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos, em função de suas aplicações práticas, tornou-se importante por ter definido o fato psicológico, de modo concreto, a partir da noção de comportamento (behavior);
- A Gestalt, que tem seu berço na Europa, surge como uma negação da fragmentação das ações e processos humanos, realizada pelas tendências da Psicologia científica do século 19, postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. A Gestalt é a tendência teórica mais ligada à Filosofia.
- A Psicanálise, que nasce com Freud, na Áustria, a partir da prática médica, recupera para a Psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da Psicologia como ciência da consciência e da razão.
Nos próximos três capítulos, desenvolveremos cada uma dessas principais tendências teóricas, a partir da apresentação de alguns de seus conceitos básicos. Em um quarto capítulo, apresentaremos a Psicologia Sócio-Histórica como uma das vertentes teóricas em construção na Psicologia atual. [pg. 43]
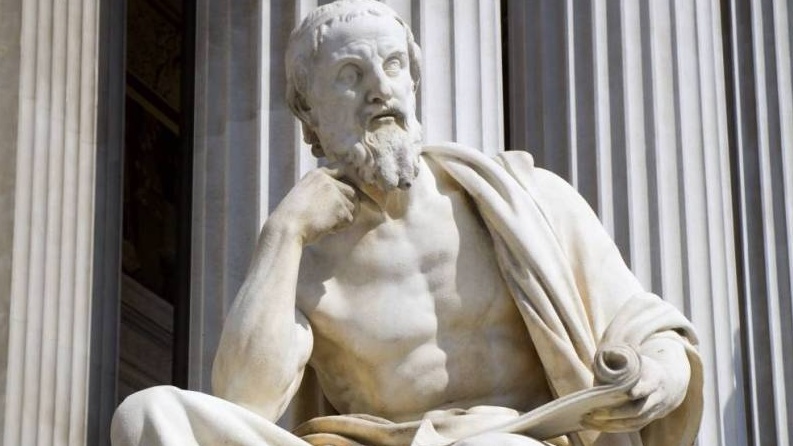
Heródoto é chamado o pai da história. Não menos justamente lhe chamaríamos o pai da geografia. Apresentou aos seus contemporâneos dos meados do século V todo o mundo bárbaro — "bárbaro" tomado no simples sentido de entrangeiro, no sentido em que os Gregos diziam que a andorinha "fala bárbaro". Apresentou aos seus leitores todo o velho continente desconhecido, desconhecido e por vezes imaginário, os três velhos continentes que ele não conpreende porque os enumeram assim, uma vez que a terra, diz ele, é una. Escreve: "Não posso aliás compreender porque à terra, sendo una, lhe deram três nomes diferentes." Estes três nomes são Europa, Ásia e Líbia, o que quer dizer África. A observação é justa antes de 1492.
A terra é una, ao mesmo tempo una e diversa, povoada de raças e de nações que são governadas pelas mesmas necessidades elementares, mas que as satisfazem na variedade infinita de costumes diferentes. O projecto essencial de Heródoto era em primeiro lugar contar as grandes proezas das guerras persas. Estas guerras situam-se aproximadamente na época do seu nascimento (nasceu por alturas de 480) e ocupam quase exactamente a primeira metade do século V. Para a jovem Grécia, foram uma provação decisiva: não foram somente os Medas e os Persas, foi a massa enorme dos povos de toda a Ásia Anterior, da índia ocidental ao mar Egeu, povos nessa época submetidos aos reis da Pérsia, sem esquecer o Egipto súbdito da Pérsia também, que esses reis — o Grande Rei, como diziam os Gregos — lançaram contra a Grécia. Esta provação foi dominada pelos Gregos. Combateram o invasor como se se batessem contra a maré. Muitas vezes um contra dez, salvando assim esse [327] bravio amor da independência que, segundo Heródoto, distingue os Gregos entre todos os povos da Terra, faz deles, não súbditos dos soberanos da Ásia e do Egipto, mas cidadãos livres. Heródoto, ao distinguir, por esta característica, os Gregos do mundo "bárbaro", não se engana.
Os Gregos quiseram continuar livres, e foi por isso, em condições difíceis, não só de inferioridade numérica assustadora, mas de divisões internas crónicas que opunham cada uma das cidades às outras e, em cada cidade, os aristocratas aos democratas, que eles alcançaram a vitória. Esta vitória foi-lhes dada pelo seu arraigado amor da liberdade. Heródoto sabe-o e di-lo claramente: é por causa disso que ama o seu povo.
Mas se Heródoto ama o seu povo grego, nem por isso é menos curioso de conhecer e dar a conhecer a todos os gregos os outros povos, muito mais poderosos e, alguns deles, de civilização mais antiga que a dos Gregos. É, por outro lado, curioso da diversidade e da singularidade dos costumes do mundo estrangeiro. E é por essa razão que faz preceder a sua história das guerras persas de um vasto inquérito sobre as nações que atacaram a Grécia, e que os Gregos, nessa época, conheciam ainda muito mal. Isto leva-o, gradualmente, a alargar mais o seu inquérito e a informar os seus leitores sobre o mundo inteiro conhecido no tempo.
O título da sua obra é precisamente Inquéritos, em grego Historiai. palavra que na época não tem outro sentido. Antes de Heródoto, a história — a investigação histórica — não existe. Ao dar o título de Inquéritos à sua obra. ao mesmo tempo de história e de geografia, Heródoto assenta estas duas ciências sobre a investigação científica. Não é menos verdade que o temperamento de Heródoto o leva em primeiro lugar e ao longo de toda a obra para a investigação geográfica ou etnográfica, antes de o incitar à busca da verdade histórica.
De que é curioso Heródoto? Pode-se responder em bloco e sem receio de engano: de tudo. As crenças, os costumes, os monumentos, isso a que nós chamamos "os grandes trabalhos", a natureza do solo, o clima, a fauna e a flora (sobretudo a fauna), a extensão dos desertos, as viagens de descoberta, as extremidades da Terra, os grandes rios de fontes desconhecidas — e por toda a parte e sobretudo a actividade do homem, as suas condições de existência, a sua compleição física, os seus prazeres, os seus deuses, o seu passado milenário ou, pelo contrário, o carácter primitivo do seu geênero de vida. O homem e a sua obra, o homem e a sua aventura, o homem situado no seu meio natural, estudado na estranheza dos seus costumes: eis o centro de interesse dos [328] Inquéritos de Heródoto. Pela sua inclinação à pintura do homem de todos os países, de todos os povos, Heródoto é uma das figuras mais sedutoras do humanismo antigo.
Empreguei a palavra curiosidade, que, no fim de contas, é insuficiente para definir a nossa personagem. Voltarei ao assunto adiante para a explicar de modo mais preciso. Mas tendo usado de passagem a expressão verdade histórica, quero explicar-me primeiro sobre uma palavra que a Heródoto se aplica, a meu ver com demasiada facilidade: Heródoto, diz-se, é crédulo. É certo que, com a sua boa vontade de inquiridor consciencioso, é ainda duma ingenuidade de criança. A sua credulidade parece primeiro tão infinita como a curiosidade, e não se fala de uma sem a outra. De todas as coisas retomadas e verificadas pela ciência mais moderna, devemos dizer que, pelo menos nas que viu com os seus próprios olhos, é muito raro que se engane. Em compensação, relata sem discernimento, sem espírito crítico a maior parte das vezes as inumeráveis histórias que lhe contam. Deixa-se iludir pelos sacerdotes muitas vezes ignorantes que, em diversos países que visitou, lhe serviam de cicerone. Frequentemente, mesmo, pelo primeiro que aparecia. Ama ainda demasiadamente o maravilhoso, de que estão cheias as narrativas que lhe fazem, para saber repeli-lo com decisão. Quanto mais maravilhosa é uma história, mais ela o encanta — e apressa-se a contá-la, por mais inverosímil que a considere. Aliás, se a não contasse, julgaria faltar ao seu ofício de inquiridor. Paga-se dando a entender que não caiu no logro. Veja-se a reserva com que conclui a brilhante história egípcia do rei e dos dois ladrões: "Se estas palavras parecem críveis a alguém, que creia nelas; por mim, não tenho outro fim em toda esta obra (a reserva vale. pois. para o conjunto da sua obra) que escrever o que ouço dizer a uns e a outros."
A história de Heródoto constitui pois uma mistura singular de probidade científica e de credulidade. Procura a verdade honestamente, tem um trabalho imenso para a perseguir até ao fim do mundo. Mas ao mesmo tempo conservou o gosto dos povos ainda jovens pelo maravilhoso.
Quereria, paradoxalmente, que a verdade que procura tivesse, se assim se pode dizer, um carácter maravilhoso, quereria que os seus inquéritos lhe rendessem maravilhoso em profusão. Para o pai da história, o cúmulo do histórico seria, em suma, o maravilhoso garantido por testemunhas dignas de crédito. Parece desejar que a história seja uma espécie de conto de fadas, que se pudesse provar terrealmente acontecido. [329] Das duas paixões de Heródoto — o gosto das belas histórias, dos povos estranhos, e, por outro lado, o gosto do verdadeiro — , é por de mais evidente que uma prejudica a outra. Daí, nos seus Inquéritos, tantas narrativas extravagantes (e aliás divertidas) recebidas de informadores que facilmente abusaram duma curiosidade tão cândida.
Uma única espécie de erro não se encontra nunca no nosso autor: o erro voluntário. Heródoto nunca mente. Engana-se, compreende mal, atrapalha-se nas suas notas, sobretudo deixa-se enganar com uma facilidade desconcertante, desde que o divirtam. Mas apesar de todos os trabalhos eruditos que o submeteram a uma crítica severa, e mesmo desconfiada, Heródoto nunca foi apanhado em flagrante delito de mentira. É um homem honesto, muito imaginativo também, mas perfeitamente verídico.
Virtude meritória. Porque aos seus leitores, que ignoravam praticamente tudo dos países donde regressou, era fácil contar, quisesse-o ele, fosse o que fosse. "Quem vem de longe, mente facilmente!" diz-se. Heródoto não cedeu a esta tentação em que caem tantos viajantes.
Heródoto viajou muito. Os testemunhos que nos traz, foi buscá-los muito longe. Conquistou a Terra com os seus olhos e os seus pés; muitas vezes, sem dúvida, de burro e a cavalo: muitas vezes, também, de barco. Pôde-se fixar o itinerário da sua viagem pelo Egipto, toda ela feita durante o período da inundação do Nilo. Subiu o vale do Nilo até Elefantina (Assuão), que é o limite extremo do Egipto antigo, próximo da primeira catarata. E isto representa um milhar de quilômetros. Do lado leste foi pelo menos até Babilônia — o que dá, a partir do mar Egeu, uns dois mil quilômetros, e talvez mais longe, até Susa. mas disso não há a certeza. No norte, visitou as colônias gregas construídas na orla da actual Ucrânia, no litoral do mar Negro. É provável que tenha subido o curso inferior de um dos grandes rios da estepe ucraniana, o Dniepre ou Borístenes, até à região de Kiev.
Enfim, no ocidente participou na fundação duma colônia grega na Itália do Sul. Visitou também a Cirenaica e sem dúvida a Tripolitânia actuais.
E pois um inquérito pessoal, um inquérito nos locais, que o nosso geógrafo empreende. Através da sua narrativa, incessantemente o ouvimos fazer perguntas, olhar coisas novas. Assim, no Egipto, entra na loja de um embalsamador e informa-se em pormenor sobre os processos do ofício e sobre o preço das operações. Nos templos, pede que lhe traduzam as incrições, interroga os sacerdotes sobre a história dos faraós. Assiste às festas religiosas do país [330] bebendo com os olhos a cor dos trajes e a forma dos penteados. Ao longo das pirâmides, mede a base a passo e, para as medidas que assim tira, não se engana. Mas quando tem de apreciar a altura a olho, engana-se em muito. E assim por aí fora, em todos os países aonde vai e naqueles aonde não vai, confiando nas narrativas dos viajantes gregos ou bárbaros que tenha podido encontrar em tal ou tal estalagem...
*
Mas basta de reflexões gerais. Heródoto é demasiado concreto para que eu possa comprazer-me nelas por mais tempo. Tentemos indicar os centros de interesse em que convirá deter a nossa preferência. Poderia ser, naturalmente, o Egipto, a respeito do qual é inesgotável. Mas estas histórias egípcias são demasiado conhecidas e eu prefiro levar mais longe o meu leitor. Distinguirei, pois, sem deixar completamente de lado o Egipto (a ele voltarei rapidamente no fim), três centros de interesse do nosso autor, o que não me impedirá de divagar um pouco, à sua maneira, para além deles; esses três países vêm a ser as principais terras cerealíferas da Antiguidade. Esta convergência, mesmo que tenha escapado a Heródoto, assinala claramente de que necessidades dos homens nasceu a ciência geográfica. Nasceu da fome, a atroz fome do mundo antigo, a fome que atirava para fora da sua terra ingrata, e sobretudo mal cultivada e mal distribuída, um dos mais miseráveis e dos mais activos dos
povos de então, o povo grego.
Estas três terras de cereal são o país dos Citas (a Ucrânia), a Mesopotâmia e a África do Norte. É com a ajuda destes três exemplos, e distinguindo nas explicações de Heródoto a parte de exactidão e a parte de erro (e a origem do erro), que vou tentar caracterizar o gênio próprio de Heródoto.
Porque se a geografia nasceu das necessidades do povo grego, nasceu também, como quase sempre, parece-me, no aparecimento de um novo gênero literário ou de uma ciência nova, de um gênio que parece caído do céu. Com isto não quero dizer que este nascimento do gênio seja inexplicável ou "miraculoso", mas apenas que, mesmo produzidas as condições que o permitem, esse nascimento não é de modo algum necessário: poderia não se produzir, e muitas vezes não se produz. Com o que sofrem a literatura e a ciência. [331]
*
Mas tomo à minha volta ao mundo e começo por Babilónia. Heródoto viu a grande cidade de Babilónia. A muralha, diz, é de forma quadrada. Indica a dimensão de um dos lados do quadrado, e esse número daria oitenta e cinco quilómetros para o perímetro, o que é muito exagerado. O perímetro de Babilónia mal atingia vinte quilómetros. Heródoto tem pelos grandes números um gosto de criança ou de meridional. Aliás, declara que no seu tempo essa muralha tinha sido arrasada por Dario. Mas havia restos ainda. Quer saber como era ela feita. Explicaram-lhe que fora construída de tijolos e que, em cada trinta camadas de tijolos, se pusera no betume que servia de ligação um leito de caniços entrelaçados. Ora, o sinal destes caniços, imprimidos no betume, é ainda visível nas ruínas actuais da muralha.
Heródoto descreve Babilónia como uma grande cidade. Era a maior que ele viu e a mais vasta, nessa época, do mundo antigo. Mostra-nos as grandes ruas direitas, que se cortam em ângulo recto. Admira as casas de três ou quatro andares, desconhecidas no seu país. Conhece a existência das duas muralhas paralelas construídas por Nabucodonosor. A espessura total deste duplo cinto era de uns trinta metros. Heródoto, desta vez aquém da realidade, fala em cerca de vinte e cinco metros. Dá cem portas à cidade: engana-se, é nas epopeias que as cidades têm cem portas. De resto, numa muralha parcialmente arrasada, como ele próprio indica, não as pôde contar.
Descreve também, com bastante exactidão, no santuário de Baal ou Bei, a alta torre que nele se eleva, com os seus oito andares sucessivos e a escada que sobe em espiral. Esta torre de Bei, que revive na nossa torre de Babel, conhecemo-la nós pelas escavações e pelos documentos babilónicos. A propósito da sala do último andar, Heródoto tem esta reflexão: "Os sacerdotes acrescentam que o deus vem em pessoa a esta capela. Mas não me parece de acreditar".
Heródoto tenta em seguida enumerar alguns dos reis e rainhas que reinaram em Babilónia. Fala de Semíramis, princesa babilónica que viveu nos séculos IX e VIII, atestada por uma inscrição, e que não é a lendária esposa de Nino, a Semíramis dos jardins suspensos, heroína de tragédias e óperas. Fala também duma outra rainha a quem chama Nitócris e que fez sobre o Eufrates, a montante de Babilónia, trabalhos de fortificação para proteger a cidade contra [332] a crescente ameaça dos Medas. Esta rainha Nitócris não é outra que o nosso rei Nabucodonosor. A forma persa do nome deste rei, que tem uma terminação feminina para o ouvido de um grego, induziu Heródoto em erro. Mas é exacto que esta Nitócris-Nabucodonosor construiu a norte de Babilônia, contra os Medas, diversas obras defensivas, entre as quais a bacia de Sipara, que tanto servia para a irrigação da região como para a defesa da capital.
Em contrapartida, segundo um documento cuneiforme, parece não ter havido cerco da Babilônia por Ciro, como o conta Heródoto numa narrativa que todos conhecem. À aproximação dos exércitos persas, rebentou na cidade uma revolução, e Ciro pôde fazer uma entrada triunfal. Mas Heródoto recolheu sem dúvida no local uma versão da queda de Babilônia mais favorável ao orgulho da grande cidade.
O nosso historiador tentou também informar-se sobre os vencedores e os novos senhores de Babilônia, os Persas. Certamente não foi nunca à Pérsia propriamente dita. isto é, a região de Persépolis e as montanhas do Irão. Também não pretende tê-lo feito. Mas nas estradas do império e nas estalagens de Babilônia (ou de Susa, se chegou até lá) não pôde deixar de encontrar e interrogar numerosos persas, e parece ter tentado comparar as informações de uns com as de outros. As informações que dá sobre a educação e a religião são, com diferenças de pormenor, consideradas exactas pelos historiadores modernos. Por mais sumário que seja o quadro que nos dá dos costumes dos Persas, Heródoto parecer ter entrevisto — não sem surpresa — o ambiente moral da civilização persa.
Sobre a educação, tem esta frase célebre e duma rigorosa exactidão: "Os Persas começam a educação dos seus filhos a partir dos cinco anos, e desta idade até aos vinte anos só lhes ensinam três coisas: montar a cavalo, disparar o arco e dizer a verdade". A religão dos Persas ensinava, com efeito, o amor da verdade, Nada podia impressionar mais um Grego que admirava as "irrepreensíveis mentiras" de Ulisses. Heródoto está igualmente informado sobre a religão de Ormuzd e de Ariman. Sabe que é proibido aos sacerdotes dos Persas matar os animais úteis como o cão, e outros que ele esquece, todos aqueles de que Ormuzd é o criador, ao passo que é acto meritório matar formigas e serpentes, criaturas de Anman.
Vê-se, por estes diversos exemplos, e se nos lembrarmos da recente invasão dos Medas e dos Persas na Grécia, que o termo "curiosidade", que [333] primeiro empreguei para caracterizar Heródoto, começa a tornar-se insuficiente. Esta curiosidade tornou-se espanto, admiração, quer se trate da velha cidade babilónica ou do ambiente moral da civilização persa, tão afastado do que era então o da Grécia. O mesmo som nos é dado pelo longo estudo de Heródoto sobre o Egipto e as suas maravilhas.
*
Antes de passar a outros povos, desejaria indicar a maneira como Heródoto representa a Terra. Vota ao ridículo os autores de Viagens à Volta do Mundo como Hecateu de Mileto, que davam à Terra a forma de um disco chato "perfeitamente circular, como se fosse feita ao torno, e envolvida pelo curso do rio Oceano". Contudo, Heródoto, nesta e noutras passagens, só protesta contra a existência de um rio chamado Oceano e contra a regularidade de um círculo perfeito que seria a forma da Terra. Mas também vê a Terra como um disco e não como uma esfera. A imagem que dela faz, senão perfeitamente circular, parece inclinar-se para a simetria do círculo.
A Ásia, habitada até à índia e prolongada por alguns desertos, é amputada da Indochina e da China: a África é cortada da sua parte meridional. O périplo dos Fenícios, no século VI, e o de Cílax, que é de 509, permitem-lhe decidir que a Ásia do Sul e a África do Sul são rodeadas de água. Ao norte destes dois continentes meridionais alonga-se até à Sibéria, "estendendo-se no sentido do comprimento pelo mesmo espaço que as duas outras partes da Terra", a Europa. Mas Heródoto não pode decidir se ao norte, ao noroeste e a leste esta Europa está rodeada de água.
Eis a passagem que se refere ao primeiro dos périplos que mencionei. Foi Necau II (a quem Heródoto chama Neco), faraó do século VI, que o ordenou: "Os Fenícios", escreve, "tendo embarcado no mar Eritreu (trata-se do golfo Arábico), navegaram pelo mar Austral (o oceano Índico). Quando vinha o Outono, abordavam à região da Líbia (a África) onde se encontravam e semeavam trigo. Esperavam depois o tempo da colheita; e, após as ceifas, voltavam ao mar. Tendo viajado durante dois anos, passaram no terceiro ano as colunas de Hércules e chegaram ao Egipto.
Contaram, no seu regresso, que [334] contornando a Líbia tinham visto o Sol à direita. Este facto não me parece crível; mas talvez outros acreditem." Heródoto, desta vez, faz mal em mostrar-se céptico. Com efeito, dobrando o cabo da Boa Esperança, os marinheiros viram, ao meio-dia, o Sol ao norte, à mão direita: isto porque se encontravam no hemisfério austral. Heródoto não sabe bastante de cosmografia para o compreender. Mas esta circunstância, que não podia ter sido inventada e que se recusa a admitir, garante-nos a autenticidade do périplo da África.
Vem depois, na sua narrativa, o périplo de Cílax, que permite decidir que a Ásia do Sul, como a África, é rodeada de água: "Embarcaram", escreve Heródoto, "em Castapira (cidade do Pendjab, situada sobre um afluente do médio Indo). Desceram o rio, na direcção do levante, até ao mar. (Este rio é o Indo. Será preciso dizer que não corre para leste e que Heródoto ou o confunde com o Ganges ou simplesmente erra?) Dali", continua, "navegando para poente, chegaram enfim, no trigésimo mês após a partida, ao mesmo porto onde os Fenícios de que já falei tinham em tempos embarcado, por ordem do rei do Egipto, para darem a volta à Líbia."
*
Falemos agora dos citas. Instalados desde os finais do século VIII nas estepes da Ucrânia, dos Cárpatos à curva do Dom (o Tánais de Heródoto), os Citas eram ainda, no século V, quase ignorados dos Gregos. O nosso viajante consagrou à descrição da terra e dos costumes uma parte importante da sua obra. Para fazer o seu inquérito, Heródoto dirigiu-se às cidades gregas das margens do mar Negro; fixou-se em Ólbia, a mais importante dessas praças de comércio, construída à entrada da região cita, no curso inferior do Dniepre. Não é impossível, como já disse, que, subindo com algum comboio o curso do rio, ele tenha atingido a região onde se encontravam, não longe de Kiev, as sepulturas dos reis citas que descreve com grande rigor.
Em todo o caso, a sua informação sobre os Citas parece segura. A pintura dos costumes só raramente apresenta traços lendários. As escavações das sepulturas (kurganes) da região — a exploração, entre outros, do sítio de Kul Oba, perto de Kertch — confirmaram o seu testemunho, no local exacto onde [335] podia ser confirmado. Quanto aos ritos e às crenças estranhas que anota com deleite, ainda recentemente foram encontrados em aglomerados do mesmo nível de civilização que tinham os Citas do tempo.
O que Heródoto salienta em primeiro lugar é o engenho dos Citas no domínio da resistência à invasão. Este engenho consiste em recuar diante do agressor, em não se deixarem alcançar por ele senão quando o querem, em arrastá-lo assim pelas vastas planuras até ao momento em que estiverem em condições de o combater. Nisto são ajudados não só pela natureza da região, que é uma vasta planície herbosa, mas também pelos grandes rios que a atravessam e que constituem excelentes linhas de resistência. Heródoto enumera estes rios e alguns dos seus afluentes, do Danúbio ao Dom. Há mesmo na sua enumeração um nome a mais.
Eis — porque é preciso escolher em matéria tão abundante — alguns pormenores sobre a adivinhação entre os Citas: "Quando o rei dos Citas adoece, manda chamar três dos mais célebres adivinhos que exercem a sua arte da maneira como contámos. Respondem, geralmente, que este ou aquele, de quem dizem o nome, jurou falso ao jurar pela morada real. Com efeito, os Citas juram pela morada real quando querem fazer o maior de todos os juramentos.
"Imediatamente deitam mão do acusado e o levam perante o rei. Aí os adivinhos declaram que ele havia feito um juramento falso jurando pela morada real, e que, assim, é ele a causa da doença do rei. O acusado nega o crime e indigna-se de que lhe atribuam. O rei manda então buscar duas vezes outros tantos adivinhos. Se estes acusam também o acusado de perjúrio pelas regras da adivinhação, cortam-lhe a cabeça imediatamente e os seus bens são confiscados em proveito dos primeiros adivinhos. Se os adivinhos que o rei convocou em segundo lugar o declaram inocente, mandam-se vir outros, e outros ainda; e se ele é ilibado da acusação pelo maior número a sentença que o absolve é também a sentença de morte para os primeiros adivinhos."
Vê-se que a questão da verdade da adivinhação é decidida por maioria de votantes. Heródoto prossegue:
"Eis como os fazem morrer. Enche-se de lenha miúda um carro a que se atrelam bois; metem-se os adivinhos no meio das achas, de pés atados, as mãos ligadas atrás das costas, e uma mordaça na boca. Deita-se fogo à lenha e espanta-se os bois. Alguns destes animais são queimados com os adivinhos; outros salvam-se meio queimados, quando as labaredas consumiram o timão. É assim que se queimam os adivinhos, não só por [336] este crime, mas ainda por outras causas; e chamam-lhes falsos adivinhos. O rei manda matar os filhos machos de todos aqueles a quem pune de morte; mas não faz nenhum mal às raparigas."
O que mais impresiona em tais narrativas é a calma imperturbável com que Heródoto conta as piores crueldades.
Eis agora o que o nosso historiador nos conta dos túmulos dos reis citas:
"Os túmulos dos reis estão no cantão dos Gerrhenses (na região de Kiev, ao que parece), no local onde o Borístenes começa a ser navegável. Quando o rei morre, fazem nesse lugar uma grande fossa quadrada. Acabada a fossa, untam o corpo de cera; o ventre, previamente aberto e esvaziado das entranhas, é cheio de junça cortada, de perfumes, de sementes de aipo e de anis, e outra vez cosido. Transporta-se em seguida o corpo num carro para outra província, cujos habitantes, como os precedentes, cortam um pouco a orelha, raspam os cabelos à volta da cabeça, fazem incisões nos braços, arranham a testa e o nariz, e espetam flechas através da mão esquerda. Dali leva-se o corpo do rei no seu carro para outra província dos Estados, e os habitantes daquela aonde fora primeiramente levado seguem o cortejo. Quando assim o fizeram percorrer todos os aglomerados submetidos à sua obediência, chega ao país dos Gerrhenses, na extremidade da Cítia, e colocam-no no lugar da sepultura, sobre um leito de verdura. Espetam-se, em seguida, lanças de um lado e do outro do corpo e sobre elas traves de madeira, que se cobrem de canas entralaçadas. Na câmara funerária assim preparada, colocam-se, depois de terem sido estrangulados, uma das concubinas do rei, o seu copeiro, um cozinheiro, um escudeiro, um servo, um correio, cavalos, numa palavra, algumas amostras de tudo quanto ele usava, finalmente taças de ouro (nenhuma prata e nenhum cobre). Feito isto, enchem a fossa de terra, e todos trabalham, à porfia, para erguer, no lugar da sepultura, um cômoro muito alto."
Nos numerosos kurganes explorados na Rússia meridional, encontraram muitos esqueletos humanos, ossadas de cavalos e uma profusão de objectos de ouro. No ano de 920, um árabe, chamado Ibn Foszlan. diz-nos que os ritos funerários descritos por Heródoto estavam ainda em uso pelos chefes dos aglomerados ucranianos. Este viajante árabe viu queimar, ao mesmo tempo que o senhor, uma das suas concubinas, previamente estrangulada.
Depois, passado um ano, recomeça-se a cerimônia, mas estrangulando, desta vez. cinquenta dos servidores mais preciosos do rei, assim como um número igual de cavalos. Estes cinquenta servidores são empalados, sobre os cinquenta cavalos igualmente empalados, em círculo em volta do túmulo. Uma [337] vez que eram colocados fora dos túmulos, não foram nunca encontrados estes troféus. O evidente prazer que Heródoto mostra ao contar sem vacilação tais histórias, é um dos traços distintivos da civilização grega. Não é apenas pelos aspectos nobres da sua natureza que os Gregos se sentem próximos dos outros homens, é por todos os aspectos ao mesmo tempo. Os mais cruéis não são os menos importantes. O seu humanismo não é de sentido único — o sentido do idealismo.
*
Após os Citas, Heródoto enumera as nações que ao sul, ao norte, a leste e a oeste ladeiam o domínio cita. Da maior parte delas, salvo talvez dos Getas. na embocadura do Danúbio, ou dos Tauros, na actual Crimeia. só fala por outiva. A maior parte da sua informação vem-lhe dos traficantes gregos que do Danúbio ao Volga percorriam a terra ucraniana, comprando os cereais, as peles, os escravos, vendendo, nos seus belos vasos pintados, o azeite e o vinho, e por vezes a bugiaria dos bazares egípcios. A narrativa de Heródoto, nesta parte dos seus Inquéritos, apresenta reservas, mas dá por vezes uma informação sugestiva.
Eis os Neuros: "Estes Neuros dão todo o ar de serem bruxos. A acreditar nos Citas, ou nos gregos instalados na Cítia, cada neuro transforma-se uma vez por ano em lobo e assim fica por alguns dias, retomando depois a sua primeira forma. Por mais que os Citas me digam, não me farão acreditar em tais histórias; mas eles não querem ceder e afirmam-no sob juramento."
Eis o caso — mais esclarecido — dos Andrófagos: "Não há homens de costumes mais selvagens que os Andrófagos. Não conhecem nem leis nem justiça; são nómadas; os seus trajos parecem-se com os dos Citas; têm uma língua própria. De todos os povos de que acabo de falar, são os únicos que comem carne humana." A indicação a respeito da língua permite supor que este povo andrófago era de raça finesa. E a verdade é que se sabe que os Finlandeses praticaram o canibalismo até à Idade Média.
Para além dos Citas, dos Neuros, dos Andrófagos e de muitos outros, sempre mais para leste e sempre mais para norte, Heródoto sabe que a Terra
[338] continua a ser povoada e que, em vez do mar esperado, se erguem na planície altas montanhas, que nos é permitido identificar com o Ural. A informação do nosso cronista rarifica-se, ou antes, à medida que aumenta a distância, juntam-se a ela traços fabulosos. Contudo, Heródoto opera a sua escolha à maneira costumada, relatando tudo, mas assinalando ao leitor o limite que a sua credudidade se recusa decididamente a atravessar.
"No sopé destas montanhas", escreve ele, "habitam povos de quem se diz serem todos calvos de nascença; diz-se também que têm o nariz achatado e o queixo proeminente." A descrição destes homens ditos "calvos" (com o que Heródoto quer dizer de pouco cabelo) faz pensar nos Calmucos. Mais adiante: "Vivem do fruto duma espécie de árvore que é pouco mais ou menos do tamanho da figueira e que dá um fruto de caroço, da grossura da fava. Quando este fruto está maduro, esmagam-no num bocado de pano e espremem dele, assim, um sumo negro e espesso a que chamam "aschy". Bebem-no misturado com leite." Aschy é o nome da bebida nacional dos Tártaros de Kazan. Os Calmucos utilizam ainda a cereja selvagem da maneira descrita por Heródoto. É provável que a árvore de que se trata seja a cerejeira, desconhecida na Europa nessa data.
"Conhece-se pois todo este país até ao dos homens calvos, mas nada se pode dizer de certo da região que se encontra mais ao norte." É montanhosa, segundo Heródoto, que ouviu dizer que estas montanhas eram habitadas por homens com pés de cabra (maneira de designar homens hábeis a trepar). Heródoto acrescenta: "Mas isto não me parece merecer nenhuma espécie de crença. Dizem também que se formos mais longe ainda, encontramos outros povos que dormem seis meses no ano. Por mim, não posso acreditar. E contudo há aqui sem dúvida um conhecimento confuso da longa noite polar.
Um dos caracteres de todos os países enumerados a partir dos Citas é, para Heródoto, o frio, que segundo ele começa no Bósforo cimério (o estreito entre o mar de Azov e o mar Negro). Escreve ele: "Nestes países, o Inverno é tão rude e o frio tão insuportável durante oito meses inteiros, que deitando água no chão ela não faz lama: só acendendo lume se obtém lama. O próprio mar gela neste terrível clima, assim como o Bósforo cimério; e os Citas do Quersoneso (a Crimeia) passam exércitos sobre o gelo e por ele conduzem os seus carros até ao país dos Sindos (o Kuban). O Inverno continua assim por oito meses completos; nos outros quatro meses também faz frio. (Erro: os Verões são ardentes na Rússia.) O Inverno, nestas regiões, é muito diferente [339] do dos outros países. Chove tão pouco nesta estação, que nem vale a pena falar; e no Verão a chuva não pára de cair. Não troveja no tempo em que noutros lados troveja; mas no Verão é muito frequente o trovão. Se se ouve no Inverno, olham-no como um prodígio." Na Grécia, é na Primavera e no Outono, por vezes no Inverno, que rebentam as tempestades, nunca no Verão. Daí o reparo de Heródoto.
Mais adiante, uma reflexão de bom senso:
"Quanto às penas, de que os Citas dizem que o ar está de tal maneira cheio que nada se pode distinguir nem se pode penetrar no continente mais para diante, eis a minha opinião. Neva constantemente nas regiões situadas acima da Cítia; mas verosimilmente menos no Verão que no Inverno. Quem quer que tenha visto de perto a neve cair em grossos flocos, compreende facilmente o que eu quero dizer. Ela parece-se. realmente, com penas. Penso pois que esta parte do continente, que está ao norte, é inabitável por causa dos grandes frios, e que quando os Citas e os seus vizinhos falam de penas fazem-no por comparação com a neve."
*
Entretanto, deixando o Norte, Heródoto leva-nos consigo até às extremidades meridionais da Ásia. Estas regiões do extremo sul dos continentes, segundo o nosso autor, são as dos mais preciosos recursos da natureza. As índias são a terra do ouro, a Arábia o país dos perfumes. Aqui, mais ainda que pelos costumes dos habitantes, Heródoto interessa-se pela colheita dos mais brilhantes sinais da riqueza que do Oriente fabuloso chegaram até à Grécia. Bens tão raros como o ouro e os perfumes só podem ser recolhidos de maneira maravilhosa. Formigas gigantes, aves de lenda, serpentes aladas, toda uma história natural que nasce, ainda fantástica, empresta ao autor o seu perigoso concurso. Não falarei, aliás, senão numa das maneiras de recolher o ouro, deixando de lado as outras, assim como a colheita igualmente fabulosa dos perfumes.
"Há", escreve Heródoto, "a leste da Índia, sítios que as areias tornam inabitáveis. Encontram-se nesses desertos formigas mais pequenas que um cão, mas maiores que uma raposa." Estas formigas parecem ter sido marmotas. Os Indianos chamaram "formigas" às marmotas porque elas escavavam o solo. [340] O Mahabharata dá ao ouro em pó o nome de ouro de formiga. E também acontece, diz-se, encontrar-se pó de ouro nos formigueiros da região. Estes factos, misturados e mal compreendidos, deram lugar à história que Heródoto vai contar e que, depois dele, se repete e se enriquece de novos pormenores até ao fim da Idade Média.
"Estas formigas preparam, debaixo da terra, um alojamento, e, para o fazer, empurram para cima a terra, da mesma maneira que as nossas formigas comuns, com que aliás se assemelham exactamente; e a areia que elas levantam está cheia de ouro. Vão os Indianos recolher esta areia nos desertos. Atrelam juntos três camelos: põem um macho de cada lado, preso por meio de um loro, e, entre os dois, uma fêmea, montada pelos condutores. Mas têm o cuidado de só se servirem daquelas que estão amamentando: tiram-nas aos filhos quando ainda os estão aleitando...
"Não farei aqui a descrição do camelo: os Gregos conhecem-no. Direi apenas isto, que eles ignoram: as patas posteriores do camelo têm cada uma duas coxas e dois joelhos." Singular anatomia! Os amigos de Heródoto e do camelo consideram-na, no entanto, desculpável. O metatarso, dizem, é tão longo no camelo que o calcanhar parece um segundo joelho, o que leva a supor duas coxas. Além disso, quando o camelo se ajoelha, dobra sob ele um tal comprimento de perna que é fácil perdermo-nos.
"Tendo assim atrelado os camelos, os Indianos, mal chegam aos lugares onde se encontra o ouro, enchem de areia os pequenos sacos que levaram e retiram-se com toda a diligência. Porque, a acreditar nos Persas, as formigas, advertidas pelo olfacto, perseguem-nos imediatamente. Não há, dizem eles, animal tão rápido na carreira; e se os Indianos não ganhassem avanço enquanto elas se reúnem, não escaparia um só. É também por isso que quando os camelos machos, que não correm tão depressa como as fêmeas, começam a cansar-se, eles os desatrelam, primeiro um, depois o outro, e não ambos ao mesmo tempo." Entenda-se que os camelos machos foram levados apenas para retardar a perseguição das formigas; são largados, em dois tempos, no momento de serem alcançados. As formigas param para os devorar. O texto de Heródoto, que apenas sugere esta explicação, apresenta talvez aqui uma lacuna.
Eis, nas páginas sobre a Arábia, curiosas reflexões sobre a fecundidade relativa das espécies animais. "Os Árabes dizem também que a terra inteira estaria cheia de serpentes se lhes não acontecesse a mesma coisa que eu sabia acontecer às víboras. Foi a providência divina, cuja sabedoria quis, como é de [341] crer, que todos os animais tímidos e votados a ser comidos fossem muito fecundos, não fosse o grande consumo destruir a espécie, e que, pelo contrário, todos os animais nocivos e ferozes fossem muito menos fecundos." Esta argumentação pode basear-se no papel que Anaxágoras ou antes dele Xenófanes atribuíam à Inteligência no governo do universo. Mas Heródoto é o primeiro a desenvolver esta curiosa visão finalista do mundo vivo. O historiador continua: "A lebre encontra inimigos por toda a parte: os animais, as aves, os homens fazem-lhe guerra. Por isso este animal é extremamente fecundo. A sua fêmea é, de todos os animais, a única que concebe, embora já prenhe, e que traz, ao mesmo tempo, filhos já cobertos de pêlo, outros que o não têm ainda e outros que se estão formando, e tudo isto enquanto concebe."
Aristóteles não deixa de reproduzir a história da tripla superfetação da coelha brava e de acrescentar novos pormenores. Mas eis agora o nascimento do leão: "A leoa, pelo contrário, esse animal tão forte e tão feroz, só produz uma vez na vida e apenas um filho: porque ela lança a matriz ao mesmo tempo que o fruto. Eis a explicação deste facto: logo que o leãozinho começa a mexer-se no ventre da mãe, como tem as garras mais agudas que qualquer outro animal, rasga-lhe a matriz: e quanto mais cresce, mais profundamente a lacera. Por fim, quando a leoa está prestes a parir, nada resta de são." Heródoto esquece-se de nos explicar como a divina providência se arranjou, neste sistema, para perpetuar a espécie dos leões. A aritmética o impediria.
Mais adiante: "Se pois as víboras e as serpentes voadoras da Arábia nascessem da maneira que a natureza prescreve às outras serpentes (isto é, muito simplesmente, de um ovo) a vida na Terra não seria possível para o homem. Mas, quando se juntam, a fêmea, no momento da emissão, fila o macho pela garganta, agarra-se-lhe com força, e não o larga enquanto o não acaba de devorar. Assim perece o macho. Mas a fêmea recebe o castigo. Os filhos, quando estão prestes a sair, roem-lhe a matriz e o ventre, abrem passagem, e desta maneira vingam a morte do pai." Clitemnestra — essa víbora, diz Esquilo — assassina Agamémnon. Com a morte da mãe. Orestes vinga a morte do pai. Heródoto leu ou viu a Oréstia. Parece escrever a Oréstia das víboras.
Vê-se que as maravilhas se multiplicam nos confins do mundo. Mas estas narrativas lendárias seriam fatigantes. Prefiro relatar alguns traços da pintura que Heródoto faz de um dos povos da África do Norte. [342]
*
Heródoto não percorreu a África do Norte. Da muito grega cidade de Cirene, fez algumas incursões pelo deserto da Líbia e pela Tripolitânia. Interrogando em Cirene e mesmo no Egipto muita gente acerca destas regiões desconhecidas, tentou alargar o seu conhecimento do mundo a essas vastas extensões que, do Egipto a Gibraltar, dos Sirtes ao lago Chade, de Cartago ao Senegal, são frequentadas por nómadas, povoadas de feras, alongadas em desertos, salpicadas de miraculosos oásis. Heródoto parece ter também consultado diários de bordo de navegadores de Samos, de Rodes e da Fócia, que tinham percorrido o litoral africano e descrito as populações costeiras. Conseguiu traçar da África do Norte um quadro que, embora feito de pormenores muitas vezes extravagantes, é mais amplo e mais exacto do que se esperaria.
Heródoto conhece um grande número de povos da região costeira da África. Descreve os seus costumes, ora os das tribos berberes, ora os dos Tuaregues. Relatarei apenas o que ele diz dos Nasamons.
"Mais a ocidente encontram-se os Nasamons (que habitavam a leste e ao sul da Grande Sirte), povo numeroso. No Verão, os Nasamons deixam os rebanhos na costa e dirigem-se a um certo cantão chamado Augila, para aí colherem tâmaras. (O oásis de Augila, hoje Audjila, é um grande centro da colheita de tâmaras, na rota das caravanas que vão da Cirenaica ao Fezzan.) As palmeiras crescem ali em abundância, são belas, e todas frutificam. Os Nasamons vão à caça dos gafanhotos, fazem-nos secar ao sol; e, tendo-os reduzido a pó, misturam-no ao leite, que depois bebem. (Os Tuaregues comem gafanhotos secos e reduzidos a pó.) Costumam ter cada um deles várias mulheres e gozam delas em família. Espetam simplesmente um pau diante deles e unem-se a elas. Quando um nasamon se casa pela primeira vez, a noiva, na noite de núpcias, concede os seus favores a todos os convivas e cada um lhe faz um presente que trouxe de suas casas."
A poliandria (ligada aqui à poligamia) foi praticada "em família" por muitos povos da Antiguidade, em Esparta, entre outros.
Investigando em Cirene a respeito das fontes do Nilo, Heródoto conta dos Nasamons esta história durante muito tempo tida por suspeita: "Eis o que eu soube de alguns cirenaicos que, tendo ido consultar, ao que me disseram, o oráculo de Zeus Ámon, tiveram uma conversa com Etearco, rei dos Amónios. [343]
Insensivelmente a conversa foi cair nas fontes do Nilo e alguém pretendeu que elas eram desconhecidas. Etearco contou-lhes então que um dia alguns nasimons chegaram à sua corte. Tendo-lhes perguntado se tinham alguma informação inédita a dar-lhe sobre os desertos da Líbia, responderam que, entre famílias mais poderosas da sua terra, alguns jovens chegados à idade viril e cheios de arrebatamento, imaginaram tirar à sorte cinco deles para irem reconhecer os desertos da Líbia e tentar penetrar mais adiante do que até então se fizera. Esses jovens, enviados pelos seus camaradas com boas provisões de água e víveres, percorreram primeiro países habitados; em seguida, chegaram a um país cheio de animais ferozes; dali, continuando para ocidente a sua rota. através dos desertos, viram, após terem percorrido durante muito tempo vastas extensões de areia, uma planície onde havia árvores. Aproximando-se puseram-se a colher os frutos dessas árvores. Enquanto os colhiam, caíram sobre eles homenzinhos de tamanho muito abaixo da média e levaram-nos à força. Os Nasamons não percebiam a língua deles, e estes homenzinhos não compreendiam, nada dos Nasamons. Levaram-nos através de grandes pântanos, à saída dos quais chegaram a uma cidade cujos habitantes eram negros e do mesmo tamanho daqueles que ali os tinham conduzido. Um grande rio, no qual havia crocodilos, corria junto da cidade, de oeste para leste." Esta narrativa por muito tempo considerada como testemunho da credulidade de Heródoto, sobretudo por causa dos "homenzinhos", que eram relegados para o país das fábulas, tornou-se plausível pelos exploradores da África equatorial, na segunda metade do século XIX. Sabe-se com efeito agora que existem nessas regiões povos anões, os Negrilhos. Não é impossível que indígenas da Tripolitânia tenham atravessado o deserto, do oásis de Fezzan à grande curva do Níger Heródoto, aqui, tomou o Níger pelo Nilo superior.
*
De todos os países que Heródoto percorreu, o Egipto é certamente aquele que realizava melhor a existência duma história e duma geografia que ele queria, ao mesmo tempo, verdadeiras e maravilhosas. Não há ali nada que não exceda a sua expectativa, que não responda ao apelo mais extravagante da sua imaginação. E contudo é um Egipto que ele vê e toca. E assim voltamos ao Egipto. [344]
Uma história algumas vezes milenária, rica de uma floração de contos inauditos e que ele ainda enfeita porque compreende mal as narrativas dos seus intérpretes mentirosos. Testemunhos esplendorosos dessa história: estátuas colossais, monumentos de uma altura que bate de longe todos os recordes do seu jovem povo grego. The greatest in the world é a forma mais natural da admiração de Heródoto.
E, depois, um rio que é um prodígio: para um grego que não conhece mais que ribeiras engrossadas pelas tempestades primaveris, torrentes meio esgotadas durante os meses de Verão, o Nilo, com o enigma das suas cheias regulares e fertilizantes, com o mistério das suas fontes desconhecidas e muito mais longínquas do que Heródoto pode sequer conceber, não só prende singularmente o historiador, como lança um desafio à sua avidez de compreender. Heródoto aceita o desafio. Obstina-se em desvendar o duplo enigma das fontes e das cheias do Nilo.
Empenha-se no problema da formação geológica do vale do Nilo. É certo que dispõe de factos insuficientes para conduzir um raciocínio que se desejaria rigoroso. Tem o ar, criticando as hipóteses dos seus predecessores, de raciocinar por vezes como uma criança. Mas como é inteligente esta criança! Pouco importa que, no resultado do seu inquérito, acerte ou não: a sua tenacidade em interrogar o mistério, em decifrar o enigma, é a mais bela das promessas.
Há também do Egipto uma multidão de animais estranhos e sagrados que estimulam a curiosidade de Heródoto. Adora erguer bestiários. O que o interessa nesta fauna exótica é, em parte, a estranheza da sua aparência e do seu comportamento, é, mais ainda, a natureza da sociedade que o homem ligou com o animal. Sociedade muito mais íntima no Egipto que na Grécia, e que impõe ao homem singulares obrigações. Heródoto interroga o pacto concluído pelo Egípcio com o gato, o íbis ou o crocodilo, e o seu inquérito abre-lhe, não sobre o animal, mas sobre o homem, claridades surpreendentes. O seu bestiário egípcio não é pois apenas uma página de história natural antecipada — em parte recopiada, incluindo os erros, por Aristóteles. É, acima de tudo, uma pagina de etnografia, uma página de geografia humana do povo egípcio.
Uma última categoria de factos impressionou e deteve o viajante. Sabe-se que Heródoto a nada ama mais que a singularidade dos costumes. Com prazer extremo, recolhe uma multidão de ritos singulares. Nada, de resto, o choca ou [345] o indigna neste transbordamento do insólito. O inverso de um uso grego seduz ainda mais este espírito sempre disponível. Por um momento, compraz-se em compor uma imagem do Egipto, a imagem de um país "ao contrário", como em certos contos populares se encontra ou no Erewhon de Samuel Butler.
O seu quadro do Egipto, tão barroco, e por mais incompleto que seja, e contudo confirmado, na maior parte dos pormenores, pelos historiadores modernos, ou pelo menos considerado por eles como verosímil.
Alguns exemplos? Retomando uma frase de um outro viajante do Egipto (Hecateu de Mileto), Heródoto declara:
"Todo o homem judicioso que se dirija ao Egipto por mar notará que o país que aborda é um presente do Nilo. Fará o mesmo juízo a respeito da região que se estende a montante do lago Moeris, até três dias de navegação, ainda que os meus informadores nada me tenham dito de semelhante: é um outro presente do rio. A natureza do Egipto é tal, que se para lá fordes por mar, estando ainda a um dia das suas costas, e se lançardes a sonda ao mar, dele recolhereis lodo e havereis apenas onze braças de profundidade: isto prova manifestamente que o rio transportou terra ate àquela distância."
Mais adiante, Heródoto precisa o seu pensamento:
"Há na Arábia, não longe do Egipto, um golfo comprido e estreito que parte do mar Eritreu (o mar Vermelho). Do fundo deste golfo ao mar largo, são precisos quarenta dias de navegação para uma nave a remos. Na sua maior largura, não tem mais que meio dia de navegação. Todos os dias há nele fluxo e refluxo. Pois eu penso que o Egipto era um outro golfo mais ou menos parecido com este: que este golfo partia do mar do Norte (o Mediterrâneo) e se estendia para a Etiópia, enquanto que o golfo Arábico ia do mar do Sul para a Síria; e que sendo estes dois golfos apenas separados por um pequeno espaço, pouco faltaria para que eles se juntassem, depois de nele abrir um canal. Se o Nilo viesse a mudar de curso e fosse lançar-se no golfo Arábico, quem impediria que em vinte mil anos viesse a enchê-lo com o lodo que constantemente carreia? Por mim, creio que o conseguiria em menos de dez mil anos. Bem poderia pois o golfo egípcio de que falo, ou outro ainda maior, no espaço de tempo que precedeu o meu nascimento, ser preenchido pela acção de um rio tão grande e tão capaz de operar tais transformações."
E continua:
"Não me custa pois a crer o que me disseram do Egipto (isto é, que o vale do Nilo é um golfo atulhado); e eu próprio penso que as coisas são certamente assim, vendo que o rio avança pelo mar em relação às terras [346] adjacentes; que se encontram conchas nas montanhas; que dele sai um vapor salgado que corrói até as pirâmides, e que a montanha que se alonga acima de Mênfis é o único sítio deste país onde há areia. Acrescente-se que o Egipto em nada se parece nem com a Arábia que lhe é contígua, nem com a Líbia, nem mesmo com a Síria... O solo do Egipto é de terra negra e friável, como tendo sido formado pelo lodo que o Nilo trouxe da Etiópia e que ali acumulou nas suas inundações, ao passo que a terra da Líbia é mais avermelhada e arenosa, e que a Arábia e a Síria são feitas duma argila sob a qual se encontra a rocha."
Esta hipótese de Heródoto sobre a formação geológica do Egipto é exacta — salvo no que respeita ao número de anos de que o Nilo precisou para a operar. As observações de Heródoto sobre o litoral, as conchas, as eflorescências salinas são igualmente exactas. A areia é contudo muito mais abundante do que ele diz.
Outro exemplo: a famosa descrição do crocodilo.
"Passemos ao crocodilo e às particularidades da sua natureza. Não come durante os quatro meses mais ásperos do Inverno. É um animal de quatro patas, e vive tão bem sobre a terra firme como nas águas tranquilas. É sobre o solo que põe os ovos e os faz eclodir. Passa em seco a maior parte do dia, mas no rio a noite inteira; porque a água é então mais quente que o ar e o orvalho. De todos os animais que conhecemos, nenhum se toma tão grande depois de ter sido tão pequeno. Os seus ovos, com efeito, não são maiores que os dos gansos, e o animal que deles sai é proporcional ao ovo; mas insensivelmente cresce e chega a dezassete côvados, e mesmo mais. Tem olhos de porco, dentes salientes, e de comprimento proporcionado ao seu tamanho. É o único animal que não tem língua; não move a mandíbula inferior e é também o único que aproxima a mandíbula superior da inferior. Tem garras muito fortes; e a sua pele é de tal maneira escamosa que forma sobre o dorso uma carapaça impenetrável. O crocodilo, dentro de água, não vê, mas ao ar livre tem a mais aguda vista que se conhece. Como vive na água, tem o interior da goela cheio de sanguessugas. Todos os outros quadrúpedes e todos os pássaros fogem dele: só vive em paz com o troquilo, por causa dos serviços que dele recebe. Quando o crocodilo repousa em terra ao sair da água, tem o costume de se voltar quase sempre para o lado donde sopra o zéfiro e de manter a goela aberta: o troquilo, entrando então na goela dele, come as sanguessugas; e o crocodilo experimenta tanto prazer em sentir-se aliviado, que não lhe faz mal." [347]
Há, nesta descrição, dois erros principais, sem falar do número de dezassete côvados, que é exagerado, embora existam ainda hoje, mais ao sul que no Egipto, espécies que atingem seis metros. Mas dezassete côvados fazem oito metros: um crocodilo deste tamanho é um monstro improvável. Quanto aos dois erros, são os seguintes. O crocodilo não é privado de língua; é verdade que a língua é muito pequena e tão aderente que o crocodilo não pode mostrá-la. Outro erro: é a mandíbula inferior, e não a superior, que é articulada. Heródoto enganou-se porque o animal, deixando a mandíbula inferior descansar no solo e levantando a cabeça para abocar, parece, com efeito, fazer mexer a mandíbula superior. Nem quanto à língua nem quanto à mandíbula achou Heródoto necessário verificar de perto! No que respeita ao troquilo, é uma espécie de tarambola. Segundo testemunhas oculares, esta ave desembaraça o crocodilo, senão das sanguessugas, pelo menos dos pequenos animais que se lhe introduziram na goela.
Outro exemplo animal: "Há no Egipto uma ave sagrada, a que chama-se fénix. Só a vi em pintura; raramente é vista; e, a acreditar nos Heliopolitanos, só aparece na região todos os quinhentos anos, quando lhe morre o pai. Se se assemelha ao seu retrato..."
Admire-se aqui a prudência e a honestidade de Heródoto! Só "em pintura viu a fénix... Ao descrever esta ave fabulosa, não o apanham em flagrante delito de mentira.
Ultima história egípcia: um conto popular sobre um rei lendário:
"Contaram-me os padres que depois da morte de Sesóstris seu filho Féron subiu ao trono. Este príncipe não fez nenhuma expedição militar; mas cegou nas seguintes cicunstâncias. O Nilo nesse tempo enchera muito; a cheia era de dezoito côvados, submergindo todos os campos. Além disso, levantou-se um vente impetuoso que agitou as ondas com violência. Então Féron, com louca temeridade, tomou um dardo e atirou-o ao meio do turbilhão das águas. Logo os seus olhos foram feridos de um mal súbito, e ele ficou cego. Esteve dez anos neste estado. No décimo primeiro ano, trouxeram-lhe a resposta do oráculo de Buto. que lhe anunciava que o tempo prescrito para o seu castigo tinha expirado e que ele recobraria a vista lavando os olhos com a urina de uma mulher que não tivesse nunca conhecido outro homem que não fosse o marido. Féron tentou primeiro com a urina da sua própria mulher; mas como não via mais do que via antes, serviu-se sucessivamente da urina de muitas outras mulheres. Tendo enfim recobrado a vista, fez reunir numa cidade que hoje se chama Eritrébolos [348] todas as mulheres assim postas à prova, excepto aquela cuja urina lhe tinha restituído a vista, e tendo-as feito queimar todas com a própria cidade, casou com aquela que contribuirá para a sua cura."
Larcher, o excelente tradutor de Heródoto — a quem fui buscar todas as citações deste capítulo, com raros retoques, e cuja língua arcaica dá excelentemente o velho jónio de Heródoto — anota assim esta passagem: "Pode-se concluir (desta história) que a corrupção dos costumes tinha sido levada a um alto grau no Egipto. Já não custa a compreender a sábia precaução que tomou Abraão ao entrar neste país, e o excesso de impudência com que se comportou a mulher de Putifar em relação a José." A sábia precaução de Abraão, a que Larcher alude, foi fazer passar sua mulher por irmã. Assegurava assim a sua honra de marido: e a bela Sara podia passar para os braços do faraó, tirando daí o "irmão" importantes vantagens. De Heródoto e do seu tradutor, qual é o mais ingénuo?, e qual é o mais moral?
*
Quereria terminar citando uma página de Heródoto que me parece poder servir de conclusão a tantos exemplos — uma página sobre o tema da diversidade dos costumes. Este tema é familiar ao historiador. Justifica o seu longo inquérito. O conhecimento da diversidade dos costumes enche o espírito de espanto: sedu-lo e diverte-o. Mas faz também muito mais. Enquanto que sobre o pensamento de cada povo, preso ao uso que pratica, o costume pesa como um jugo, o conhecimento do conjunto dos costumes, na sua variedade infinita e contraditória, é, nas mãos do historiador, um instrumento de libertação do espírito. Eis as reflexões de Heródoto:
"Se fosse proposto a todos os homens fazer uma escolha entre as melhores leis que se observam nos diversos países, é manifesto que, após um exame meditado, cada um se determinaria pela da sua pátria; de tal maneira é verdade que cada homem está persuadido de que não há outra mais bela. É claro, pois, que só um insensato fará disto assunto de gracejos."
Que todos os homens se encontrem nestes sentimentos que tocam aos seus próprios usos, é uma verdade que se pode confirmar por alguns exemplos, [349] e entre outros por este. Um dia, Dario, dirgindo-se aos gregos da sua roda, perguntou-lhes por que soma poderiam eles decidir-se a comer os próprios pais, uma vez mortos. Todos responderam que nunca o fariam, fosse qual fosse o dinheiro que lhes dessem. Mandou ele então vir esses indianos a quem chamam Calatios, que têm o costume de comer os parentes: e perguntou-lhes, na presença dos gregos, a quem um intérprete explicava tudo o que se dizia de um lado e outro, que soma de dinheiro poderia levá-los a queimar os pais, apos a morte destes. Os indianos, soltando exclamações perante esta pergunta, rogaram-lhe que não lhes falasse linguagem tão odiosa. Tal é a força do costume.
"Por isso nada me parece mais verdadeiro que esta frase que se encontra nos poemas de Píndaro: "O costume é o rei do mundo."
Ao ler estas reflexões, não julgaríamos estar lendo uma página de Montaigne. [350]

Não tarda muito, receio-o bem, que Píndaro apenas seja acessível a poucos helenistas especializados. Este "cantor dos cocheiros e dos combates de murro", como dizia Voltaire, injuriosamente e inexactamente, escolhendo para qualificar este poeta de gênio as palavras mais baixas que pensava poderem ser-lhe aplicadas, este grande lírico a quem as vitórias desportivas impelem, não seria hoje capaz de levantar o entusiasmo das multidões, mesmo quando as mãos e a virtude dos pés reconquistaram o lugar que tinham há muito lempo perdido no favor dos povos.
Teria podido, nesta obra onde tudo procede da escolha — aventurosa ou calculada —, "esquecer" Píndaro, como esqueci, como esquecerei muitos outros espíritos de envergadura igual à sua. Várias razões me detiveram. Não quis limitar quase inteiramente esta obra a alguns aspectos da civilização jônia ou ateniense. Quis também tocar nesses altos valores poéticos que o resto da Grécia produziu, nomeadamente as regiões que permaneceram fiéis ao regime aristocrático. Quis prestar justiça à Grécia dória, de que Espárta e Tebas são cabeça. Por outro lado, não consenti em recusar aos meus leitores o extremo prazer de amar, à maneira entusiasta de Ronsard, a cintilante poesia de Píndaro. Este poeta deslumbrante é, com Ésquilo e Aristófanes, um dos três mestres, um dos príncipes do verbo poético grego (intraduzível, naturalmente). Finalmente, este poeta, cujo estranho ofício consiste em celebrar por meio de coros as vitórias desportivas, foi colocado, por esse ofício mesmo, em relação com grandes personagens da sua época, Híeron, tirano de Siracusa, Téron, [305] tirano de Agrigento, Arcesilau, rei de Cirene. Viveu na corte deles, foi conselheiro e amigo. Conselheiro de uma rara independência, mesmo quando elogia, amigo capaz de dizer a verdade ao príncipe a quem celebra: espectáculo cheio de grandeza!
Como entrar na obra de um tal poeta? Não há outro meio de o compreender senão apanhá-lo ao nível do ofício que exerce, em algumas odes determinadas, vê-lo misturar numa "bela desordem" aparente, que não é mais que uma ordem paradoxal mas construída, os temas míticos da epopeia, que trata à sua maneira própria, os temas que vai buscar à didáctica hesiodiana ou à dos outros velhos poetas, os temas que extrai da efusão lírica em que nos fala de si mesmo e da sua poesia. Compreendê-lo, é, enfim, aproximar-nos dele. tanto quanto é possível num comentário noutra língua, numa expressão verbal estranha, ao mesmo tempo muito indirecta e a mais directa que existe, no estilo prodigiosamente mas naturalmente metafórico que é o seu.
Eis pois algumas dessas odes. Vêr-se-á que são compostas e, se assim se pode dizer, deduzidas de algumas proposições simples, rigorosamente mas subtilmente encadeadas.
*
A primeira ode triunfal que escreveu, a décima pítica, não sendo uma das suas obras-primas, deve ser fixada, porque nela vemos já todo o Píndaro. Os principais traços do seu pensamento, a sua fé religiosa inabalável, a sua devoção a Apolo, a sua admiração por Esparta e pelos governos aristocráticos, o seu elogio da virtude que se herda, o primado que concede à boa fortuna dos atletas, enfim, a desordem concertada da composição, a densidade fulgurante do estilo: eis o essencial da ode e eis já anunciado Píndaro inteiro.
O poeta está em Tebas e tem vinte anos. Estamos em 498. Recebe, sem dúvida graças às relações da sua nobre família — velha família de sacerdotes de Apolo e de colonizadores —, a encomenda de um epinício que deverá celebrar um dos amigos dos Aleuades, príncipes da Tessália. O vencedor chama-se Hipócleas. É um adolescente que alcançou em Delfos — nesse estádio ainda intacto, onde é tão bom caminhar ao ar livre e fresco — o preêmio da dupla corrida da categoria dos juniores. Píndaro fez a viagem à Tessália, recebeu a hospitalidade do príncipe, dirigiu a execução do seu coro. [306]
A ode abre com uma palavra que poderia servir de epígrafe a toda uma parte da obra de Píndaro: "Feliz Lacedemônia!" O poeta insiste, nesta abertura da ode, no parentesco de Esparta e da Tessália, ambas governadas por descendentes de Hércules — esse grande tebano a quem celebra incessantemente como modelo da virtude heróica. Depois passa ao elogio do jovem corredor. Desenvolve, a propósito dele, um tema que lhe é caro: nas famlílias nobres, "o natural dos filhos segue as pisadas dos pais", isto é, as proezas físicas, tanto como a virtude moral, são parte da herança dos antepassados. Vem o tema da boa fortuna dos atletas. Aquele que vence no jogo, aquele que vê seu filho vencedor, "se não atinge o céu de bronze, atinge pelo menos o último termo das felicidades, reservadas aos mortais". Bruscamente o mito surge, ocupando toda a parte central da ode. Bastou o termo "felicidade" para o desencadear. Esse mito é o da felicidade dos Hiperbóreos. É a velha crença popular de que existe, para além das montanhas do Norte, donde vem o Bóreas, um povo de bem-aventurados, os Hiperbóreos. No Inverno, é lá que mora Apolo, caro a Píndaro. É de lá que ele vem na Primavera, viajando sobre o seu tripé alado.
O mito, sem que o poeta o conte, é simplesmente sugerido por vivas imagens e alusões fugazes e percucientes. Parece um sonho inacabado, mas todo aberto à imaginação, no qual braçadas de visões arrebatam em todos os sentidos o impulso do sonhador. Assim, vemos de súbito Perseu apresentar-se num dos banquetes dos Hiperbóreos. Encontra-os sacrificando a Apolo prodigiosas hecatombes de burros. Apolo compraz-se, diz o poeta, no sacrifício destes animais lúbricos. No seu estilo abrupto, Píndaro escreve: "Apolo ri ao ver erigir-se a lubricidade dos animais que eles imolam." (Na verdade, este traço do sacrifício de burros em cio é um traço exótico: os Gregos nunca imolaram burros aos deuses.)
Mas logo o poeta acrescenta que dos enormes festins deste povo feliz "a Musa não está ausente... Raparigas cantam em coro no alarido das liras e das flautas".
Outros traços fazem contraste. Este Perseu, que surge entre os Hiperbóreos, é o herói que em tempos matou a Górgona: tem ainda nas mãos "a cabeça eriçada de serpentes que recentemente dava aos habitantes de uma ilha a morte de pedra" (o que significa, no estilo ousado de Píndaro, "a morte que muda em pedra"). Mas, acrescenta o poeta, "quando os deuses são os autores, nenhum acontecimento me parece incrível". [307]
Aqui detém o mito, com uma frase em que define a sua arte de compor "Como belos flocos de lã, os meus hinos adejam de assunto em assunto, com: fazem as abelhas."
Uma última frase sobre Hipócleas: "O Poeta fará com que sonhem com ele as raparigas."
*
Eis outra obra da juventude (Píndaro tem trinta anos) — uma ode que não contém qualquer mito, uma simples oração a convidados muito próximos do coração do poeta. É a décima quarta olímpica, na qual celebra igualmente a vitória de um adolescente no estádio dos rapazes.
A ode desvenda aos nossos olhos, na sua brevidade, a fonte profunda da inspiração do poeta, e essa fonte é o amor das Graças. Píndaro começa por evocar os três tipos de homens em que vê irradiarem "todas as doçuras e todas as delícias para os mortais: o poeta inspirado, o homem adornado de beleza, o homem cintilante de glória". Ora estes três bens — gênio, beleza, glória— outra coisa não são que dons das Graças. Estas dirigem tudo no mundo: "Os próprios deuses, sem as Graças preciosas, não poderiam saborear as danças nem os festins... Sobre tronos instaladas, junto de Apolo Pítio... honram a majestade do senhor do Olimpo, seu pai."
O poeta nomeia estas três Graças: "Ó tu, Aglaia (Aglaia dispensa a Glória), e tu, Eufrósina, que a harmonia encanta (Eufrósina quer dizer Sabedoria, mas para Píndaro toda a sabedoria está na poesia), e também tu, Tália. enamorada de canções... (Tália é a Graça que dá a Beleza, a Juventude e a Alegria), vê, Tália, como avança na alegria do triunfo esse cortejo em passo ligeiro... E Asôpicos que eu venho cantar, pois que, por teu amor, ele triunfa em Olímpia..." O jovem atleta é órfão. O poeta invoca a ninfa Eco, dizendo: "E agora. Eco, desce ao palácio das escuras paredes de Perséfone, leva a seu pai uma ilustre mensagem... Fala-lhe de seu filho, diz-lhe que Tália, nos vales gloriosos de Pisa, o coroou das asas dos famosos triunfos."
Assim, tudo é dado, no acontecimento celebrado, como obra das Graças. O reino de Píndaro não é o da volúpia e do prazer, não é o reino de Afrodite [308]
Nunca ele concedeu a mais tênue homenagem àquele a quem os Gregos chamam o épaphroditon, isto é. o homem "sedutor". Ele celebra o gracioso, o épichari. O seu reino é o da Graça.]
*
Entretanto, no termo da sua juventude, abre-se na vida de Píndaro uma uma crise grave, a mesma crise que o seu povo atravessa, a partir de 490. depois em 480 e 479, a crise das guerras persas.
Há que dizê-lo claramente. Píndaro não compreendeu, ou só depois compreendeu, e dificilmente, o sentido das guerras persas na história do seu povo.
Tinha perto de trinta anos no ano da Maratona, perto de quarenta quando de Salamina e de Plateias. Da primeira das guerras persas não há nenhum eco na sua obra conservada, aliás importante. Não é que o nome de Maratona dela esteja ausente. Esse nome aí aparece várias vezes, mas sempre ligado à menção de qualquer vitória desportiva, alcançada por tal ou tal atleta que o poeta celebra. Maratona não é para ele o nome de uma vitória da liberdade, mas o de um lugar de desporto! (Como para muitos parisienses, sem dúvida, os nomes de batalhas, e mesmo de poetas franceses, não são mais que estações de metropolitano!)
O que é preciso compreender, se quisermos apreender a poesia de Píndaro, é que uma vitória desportiva tem, a seus olhos, um valor pelo menos igual a uma vitória militar, sobretudo à de Maratona, onde o "povo" ateniense salvou uma liberdade democrática de bem medíocre valor para ele. A liberdade do homem, a sua dignidade, estão, antes de mais, na possessão do seu corpo. Os "belos membros da Juventude" são para ele uma das conquistas essenciais da vida humana, conquista alcançada à custa de vontade contínua, de ascese moral e física sem desfalecimento.
Vem o ano de Salamina. Píndaro aproxima-se dos quarenta anos. Sabemos que partido escolheu Tebas: ao serviço do ocupante. Os historiadores gregos, de Heródoto a Políbio, são unânimes: Tebas trai a Grécia.
Políbio escreve que "os Tebanos recusaram-se a entrar em guerra pela causa dos Gregos e abraçaram o partido dos Persas" e que "não há razão para [309] louvar o poeta Píndaro, que deu a conhecer num poema que partilhava a opinião de que era preciso manter a paz".
Assim, no momento em que outras cidades gregas exigiam da população os mais duros sacrifícios, a evacuação do território entregue à devastação e ao incêndio, e a guerra longe dos seus, Píndaro pregava aos seus compatriotas a não-resistência ao invasor. Os termos que emprega em dois dos versos conservados deste poema parecem indicar que se dirigia às classes populares, que queriam bater-se, para as levar a aceitar a paz dos aristocratas, o acolhimento solícito que o governo oligárquico fazia aos Persas.
Na verdade, há qualquer coisa de estranho em ver Píndaro. cantor de atletas e cantor dos heróis do passado, ficar insensível, na catástrofe da Grécia, ao drama da liberdade que se joga diante dos seus olhos. Uma vitória no pugilato ou no pancrácio comove-o mais do que Salamina?
É certo que, mais tarde, houve arrependimentos em Píndaro. Mas sempre, ao falar de Salamina, com o tom do constrangimento. A oitava ístmica, que dirige, alguns anos após a vitória, a um dos seus amigos eginetas, conserva ainda esse tom embaraçado. O poeta fala aí com insistência da "provação" da Grécia. Pede para si o direito de invocar outra vez a Musa, e diz: "Libertos da grande angústia, não deixemos as nossas frontes sem coroas... Poeta, não cultives o teu luto." Agora o perigo está passado: "A pedra suspensa sobre as nossas cabeças, rochedo de Tântalo, um deus a desviou de nós. Provação demasiadamente forte para a audácia dos Gregos... Tudo se cura para os mortais, pelo menos se têm a liberdade." A passagem, no seu conjunto, está muito longe de constituir um elogio dos vencedores de Salamina. Não se trata de vitória nem de glória, mas de provação e luto. Só para o fim o poeta entra na linguagem daqueles que salvaram a Grécia: reconhece, implicitamente aliás, não explicitamente — que a liberdade que conserva a deve àqueles que por ela se bateram. A provação, diz ele à maneira de desculpa, excedia a coragem dos Gregos. O que é verdade da coragem dos Tebanos, não da dos Atenienses. Na verdade, Píndaro dá graças a Deus, e só a Deus, do feliz desenlace do acontecimento. Heródoto, que não era menos piedoso que Píndaro, põe as coisas no seu justo lugar, quando declara: "Não nos afastaremos da verdade declarando que os Atenienses foram os libertadores da Grécia: foram eles, pelo menos depois dos deuses, que repeliram o Grande Rei."
Deixemos de lado outros arrependimentos. Píndaro, que fez o elogio da bravura egineta em Salamina, sempre desdenhou fazer o elogio do eminente [310] papel pan-helénico que Atenas desempenhou nesses anos decisivos da formação do gênio grego. Nada na sua educação, nada no seu próprio génio o preparava para compreender a cidade que já no seu tempo se tornava a cidade da investigação científica, a cidade da "filosofia".
O ambiente de Atenas, a partir desta primeira metade do século V, é, em relação a Tebas, um ambiente de "sageza", um ambiente onde a religião não teme as vizinhanças da razão. Isto sempre Píndaro detestou. Os problemas que se apresentam aos sábios jônios e atenienses parecem-lhe a coisa mais vã do mundo: são pessoas que. na sua opinião, "colhem o fruto mal maduro da Sabedoria." Píndaro — e é isto que explica a sua falta de amizade por Atenas — é um homem que, em pleno século V, não foi tocado pela filosofia. Os problemas que os sábios jônios tentam resolver (de que matéria é o mundo feito?, que é que produz os eclipses do Sol?) estavam para ele resolvidos há muito tempo por um poeta da sua terra, Hesíodo, e pela religião apolínea. Os fenômenos que o sábio interroga são para ele milagres dos deuses. Não há, em relação a eles, qualquer questão a pôr.
*
Tomemos agora algumas das odes principais do nosso poeta, a sexta olímpica, por exemplo. Esta ode foi escrita para um siracusano, Agésias, que é uma importante personagem, um dos principais oficiais de Híeron.
A família deste Agésias é a dos lâmidas: pretende descender de Apolo e de uma ninfa peloponésia, Evadne, por sua vez filha de Posídon e de uma ninfa dos Eurotas, Pítane. Os lâmidas descendem pois de dois grandes deuses. Exercem um sacerdócio em Olímpia. Agésias viera tentar a sua sorte em Siracusa. Fizera junto de Híeron uma brilhante carreira. O epinício de Píndaro celebra a sua vitória na corrida de carros atrelados a mulas, em Olímpia. A ode foi representada primeiro não longe de Olímpia, em Estinfalo, na Arcádia, donde Agésias era originário por sua mãe, depois uma segunda vez em Siracusa.
A obra divide-se em três partes desiguais. A primeira é consagrada ao elogio do vencedor. Este elogio apoia-se numa imagem esplêndida que serve de abertura a todo o poema. Vemos erguer-se um palácio de magnificência. O pórtico é majestoso: é um deslumbramento de colunas de ouro que cintilam até ao horizonte. O palácio é a própria ode; a colunata singular é a glória de [311] Agésias, ao mesmo tempo adivinho e campeão olímpico. Todo este começo e semeado de alusões resplandecentes, entre elas a de um outro vidente, outro guerreiro, um herói honrado pelo raio salvador de Zeus, que abriu para ele os abismos da Terra, onde o devorou com os seus cavalos, herói popular tebano. e depois pan-helénico. Todo este princípio é como um emaranhado de imagens, que os raios solares iluminam.
Para alcançar a segunda parte do hino — a mais importante do mito — Píndaro pede ao condutor do carro de Agésias que atrele "o vigor das suas mulas e o conduza pela estrada inundada de sol à fonte da raça de Agésias.. Que diante delas se abram de par em par as portas dos nossos cantos".
Vamos ouvir da boca do poeta crente a bela história duma dupla sedução divina. Nas margens do Eurotas vivia em tempos uma rapariga, a ninfa Pítane. "Unida a Posídon deitou ao mundo uma criança de tranças violetas. Sob as pregas do vestido, escondeu a sua maternidade virginal..." Depois mandou o fruto concebido do deus para as margens de um outro rio, o Alfeu, e foi lá que Evadne cresceu e que, "por Apolo, provou pela primeira vez a doce Afrodite. O pai consultou o oráculo sobre a intolerável e esplêndida aventura. "Ora. Evadne, entretanto, soltara o seu cinto de púrpura e depusera a sua urna de prata, e, na mata azul, dera à luz uma criança adornada de profecias. Junto dela, o deus dos cabelos de ouro instalara Ilítia cheia de benevolência e as Parcas. E dos flancos dela, num parto suave, tirou íamos, que a luz logo acolheu. Desolada, a mãe abandonou o filho no chão. Mas, por vontade dos deuses, duas serpentes de olhos glaucos tomaram conta dele e o alimentaram do veneno inocente das abelhas."
Notemos de passagem as expressões paradoxais que dão ao estilo de Píndaro a sua cor própria. Assim: a "maternidade virginal" e o "veneno inocente das abelhas". O poeta continua:
"A criança viveu assim cinco dias. Escondida entre os juncos e os silvados impenetráveis, as flores de ouro e de púrpura inundavam com os seus raios o seu tenro corpo. Foi esta circunstância que fez que a mãe desse ao filho o nome imortal de íamos." (Estas flores de raios de ouro e de púrpura eram amores-perfeitos silvestres, que na língua grega se chamam ion, palavra que designa também a violeta.)
Entretanto, de Delfos, Apolo reivindica o filho. A última cena do mito mostra-nos aquilo a que chamaríamos o baptismo ou a consagração do adolescente. [312]
"Quando recebeu o fruto da encantadora Juventa de coroa de ouro, desceu ao leito do Alfeu e invocou a vasta violência de Posídon, seu antepassado, assim como o Arqueiro que, em Delos construída pelos deuses, faz a guarda. Ali estava, sob a abóbada nocturna, reivindicando para a sua cabeça a honra de qualquer realeza protectora de um povo. Claramente, a voz de seu pai lhe respondeu: - Levanta-te, meu filho, e caminha. Vai para as terras que são bem conhecidas de todos. Segue o rasto da minha voz." Foram até ao abrupto cume do alto monte de Crono, e ali o deus lhe outorgou um duplo tesouro de profecia..."
Vemos aqui o soberano brilho duma tal poesia. Também ela, na sua :aminhada insólita, nos inunda como as flores que o poeta invoca, de raios de ouro e de púrpura. Brilha com uma luz solar, resplende como um arco-íris.
A última parte da ode regressa à actualidade, ao elogio do vencedor, e é também um elogio da poesia de Píndaro. O poeta, retomando um sarcasmo grosseiro dos Atenienses sobre a incultura dos Beócios, sarcasmo que deve feri-lo vivamente, declara que saberá "desmentir o velho opróbrio que se lança aos porcos da Beócia". O seu poema ali está para responder à injúria. Declara que é o poeta inspirado, dizendo na sua linguagem enigmática e carregada de sentidos secretos: "Tenho sobre a língua uma pedra de amolar cantante, que me faz invadir pelo hálito das fontes." Depois, dirigindo-se ao mestre do coro que acompanha Agésias na sua nova pátria e aí dirigirá a execução da sua ode, diz-lhe: "Tu és um recto mensageiro, a secreta palavra das Musas encerradas, um vaso de doçura cheio de cantos resplandecentes."
O último verso da ode é um voto por ele próprio feito ao senhor do mar: "Desabrocha a flor encantadora dos meus hinos".
É inútil comentar, explicar a ligação das três partes do poema: elogio do vencedor, mito, votos pelo vencedor ou pelo poeta. Tudo isto, fundado em razões históricas, é manifesto, mas exterior à poesia. É uma ligação, não já feita de transições ou de circunstâncias, mas interna à poesia da obra. Sugeri-o de passagem.
As colunas de ouro diante do pórtico do hino, as mulas que se lançam pela estrada cheia de sol, depois o fluxo das imagens centrais, a mulher prenhe do fruto de um deus e cingida de púrpura, a carne da criança banhada da luz das flores dos campos, a abóbada nocturna que domina a cena do baptismo no Alfeu e, para terminar, a pedra de amolar cantante da língua do poeta, a [313] secreta palavra das Musas encerradas — tudo isto constitui um único poema, uma espécie de visão meio delirante, de uma poesia próxima e celeste ao mesmo tempo, feita de imagens estranhas é como que de figuras de sonho, que dá à obra, no jorro do estilo que alimenta tudo da sua seiva, a sua indescritível continuidade. Um estilo que, do primeiro ao último verso, desabrocha como uma flor rara e maravilhosa.
*
Píndaro fez mais que uma vez a viagem da Sicília. Viveu na intimidade dos príncipes Téron, de Agrigento, e Híeron, de Siracusa. Foi seu panegirista. rivalizando com o grande Simônides e com Baquílides. Mais do que isso, foi conselheiro e amigo. E neste papel difícil de conselheiro e de louvador. desenvolveu as exortações morais mais firmes, apoiando-se na sua própria fé religiosa que o armava de todas as coragens.
Importantes encomendas lhe fugiram para irem parar a Baquílides, mais acomodatício.
A terceira pítica mostra-nos a intimidade das relações de Híeron e de Píndaro. Na verdade, não é um epinício, é uma epístola pessoal que o poeta escreve, não por ocasião de uma vitória desportiva, mas durante uma crise de areias de que Híeron sofria. É a carta de um amigo, um carta de consolação a um doente.
O poeta começa por lamentar que o centauro Quíron — pai da medicina, segundo a mais antiga tradição poética —, mestre de Esculápio, não esteja ainda vivo. Depois conta ao príncipe doente o nascimento do deus da medicina. Asclépio (Esculápio). É a história dos amores de Apolo e da ninfa Corónis. Corónis era romanesca, "sempre apaixonada pelo desconhecido, como tantas outras: entre as criaturas humanas, é a espécie mais vã, sonhadores que desprezam o que está diante deles e deixam as suas esperanças irrealizáveis correr atrás de fantasmas". Presa oferecida à circunstância mais ocasional. Esta ninfa, que "trazia no seu seio a pura semente do deus", não teve a paciência de esperar as núpcias que Apolo prometia, segundo o uso, preparar-lhe: "Um estrangeiro veio da Arcádia" — um simples passante; o primeiro que apareceu — "ela partilhou com ele o leito." [314]
"O deus soube da traição, sem consultar outro confidente que o mais recto de todos, o seu espírito, que sabe todas as coisas... Nem deus nem mortal o engana, nem em acto nem em pensamento." Fez castigar a infiel por sua irmã Artemis, que a trespassou com as suas flechas.
Os despojos de Corônis repousavam já sobre a fogueira, no meio dos seus parentes, a labareda viva de Hefesto já a envolvia toda, quando o deus, de súbito, lembrando-se do fruto que ela trazia: "Não", disse, "a minha alma não sofrerá que pereça um filho do meu sangue numa morte lamentável..." Dá um passo; as labaredas abrem-se diante dele. Alcança a criança, arranca-a ao corpo da mãe. Confia-o ao centauro Quíron, que irá fazer dele um médico. Tal é a narrativa do nascimento de Asclépio.
Além do laço natural entre este mito, que liga o deus da medicina e o doente a quem a história é contada, há na personagem de Corônis um ensinamento discreto mas preciso em intenção de Híeron. Caracterizando a jovem mãe, o poeta insiste no perigo do espírito de quimera, o erro que há em perseguir fantasmas. É neste sentido que irão desenvolver-se, no final de ode, as exortações ao doente.
Píndaro prossegue a sua narração com um magnífico quadro da carreira de Asclépio. Mostra o cortejo dos feridos e dos doentes — atingidos por úlceras internas, com a carne aberta pela lança e pela funda, corpos devastados pelas epidemias, pelo ardor do Verão, pelos rigores do Inverno — todos restabelecidos, "repostos a prumo" por operações e remédios.
Asclépio, porém, deixou-se também tentar pelo irrealizável: quis forçar a natureza, arrancou à morte um homem que ela tomara já. O raio de Zeus, sem hesitar, fez entrar juntos, na morte que o destino quisera, o doente e o médico.
Somos reconduzidos ao pendor das reflexões que o retrato de Corônis inspirava. Não procurar o impossível, mas olhar "o que está aos nossos pés". Ora, que está diante dos nossos pés? "A condição mortal."
É aqui que o poeta lança uma frase corajosa e esplêndida: "Ó minha alma, não aspires à vida imortal mas esgota o campo de acção que te é dado." Eis o conselho que ele tem a coragem de dar a um doente. Asclépio, sem dúvida, operou numerosas curas. Contudo, lembra-te de que tens de morrer, e entretanto age. Mas esta lição não a dá Píndaro em tom de lição. Não diz a Híeron: "Faze isto, não esperes aquilo." É a si próprio que o diz. "Ó minha alma, não aspires..." Este rodeio é ditado pelo tacto, tanto quanto pela amizade. [315]
É depois de ter estabelecido entre o príncipe e ele este tom de confiante intimidade que o poeta retoma e conclui a sua exortação. Ousa falar ao grande Híeron de resignação. Tiveste, diz-lhe, o favor dos deuses, és príncipe e condutor do teu povo. Decerto a vida não foi sempre para ti sem nuvens. Mas não estás sozinho: pensa nos heróis do passado. O que traz esta máxima de conduta geral: "O homem que conhece o caminho da verdade (e verdade significa muitas vezes, em Píndaro, realidade), o homem que segue o caminho da realidade sabe gozar da felicidade que os deuses lhe enviam. Mas os ventos que sopram nas alturas do Céu mudam constantemente."
Esta linguagem é muito bem aplicada a Híeron, que era homem de espírito muito realista, muito positivo: ele não ignora a lei da vicissitude.
Ao terminar, como se receasse ter sido demasiado directo e demasiado sermoneador, Píndaro volta outra vez a si mesmo. "Humilde na humilde fortuna, quero ser grande na grande." Orgulhosamente, declara que também conhece a grandeza. É poeta: são os seus cantos que dão a glória. Dá a entender que se um grande poderio como o de Híeron é raro, um grande poeta como ele não é menos raro. Por um momento julgamos ouvir um eco antecipado do poeta francês: "...Direz, chantant mes vers, en vous esmerveillant, Ronsard me celebroit du temps que / estois belle".
Mas o sentimento não é exactamente o mesmo. Há em Píndaro, ao mesmo tempo, uma humildade e um orgulho mais profundos: uma e outro lhe são dados pelo conhecimento da lei prescrita aos homens pelos deuses.
*
Antes de precisarmos melhor as relações de Píndaro e do príncipe, concedamo-nos o prazer de ler, pela sua simples beleza, o mito da décima nemeia. Pela sua simples beleza? Não. Toda a obra de Píndaro está cheia de ensinamentos. A beleza é para o poeta a expressão mais perfeita que ele sabe dar — que os deuses lhe concedem que dê— à justeza do pensamento.
A décima nemeia foi escrita para um argiano, vencedor na luta. Na primeira tríade, Píndaro esboça a grandes pinceladas uma tela de fundo mítico [316] uma evocação rápida dos grandes mitos de Argos. É um emaranhado de deuses, de heróis, de belezas célebres de Argos. Alcmena e Dánae recebem Zeus no seu leito; Perseu transporta a cabeça da Medusa; Hipermnestra, a única das Danaides que, na noite de núpcias poupou o esposo, mete o punhal na bainha; vemos as mãos de Épafo fundarem no Egipto inúmeras cidades; normalmente, o mais ilustre dos filhos de uma argiana, Hércules, aparece de pé no Olimpo, ao lado de sua esposa, a mais jovem das imortais, Hebe.
No canto desta tela de fundo, a segunda tríade apresenta o vencedor, o argiano Teaios. Está ali, colocado no primeiro plano, mas ocupando um lugar afastado: traz as coroas que ganhou em jogos diversos. Vemos mesmo a grande fora, com a sua provisão de azeite que ele trouxe de Atenas, uma das ânforas chamadas "panatenaicas" que conhecemos bem pela arqueologia.
Depois disto, sobre este pano de fundo pintado vaporosamente e com estas poucas personagens contemporâneas tratadas em resumo, o poeta, em plena luz. e com uma incrível firmeza de desenho, desenvolve o seu mito. É a história de dois deuses atletas e padroeiros dos atletas, Castor e Pólux. História muito bela, plasticamente e pelo vigor dos sentimentos.
Os dois irmãos geêmeos viviam em Esparta, no vale onde haviam nascido, tinham dois inimigos, também irmãos, Idas e Linceu. Um dia que Castor repousava no côncavo de um carvalho, Linceu, o homem dos olhos de lince, tinha a sua vista aguda, descobriu-o do alto do Taígeto. Chama Idas: os dois malfeitores surpreendem Castor adormecido. Idas fere-o de morte com a lança. Entretanto, Pólux, que, dos dois heróis, é só ele filho de Zeus e só ele é imortal, lança-se à procura dos assassinos. Encontra-os num cemitério. Fazem-no frente e, para se defenderem, arrancam uma esteia funerária, que é a do próprio pai. Atingem Pólux em cheio no peito. Mas o herói não vacila: espeta a lança de bronze no flanco de Linceu, enquanto Zeus, glorificando seu filho, lança contra Idas o seu raio fumegante. "Os dois cadáveres ali ficam a arder, na solidão."
Pólux corre para seu irmão. Castor respira ainda, mas já o seu corpo é sacudido pelo estertor. Pólux rebenta em soluços. Seu pai é omnipotente. Não poderia ele salvar o irmão bem-amado, o caro companheiro de labor? Suplica sem este irmão, não quer mais viver. Zeus então aparece a seu filho. O pai e o filho estão frente a frente. O deus omnipotente nada mais faz que oferecer a uma escolha difícil: "Tu és meu filho", lhe diz, com uma doçura [317] surpreendente na sua boca. "Dou-te, em inteira liberdade, esta escolha. Se queres escapar à morte e à velhice odiosa, habita o Olimpo comigo, em companhia de Atena e de Ares da sombria lança: tens direito a esta parte. Se preferes salvar a vida de teu irmão mortal, pões em comum as vossas duas sortes contrárias: metade da tua vida debaixo da terra, com ele; contigo, e metade da sua vida no palácio de ouro do Céu." Pólux não hesita o instante ce um pensamento: vai abrir os olhos fechados de Castor, ouve a sua voz reanimar-se.
A beleza deste mito, em menos de quarenta versos, não tem par: as cores vivas e o desenho duma perfeita justeza salientam-se com poderoso reflexo sobre o fundo de contornos voluntariamente confusos da ode.
A beleza está nos sentimentos como está nas atitudes. Estas duas ordens de beleza têm um atributo comum, que é nobreza. Todas as atitudes — como o confronto do pai e do filho —, todos os sentimentos, a prece de Pólux e dominando tudo, a escolha severa oferecida por Zeus a seu filho, finalmente ia resposta de Pólux reduzida a um gesto de amor fraterno: abrir os olhos fechados de Castor — tudo isto respira a grandeza.
Mas esta beleza nada tem de convencional. A cada momento, pelo contrário, um pormenor imprevisto produz um efeito de surpresa. Esse rapaz que repousa no côncavo duma árvore, essa estranha batalha num cemitério — todo o velho mito ganha um sabor de frescura e de novidade.
Entre as odes mais irradiantes que Píndaro escreveu em louvor de um príncipe, deve-se incluir a segunda olímpica, para Téron de Agrigento, vencedor nas quadrigas. Píndaro conhecia há muito tempo, quando compôs esse epinício, a família dos Emênidas, a que se ligava Téron, soberano de Agrigento. Conhecia os seus triunfos, a sua grandeza, conhecia as provações de que Téron e os seus sempre tinham até aí acabado por triunfar. A família dos Emênidai castigada e glorificada, podia, como a de Laio e de Édipo, servir de ilustração ao tema da vicissitude, fiel companheira do destino humano. Píndaro não tem o sentido trágico. Tende sempre a tranquilizar, a consolar, a falar da bondade, da [318] santidade dos deuses.
Toda uma corrente da sua obra o arrasta para a esperança da vida imortal da alma humana. Platão, que bem o conhece, a ele irá buscar imagens e argumentos neste sentido.
A segunda olímpica, simultâneamente, acentua a grandeza de Téron, mesmo nas provações, e dá-lhe a esperança suprema de que sempre o coração do homem se encanta.
A ode é de 476. O fim da grande aventura de Téron aproxima-se. Quinze anos de ditadura gloriosa, graças a um golpe de sorte, Agrigento cingida de uma coroa de templos que ainda hoje causa a nossa admiração. O fim da vida aproxima-se também. Para o poeta atento e amigo, é a altura de falar ao príncipe do poder da Fortuna sobre as nossas vidas. Fala-lhe da condição humana e da morte. Não será de mais dizer que lhe leva as consolações da religião.
O começo da ode, em breves fórmulas cintilantes, recorda o alto esplendor, sempre ameaçado, de Téron e dos seus antepassados: "Muralha de Agrigento, ele é a flor da recta cidade... Seus pais, por seus trabalhos, valentemente, foram a menina dos olhos da Sicília. A duração do destino vela sobre eles... O desgosto morre, domado, na sua sempre renascente amargura, pela abundância da alegria. O destino, vindo de Deus, ergue bem alto a nossa felicidade sem limites... Mas, movediças correntes nos arrastam: elas fizeram tanto a felicidade como as provações."
O poeta dá exemplos do glorioso triunfo da felicidade: "Tal como as altivas filhas de Cadmo, sofreram provações indizíveis. Mas o peso do sofrimento desmorona-se pela acção da felicidade que as invade. Sêmele das longas tranças pereceu no fragor do raio: revive entre os Olímpios, é amada de Palas para todo o sempre, é amada de Zeus, querida de seu filho, o deus que leva a hera."
Mais adiante, começa o elogio das virtudes de Téron, a principal das quais é a energia: "Para quem tenta a luta, o êxito corta cerce o desgosto." Téron é rico: "A riqueza ornada de virtudes abre à sorte numerosas ocasiões: põe à espreita da felicidade o mais fundo do nosso pensamento."
No ponto mais alto deste desenvolvimento, onde frequentemente se vê o triunfo do homem fazer frente à "necessidade", coloca-se a promessa suprema, a do castelo de Crono, que espera os justos depois da morte.
"Mas eis que os justos, iguais as noites, iguais os dias, contemplam o Sol e recebem em partilha uma vida menos laboriosa que a nossa. Nem a terra [319] nem a água do mar reclamam o esforço dos seus braços, ao longo de vidas inconsistentes. Junto dos favoritos dos deuses, daqueles que amaram a boa fé, os eleitos vivem uma eternidade que não conhece as lágrimas. Quanto aos maus, esses sofrem uma provação que o olhar não pode suportar."
"Todos aqueles que tiveram a coragem, numa tripla estada num e noutro mundo, de conservar a sua alma inteiramente pura de injustiça, seguem até ao seu termo o caminho de Zeus que os leva ao castelo de Crono. Lá, a ilha dos Bem-Aventurados é banhada ao redor pela frescura das brisas oceânicas: La resplandecem flores de ouro, umas subindo da terra, nos ramos das árvores gloriosas, outras que as águas alimentam. Entrelaçam grinaldas, entrançar: coroas, pela recta vontade de Radamanto, o assessor que está às ordens de poderoso antepassado dos deuses, o esposo dessa Reia que tem assento no mais alto dos tronos."
Depois Píndaro enumera dois ou três desses eleitos do castelo de Crono Entre eles, Aquiles. As vitórias de Aquiles parecem incitá-lo de súbito a travar combate contra aqueles que lhe disputam o favor de Téron. Ei-lo invadido por um rancor que o faz ameaçar: "Tenho sob o cotovelo, no meu carcás, numerosos dardos de voz clara. Eles sabem penetrar o espírito das pessoas de senso. Quanto a atingirem a massa, precisariam de um intérprete. O inspirado é aquele que recebe da natureza o seu grande saber. Mas aqueles que, por estudo, e intermináveis tagarelices, o imitam, semelhantes a corvos, esses não fazer mais que crocitar em vão contra a ave divina de Zeus! Vamos, meu coração, que o teu arco vise o alvo!"
Interpretemos. O inspirado, e também a ave divina de Zeus, é Píndaro. Os rivais que crocitam contra ele, são Simônides e Baquílides, corvos inesgotáveis
Como que restituindo a si mesmo por este acesso de cólera, Píndaro volta-se para Téron e declara-lhe, terminando, que se a inveja, na sua suficiência, quisera assaltar a glória do príncipe, será posta em debandada pela excelência da sua acção, desde que ele à acção se entregue completamente. Pontinha de ênfase no elogio, nos últimos versos: "Como a areia escapa ao cálculo, assim as alegrias que este homem terá distribuído pelos outros, quem as poderá enumerar?"
Passagens como a do "castelo de Crono" não são raras na obra conservada de Píndaro. Disse acima que Platão usara uma delas. Ei-la:
"Quanto àqueles que Prosérpina lavou das antigas máculas, ao cabo de oito anos, envia ela as suas almas ao sol do alto. Destas almas nascem heróis [320] ilustres, homens invencíveis pelo seu vigor ou excelentes pela sua sabedoria. Após a morte, são honrados pelos vivos como heróis."
Ou ainda estes versos em que o poeta descreve a felicidade dos justos: Para eles, durante a noite terrestre, brilha nas profundezas a força solar; campos de rosas púrpuras se estendem aos pés dos muros da cidade; a árvore do incenso oferece a sua sombra e os seus ramos carregados de frutos de ouro."
Estas crenças não são contudo as únicas que encontramos em Píndaro no que toca à outra vida. Não se deteve nelas à maneira dogmática, que não é a maneira antiga de crer. Os Gregos mais crentes são sempre muito reservados nas suas afirmações sobre o além. Aliás, em Píndaro, a sobrevivência do homem reveste-se de formas mais modestas. Ele diz: "Eterna é a duração do homem. Aquele cuja raça não se afunda no esquecimento por falta de filhos, esse vive, e doravante ignora as penas." O que significa: os filhos vivem, e ele repousa no eterno sono. Eis a imortalidade ligada à duração da descendência.
Noutras passagens, ainda mais numerosas, é a memória do vivente que assegura a imortalidade, é o canto do poeta que proporciona a duração mais longa. Viver longamente na memória dos seus, dos amigos, porque bem se agiu, porque em consciência se fez o seu ofício de homem, eis os pensamentos que permitem a Píndaro, nos dias em que se desvanecem as esperanças do castelo de Crono, aceitar a sua condição de homem mortal: "Possa eu, ó Zeus... permanecer sempre fiel aos caminhos da franqueza, para que, morto, não deixe a meus filhos uma má reputação... Por mim, quereria entregar o corpo à terra sem ter deixado de agradar aos meus concidadãos, de louvar o que merece ser louvado, de censurar os celerados!"
E vão perguntar qual destes dois homens é o verdadeiro Píndaro — o que crê na vida imortal, ou aquele que esquece a morte ("O homem que faz o que convém, esquece a morte") ou que exclama: "Ó minha alma, não aspires à vida imortal!"
Não há dois Píndaros. Há um poeta que crê e que espera, e que esquece, a quem a sua sabedoria e a sua boa consciência bastam — um homem, enfim, cheio de contradições, não um teólogo.
Um crente, porém, porque mesmo nos dias em que ele não espera nada, em que não sabe, crê que há deuses: eles, pelo menos, sabem. [321]
A altivez de Píndaro, em todas as palavras de modéstia ou mesmo de humildade que pronuncia, é sempre incomparável. Píndaro sabe que os poetas são iguais aos príncipes e que a glória dos príncipes só existe graças aos poetas. Perante o príncipe, Píndaro nunca é humilde. Só é humilde diante de Deus, tal como o príncipe o deve ser também.
Píndaro pôde, pois, com toda a independência, louvar os príncipes. Louvou os príncipes que o mereciam ser. Híeron e Téron eram homens de grande envergadura — animados de grandeza pela cidade como por eles próprios. Desta grandeza não está excluída a elevação moral.
Píndaro louvou muito, mas também exigiu muito. Pode-se pensar que, louvando, se dedica a fortalecer no príncipe o sentimento do seu valor. Encoraja-o dizendo que a protecção divina se estende sobre ele. Mas ao mesmo tempo recorda-lhe que os seus talentos e os seus êxitos não são mais que dons de Deus: "Não esqueças", diz a Arcesilau, rei de Cirene, "de referir a Deus tudo o que te cabe." Na verdade, a felicidade dos príncipes só perdura se fundada no temor de Deus e na prática da Justiça. Agir "com Deus", eis o grande princípio de governo.
O poeta é inspirado. É porque é "profeta" que pode exigir muito do príncipe. O que ele exige são as virtudes do velho código aristocrático: justiça, rectidão, liberalidade, e também o respeito do povo, a mansidão para com aqueles a quem governa e que são não súbditos mas "concidadãos". O que exige, sobretudo, é a coragem de suportar a desgraça e a firmeza, não menos difícil, de suportar a felicidade.
Píndaro não pensa que o governo do príncipe seja a melhor forma de governo que existe. Ele o diz. Prefere o governo aristocrático, o governo daqueles a quem chama "sages". No entanto, não repele o regime do bom príncipe, do príncipe que seja o melhor e o mais sábio, do príncipe que se comporte com nobreza. Pensa-se já em Platão, não obstante a diferença dos tempos e dos temperamentos.
Que tentou Píndaro junto dos príncipes da Sicília? Não terá sido exactamente a mesma tentativa que Platão fez junto de outros soberanos sicilianos? Tentou desenvolver no príncipe o sentido da sua responsabilidade. Tentou, ele, aristocrata de nascimento e de alma, ao dirigir-se a estes "homens novos" fazer deles verdadeiros nobres. [324]
Podia fazê-lo, não porque fosse poeta a soldo, mas porque, fiel à missão que recebe dos deuses, revela às almas animadas de grandeza o sentido da vida humana, que é o de realizar "belas acções". Apresenta ao príncipe os heróis, convida o príncipe a escolher a vida heróica. Vejam-se, na quarta pítica, dirigida a Arcesilau, os jovens príncipes que se juntam em volta de Jasão:
Nenhum deles-, diz o poeta, "queria deixar a sua juventude murchar sem perigo"; queriam, "mesmo à custa da morte, descobrir o encanto explêndido da sua própria nobreza". Escolhem a vida nobre, a vida difícil. Vejamos ainda Pélops, na primeira olímpica, dirigida a Híeron, escolher a vida heróica. Pélops roga: "Um grande risco nada quer de um combatente sem coração. Uma vez que temos de morrer, para que sentar-nos à sombra a digerir na impotência uma velhice obscura, afastados de todas as proezas?"
A vida heróica, a vida nobre, eis os exemplos propostos ao príncipe.
O preêmio é a glória, que é a mais segura imortalidade. E é o poeta quem a dá. Píndaro proclama: "A virtude, graças aos cantos do poeta, instala-se no tempo."
E ainda isto: "A voz dos belos poemas ressoa imortal: graças a ela, pelos espaços da terra fértil e através dos mares, irradia, inextinguível, a glória das belas acções."
Finalmente, este verso admirável: "Sem os cantos do poeta, toda a virtude morre no silêncio."
Porquê este entusiasmo e esta certeza? Porque o serviço do poeta e o serviço do príncipe são, um e outro, serviços divinos. [325]

Sabemos agora, graças à onomástica, que os Semitas estão estabelecidos na Babilônia e na Suméria desde as origens da história. De resto, um texto de Abu Salabih esta escrito em língua Acadiana. Há, pois, que considerar a sociedade mesopotâmica, no III milênio, como uma sociedade bilíngüe, mesmo admitindo que o elemento cultural sumério seja nela o mais forte. Através das fontes, textos oficiais, contratos de cessão de bens imobiliários, textos administrativos e econômicos, transparece a imagens de um sistema socioeconômico dominado pelo confronto entre duas concepções antinômicas das relações sociais de produção. Em resumo, assiste-se, ao longo do segundo terço do III milênio - e provavelmente já há muito tempo -, ao abandono progressivo de uma economia domestica de auto-subsistência, em que a circulação dos bens, encerrados num tecido de laços muito complexos e socialmente valorizados, seguia os esquemas da dádiva, da prestação e da redistribuição, e cujo grupo social de base era a comunidade domestica não igualitária, coletivamente gestionária da terra, geralmente dividido em classes de idades; em seu lugar, a Mesopotâmia opta por um sistema de economia complementar que considera os bens como mercadorias e em que a terra é objeto de uma apropriação individual. A hierarquia social reflete a desigualdade da repartição do acréscimo de produção, estando a sociedade dividida, para nós ficarmos por uma apreciação, muito geral, entre ricos e pobres.
A historia da Mesopotâmia é dominada, ao longo da época, pelas interferências entre estas duas concepções. Daí resultam tensões difusas e locais, por vezes breves incidentes de percurso. A sociedade já não esta em condições de impor as suas normas; as celebres "reformas" de Uru'inimgina são um testemunho precioso, embora muito obscuro, desse estado de coisas. O fato mais importante é de caráter irreversível e o progressivo desaparecimento dos grandes patrimônios, geridos coletivamente, e o açambarcamento da terra por indivíduos que se tornam seus proprietários. Ignoramos tudo acerca de um pequeno campesinato independente cuja existência não podemos avaliar e que está condenado, de fato, a uma agricultura de subsistência. Nesta época, a estrutura econômica dominante é a grande exploração agrícola, quer se trate do palácio real, do templo ou do domínio privado. É principalmente o arquivo do domínio da rainha, em Girsu, que nos esclarece quanto ao seu funcionamento e a sua organização.
Os bens fundiários estão repartidos em três lotes principais: domínio do "senhor", destinado às necessidades do culto, as terras de subsistência, destinadas ao sustento do pessoal, e as terras de lavoura, dadas em arrendamento. Para a manutenção das suas terras e o funcionamento das suas oficinas e armazéns, o mesmo domínio emprega cerca de 1200 pessoas que pertencem a todos os ofícios necessários ao bom andamento de uma célula econômica autônoma: agricultores, jardineiros, pastores, ferreiros, tecelões, operários da construção. A administração destes bens está confiada a um intendente, ficando a direção nas mãos, de um sanga.
Os rendimentos das explorações agrícolas e os dos arrendamentos constituem a principal fonte de riqueza do domínio. O comercio longínquo proporciona metais e pedras preciosas que se vão procurar até ao Egito ou nas regiões do Indo. Os gastos não são descuráveis: necessidades do culto, pagamento dos produtos importados, remuneração do pessoal que é feita em gêneros.
Só para a cidade de Lagash são conhecidos uns vinte templos. Todos eles prestam contas a uma instância central: o ê.gal. É impossível saber Se se trata do palácio do ensi ou do templo principal, já que ê.gal significa "grande casa" e tanto pode designar um como o outro.
O palácio, residência do rei, apresenta-se como um vasto complexo de mesmo tipo que o do templo, com a particularidade de o elemento militar desempenhar nele um papel essencial. Tal é, pelo menos, o caso em Shuruppak onde as tabuinhas fazem menção de listas de tropas e de reparação de carro. Os efetivos são, geralmente, pouco elevados, entre 500 e 700 homens; as inscrições reais tem uma forte propensão para aumentá-los exageradamente.
A vida de uma cidade está admiravelmente resumida em alguns traços, pelos dois painéis do celebre "estandarte de Ur", que figura respectivamente os trabalhos da guerra e da paz. O "estandarte", descoberto nos túmulos de Ur, é de fato um cofrezinho de madeira revestido com um mosaico de conchas. As cenas representadas estão dispostas em registros. Do lado da guerra, carros e homens de armas pisam os cadáveres de inimigos vencidos. Armados de lanças e de machados, os soldados usam capacete e capa cravejada. Prisioneiros nus e amarrados de pés e mãos são arrastados perante o rei que se mantém no meio do registro superior. Do lado da paz homens conduzem onagros ou levam fardos, outros tocam animais destinados ao sacrifício ou ao banquete que, acompanhado por uma orquestra, se desenrola no registro superior na presença do rei.

Regressemos a esse outro método de investigação, de decifração da vida humana e do mundo — a tragédia grega. Tanto quanto a ciência e a filosofia, a tragédia apresenta-se como um modo de explicação e de conhecimento do mundo. E de facto o é, nessa idade ainda religiosa do pensamento grego que é a segunda metade do século V. Nessa época são ainda raros os pensadores e os poetas que para resolver os problemas da vida humana os não apresentem à luz cintilante do céu, não os entreguem à vontade imperiosa dos seus habitantes. Sófocles, entre todos, é crente — crente contra ventos e marés, crente contra as evidências da moral e a ambiguidade do destino. Um mito parece ter acompanhado a longa e vigorosa velhice do poeta: o mito de Édipo, terrível mais que nenhum outro, que fere o senso humano da justiça como parece ferir a fé. Sófocles, a quinze anos de distância, trava duas vezes luta com este mito. Em 420 escreve Rei Édipo: tem setenta e cinco anos. Em 405, aos noventa anos, retoma, sob uma forma nova, quase o mesmo assunto, como se hesitasse ainda sobre o desenlace que lhe dera: escreve Édipo em Colono. Quer ir até ao fim do seu pensamento, quer saber, no fim de contas, se sim ou não os deuses podem castigar um inocente... Saber o que será do homem num mundo que tais deuses governam.
Conhece-se o tema do mito. Um homem assassina seu pai, sem saber que ele é seu pai; casa com a mãe por acidente. Os deuses punem-no destes crimes, para que o tinham destinado antes mesmo que ele tivesse nascido. Édipo acusa-se destas faltas, de que nós o não consideramos responsável, proclama a sabedoria da divindade... Estranha religião, moral chocante, situações [375] inverosímeis, psicologia arbitrária. Pois bem: Sófocles quer explicar ao seu povo esta história extravagante, este mito escandaloso. Quer, sem os despojar do seu carácter inelutável, inserir neles uma resposta do homem, que. de alto a baixo, lhes modifique o sentido.
I
"Vê, espectador, com a corda dada até ao fim, de tal modo que a mola se desenrola com lentidão ao longo de toda uma vida humana, uma das mais perfeitas máquinas construídas pelos deuses infernais para o aniquilamento matemático de um mortal."
Com estas palavras se ergue, em Cocteau, o pano deste Édipo moderno que o autor tão rigorosamente intitulou A Máquina Infernal. O título valeria também para a obra antiga. Pelo menos exprimiria ao mesmo tempo o seu sentido mais aparente e a sua progressão.
Sófocles, com efeito, constrói a acção do seu drama como se monta uma máquina. O êxito da montagem do autor rivaliza com a habilidade de Aquele que dispôs a armadilha. A perfeição técnica do drama sugere, na sua marcha rigorosa, a progressão mecânica desta catástrofe tão bem composta por Não-Se-Sabe-Quem. Máquina infernal, ou divina, feita para dissociar até à explosão a estrutura interna de uma felicidade humana — é um prazer ver todas as peças da acção, todas as molas da psicologia ordenarem-se umas às outras de maneira a produzirem o resultado necessário. Todas as personagens, e Édipo em primeiro lugar, contribuem, sem o saber, para a marcha inflexível do acontecimento. Elas próprias são peças da máquina, correias e rodas da acção que não poderia avançar sem a sua ajuda. Ignoram tudo da função que Alguém lhes destinou, ignoram o fim para, que avança o mecanismo em que estão empenhados. Sentem-se seres humanos autónomos, sem relação com esse engenho cuja aproximação distinguem vagamente ao longe. São homens ocupados nos seus assuntos pessoais, na sua felicidade corajosamente ganha por uma honesta prática do ofício de homem — pelo exercício da virtude... E de repente descobrem a poucos metros essa espécie de enorme tanque que puseram em movimento sem saber, que é a sua própria vida que marcha sobre eles para os esmagar. [276]
A primeira cena do drama apresenta-nos a imagem de um homem no ornáculo da grandeza humana. O rei Édipo está nos degraus do seu palácio. De joeIhos, o seu povo dirige-lhe uma súplica pela voz de um sacerdote. Uma desgraça caiu sobre Tebas, uma epidemia destrói os germes da vida. Noutro tempo Édipo libertara a cidade da esfinge. Cabe-lhe salvar outra vez a terra, que é, aos olhos dos seus súbditos, "o primeiro, o melhor dos homens". Arrasta atrás de si o cortejo magnífico das suas acções passadas, das suas proezas, dos seus benefícios. Sófocles não fez deste grande rei um princípe orgulhoso, uma senhor duro. embriagado pela fortuna. Apenas lhe atribui sentimentos de bondade, gestos de atenção para o seu povo. Antes mesmo que viessem implorar, ele reflectira e agira. Édipo enviara a Delfos Creonte, seu cunhado, a consultar o oráculo, marcando assim o seu habitual espírito de decisão. Agora, ao apelo dos seus, comove-se e declara que sofre mais do que nenhum dos tebanos, pois é por Tebas inteira que sofre. Sabemos que diz a verdade. Sente-se responsável pela pátria que dirige e que ama. A sua figura encarna, desde o começo do drama, as mais altas virtude do homem e do chefe. Para o ferirem, os deuses não podem alegar orgulho ou insolência. Tudo e autêntico neste homem; nesta alta fortuna, tudo é merecido. Primeira imagem que se grava em nós. No mesmo lugar, no alto da escadaria, aparecerá, na última cena, o proscrito de olhos sangrentos — imagem de um cúmulo de miséria que sucede a um cúmulo de grandeza.
Esperamos esta reviravolta: conhecemos o desenlace deste destino. Desde o princípio da peça que certos toques de ironia — essa "ironia trágica" que dá o seu tom ao poema — se pousam sobre as palavras das personagens, sem que elas o saibam, e nos advertem. Estas, com efeito, ignorantes do drama antigo em que tiveram a sua parte, drama já cumprido e que não tem de trazer à luz do dia o seu horror, pronunciam tal ou tal palavra que para elas tem um sentido banal e tranquilizador, um sentido em que as vemos apoiar-se confiantemente. Ora, esta mesma palavra, para o espectador que sabe tudo, passado e futuro, tem um sentido inteiramente diferente, um sentido ameaçador. O poeta toca o duplo registo da ignorância da personagem e do conhecimento do espectador. Os dois sentidos ouvidos ao mesmo tempo são como duas notas confundidas numa horrível dissonância. Não se trata, aliás, de um simples processo de estilo. Sentimos essas palavras irônicas como se elas se formassem nos lábios ias personagens, sem que estas o saibam, pela acção da potência misteriosa escondida atrás do acontecimento. Um deus troça da falsa segurança dos homens... [277]
A construção da sequência do drama é uma sucessão de quatro "episódios em que, de cada vez, o destino desfere em Édipo um novo golpe. O último derruba-o.
Esta composição é tão clara que o espectador logo de entrada vê a direcção e o fim dela. Vê esses quatro passos que o destino dá ao encontro do herói trágico. Não pode imaginar de que maneira o deus vai ferir o homem, uma vez que o poeta inventará de cada vez uma situação que a lenda não conhecia. Mas compreende de golpe a ligação dos episódios entre si, a coerência das quatro cenas sucessivas pelas quais a acção progride à maneira de um movimento de relojoaria. Para Édipo, pelo contrário, tudo o que, aos olhos do espectador, é sequência lógica, execução metódica de um plano concertado pelo deus, apresenta-se como uma série de incidentes, de acasos cujo encadeamento ele não pode distinguir e que, a seus olhos, apenas interrompem ou desviam a marcha rectilínea que ele deve seguir na sua busca do assassino de Laio. Édipo é ao mesmo tempo conduzido por uma mão de ferro, e em linha recta com efeito, para um fim que não distingue, para um culpado que é ele próprio, e contudo perdido em todos os sentidos em pistas divergentes. Cada incidente lança-o numa direcção nova. Cada golpe o aturde, por vezes de alegria. Nada o adverte. Há pois, na marcha da acção, dois movimentos distintos que nós seguimos simultaneamente: por um lado o avanço implacável de um raio luminoso no coração das trevas, por outro lado a marcha às apalpadelas, a marcha rodopiante de um ser que esbarra na escuridão com obstáculos invisíveis, progressivamente atraído, sem que o sonhe, para o foco luminoso. De súbito as duas linhas cortam-se: o insecto encontrou a chama. Num instante tudo acabou. (Ou parece ter acabado... Será ainda desse foco desconhecido que vem agora a luz, ou do homem fulminado?...)
O primeiro instrumento de que o destino se serve para ferir é o adivinho Tirésias. Édipo mandou vir o velho cego para ajudar a esclarecer o assassínio de Laio. Apolo determina, para salvação de Tebas, a expulsão do assassino. Tirésias sabe tudo: o cego é o vidente. Ele sabe quem é o autor do assassínio de Laio, sabe mesmo que é Édipo e que este é filho de Laio. Mas como o dira ele? Quem acreditará? Tirésias recua diante da tempestade que a verdade levantaria. Recusa-se a responder, e esta recusa é natural. É igualmente natural que esta recusa irrite Édipo. Tem diante de si um homem que só tem uma [278] palavra a dizer para salvar Tebas, e esse homem cala-se. Que pode haver de mais escandaloso para o bom cidadão que é Édipo? Que pode haver de mais suspeito? Uma só explicação se apresenta: Tirésias foi cúmplice do culpado a quem procura cobrir com o seu silêncio. Ora, a quem aproveitaria este silêncio? A Creonte, herdeiro de Laio. Conclusão: Creonte é o assassino procurado. Édipo julga subitamente o seu inquérito próximo do fim, e encoleriza-se contra Tirésias cujo silêncio lhe barra o caminho, e que lhe recusa, porque sem duvida esteve metido na conspiração, os indícios de que precisa.
Esta acusação levantada pelo rei contra o sacerdote engendra, por sua vez, com igual necessidade, uma situação nova. O jogo psicológico, conduzido com rigor, faz avançar a máquina infernal. Tirésias, ultrajado, não pode fazer outra coisa senão proclamar a verdade: "O assassino que procuras, és tu mesmo..." Eis o primeiro golpe desferido, eis Édipo posto em presença dessa verdade que e!e persegue e que não pode compreender. Na sequência da cena, que sobe com o fluxo da cólera, o adivinho vai mais longe: entremostra um abismo de verdade ainda mais terrível: "O assassino de Laio é tebano. Matou seu próprio pai. mancha o leito de sua mãe." Mas Édipo não pode apreender esta verdade que Tirésias lhe oferece. Ele bem sabe que não matou Laio, que é filho de um rei de Corinto, que nunca teve nada com a terra tebana antes do dia em que, adolescente, a salvou da esfinge. Entra em casa aturdido, mas não abalado. Vai lançar-se com o seu costumado ardor na nova pista que o destino lhe aponta — a conspiração imaginária de Creonte.
Jocasta é o instrumento escolhido pela divindade para dar em Édipo o segundo golpe. A rainha intervém na disputa que rebenta entre o marido e o irmão. Quer acalmar o rei, tranquilizá-lo sobre as declarações de Tirésias. Pensa consegui-lo ao dar-lhe uma prova evidente da inanidade dos oráculos. Em tempos, um adivinho predissera a Laio que ele pereceria pela mão de um filho. Ora este rei foi assassinado por bandidos, numa encruzilhada, durante ama viagem que ele fazia pelo estrangeiro — e o único filho que ele jamais tivera fora exposto na montanha para aí morrer, três dias após o nascimento. Eis o crédito que se pode dar aos adivinhos.
Estas palavras de Jocasta, destinadas a sossegar Édipo, são aquelas que, precisamente, pela primeira vez, vão morder a certeza que ele tem da sua inocência. Na máquina infernal havia uma pequena mola que podia transformar a firmeza em dúvida, a segurança em angústia. Sem o saber, Jocasta tocou nessa mola. Deu sobre a morte de Laio um desses pormenores insignificantes [279] que se metem numa narrativa sem pensar: disse, de pasagem, que Laio fora assassinado "numa encruzilhada". Este pormenor mergulhou no subconsciente de Édipo, removeu toda uma massa esquecida de lembranças. O rei revê subitamente essa encruzilhada de uma antiga viagem, essa disputa que tivera com o condutor de uma atrelagem, esse velho que lhe batera com um chicote, a sua brusca cólera de homem vigoroso e o golpe que desferira... Terá Tirésias dito a verdade? Não que Édipo tenha ainda a menor suspeita da rede de acontecimentos que o levaram àquela encruzilhada. Na narração de Jocasta, uma vez ouvidas as palavras a respeito da "encruzilhada de três caminhos Édipo, todo entregue às suas recordações, deixou passar a frase, aquela que falava da criança exposta, que poderia obrigar o seu pensamento a meter por um caminho muito mais temeroso. É-lhe pois impossível supor que tenha podido matar seu pai, mas é obrigado a admitir que pode ter matado Laio. Édipo persegue Jocasta com perguntas. Espera encontrar no assassínio que ela lhe conta uma circunstância que não concorde com o assassínio que ele se lembra agora de ter cometido. "Onde era essa encruzilhada?" O lugar concorda "Em que época foi esse crime?" O tempo concorda. "Como era esse rei? Que idade tinha?" Jocasta responde: "Era alto. A cabeça começava a embranquecer. Depois, como se o notasse pela primeira vez: "Parecia-se um pouco contigo. Compreende-se aqui o poder da ironia trágica e qual o sentido, ignorado de Jocasta, que o espectador dá a esta semelhança... Um pormenor, contudo, não acerta. O único servo escapado ao extermínio da encruzilhada declarara (adivinhamos que ele mentiu para se desculpar) que o seu senhor e os seus companheiros tinham sido mortos por um grupo de bandidos. Édipo sabe que estivera sozinho. Manda chamar o servo. Agarra-se a este pormenor falso, ao passo que o espectador espera precisamente deste encontro a catástrofe.
Terceira ofensiva do destino: o mensageiro de Corinto. No decurso da cena anterior, Édipo falara a Jocasta de um oráculo que lhe fora dado na juventude: ele devia matar o pai e casar com a mãe. Por causa disso deixara Corinto e tomara o caminho de Tebas. Eis que um mensageiro lhe vem anunciar a morte do rei Políbio, esse pai que ele devia assassinar. Jocasta triunfa: "Mais um oráculo mentiroso!" Édipo partilha da sua alegria. Recusa-se contudo a regressar a Corinto, com medo de se expor à segunda ameaça do deus. O mensageiro procura tranquilizá-lo. Como Jocasta ainda há pouco, vai. com as melhores intenções, pôr a funcionar uma peça da máquina e precipitar a catástrofe. "Porque hás-de recear o leito de Mérope?", diz. "Ela não é tua [280] mãe." Mais adiante: "Políbio era tanto teu pai como eu." Nova pista divergente oferecida à curiosidade de Édipo. Precipita-se por ela. Agora está a cem léguas do assassínio de Laio. Só pensa — com uma alegre excitação — em desvendar o segredo do seu nascimento. Aperta o mensageiro com perguntas. O homem diz-lhe que ele próprio o entregara, criancinha ainda, ao rei de Corinto. Recebera-o de um pastor do Citerão, servo de Laio.
De golpe, Jocasta compreendeu. Num relâmpago, junta os dois oráculos falsos numa só profecia verídica. Ela é a mãe da criança exposta: nunca esquecera a sorte do pequeno infeliz. Eis porque, ao ouvir esta outra história de criança exposta — a mesma história —, é a primeira a compreender. Édipo, pelo contrário, deu pouca atenção à sorte do filho de Laio, se é que ouviu o pouco que Jocasta lhe havia dito. Por outro lado, só o enigma do seu nascimento o preocupa naquele momento e o desvia de todo o resto. Em vão Jocasta lhe suplica que não force este segredo. Leva o pedido à conta da vaidade feminina: a rainha teme certamente ter de vir a corar do nascimento obscuro do marido.
Obscuridade de que ele se glorifica.
"Filho afortunado do destino, o meu nascimento não me desonra. A boa estrela é minha mãe e o decurso dos anos me fez grande, de ínfimo que era." E isto é verdade: ele foi grande. Mas esta grandeza que é sua obra de homem, o destino a que ele a liga só lha concedeu para lha tirar — e troçar dele.
O destino dá o seu primeiro golpe. Basta a confrontação, presidida por Édipo, do mensageiro de Corinto e do pastor de Citerão que lhe entregara a criança desconhecida. Por um hábil arranjo do poeta, este pastor é o servo salvo do drama da encruzilhada. A preocupação da economia que marca aqui Sófocles concorda com o estilo sóbrio da composição. Um drama em que os golpes se sucedem com tanta precisão e rapidez nada pode tolerar de supérfluo.
Por outro lado, o poeta quiz que Édipo soubesse ao mesmo tempo e com uma so palavra toda a verdade. Não em primeiro lugar que era o assassino de Laio e só depois que Laio era seu pai. Uma catástrofe em dois tempos não teria a intensidade dramática do desenlace que — pelo facto de que uma só personagem detém toda a verdade — vai rebentar, num único e terrível som de trovão, sobre a cabeça de Édipo. Quando o rei sabe pelo servo do pai que é o filho de Laio, nem sequer precisa de perguntar quem matou Laio. A verdade torna-se de súbito cegante. E ele corre a cegar-se a si próprio.
Então — enforcada Jocasta — oferece-se a nós a imagem nova daquele que foi "o primeiro dos homens": a Face de olhos mortos. Que tem ela para nos dizer? [281]
Toda a última parte do drama — após o terrível relato dos ganchos furando as pupilas em golpes repetidos — é o lento final de um poema cujo andamento fora até aqui cada vez mais precipitado. O destino satisfeito suspende a sua carreira e restitui-nos a respiração. O movimento vertiginoso da acção imobiliza-se de súbito em longos lamentos líricos, em adeuses, em pesares, em retornos sobre si mesmo. Não pensemos que por isto a acção se detém ou apenas se interioriza, nesta conclusão do drama, no próprio coração do herói. O lirismo é aqui acção: é activa meditação de Édipo sobre o sentido da sua vida, e o reajustamento da sua pessoa à presença do universo que o evento lhe descobre. Se a "máquina infernal" executou magnificamente a operação do "aniquilamento matemático" de uma criatura humana, eis que neste ser aniquilado através do nosso horror, a acção vai retomar a sua marcha, seguir a lenta via das lágrimas e, contrariamente à nossa expectativa, desabrochar em piedade fraternal, florir em coragem.
Para os modernos, toda a tragédia acaba em catástrofe. Rei Édipo parece-lhes a obra-prima do género trágico, porque o seu herói parece afundar-se no horror. Mas esta interpretação é falsa: esquece todo esse fim lírico em que se situará a resposta de Édipo. Enquanto não for validamente explicada ests conclusão de Rei Édipo, magnífica em cena, outra coisa se não terá feito sem alterar o setido deste grande poema: na verdade Rei Édipo não terá sido compreendido.
Mas olhemos esse ser que avança tacteando e cambaleando. Está ele realmente aniquilado? Iremos nós comprazer-nos em contemplar nele o horror de um destino sem nome? "Povo mortal, o mundo pertence ao Destino, resigna-te!" Não, nenhuma tragédia grega — e nem sequer Édipo — convido, jamais um público ateniense a esta resignação, bandeira branca da derrota consentida. Para além do que parece gritos de desespero, protesto de abandono, encontraremos essa "força de alma" que é o duro núcleo de resistência inquebrável desse velho (Sófocles-Édipo) e do seu povo. Sentimos já que nesse ser votado ao aniquilamento, a vida bate ainda: ela reaprenderá a sua marcha. Édipo vai erguer como novas armas essas pedras com que o Destino o lapidou, revive para se bater de novo, mas numa perspectiva mais justa da sua condição de homem. É esta perspectiva nova que ele descobre na última parte de Rei Édipo.
A tragédia Rei Édipo abre-nos pois na quarta e última parte do seu percurso horizontes que não tínhamos sequer suspeitado ao princípio. Todo [282] drama, desde o primeiro instante, nos tinha falaciosamente tendido para a angústia do minuto em que Édipo conheceria o sentido da sua vida passada: parecia todo ele concebido e dirigido para produzir esse sábio crime concertado pelos deuses, que é o verdadeiro crime da peça — o assassínio de um inocente.
"Parecia..." Mas, não. O poeta revela-nos nesta conclusão do drama, pela ampla beleza desse fuste lírico com que coroa a sua obra, que o termo, o fim dessa obra não era a simples destruição de Édipo. Tomamos lentamente consciência de que a acção, por mais severa que tenha sido sobre nós a sua dominação, não nos conduzia à ruína do herói, mas antes nos fizera esperar, ao longo da peça e no mais profundo de nós próprios, uma coisa desconhecida, ao mesmo tempo temida e esperada, essa resposta que Édipo derrubado pelos deuses teria a dar a esses deuses. — Resposta que temos agora de descobrir.
II
Chorar as lágrimas trágicas, é reflectir... Nenhuma obra de grande poeta é escrita para nos fazer pensar. Uma tragédia propõe-se comover-nos e agradar-nos. É perigoso interrogarmo-nos sobre o sentido de uma obra poética e formular esse sentido em termos intelectuais. Contudo — se o nosso espírito não tem compartimentos estanques — toda a obra que nos comove ressoa na nossa inteligência e toma posse de nós. E foi também com todo o seu ser que o poeta a compôs. Atinge o nosso pensamento pelo caminho do estranho prazer do sofrimento partilhado com as criaturas nascidas da sua alma. É o terror, é a piedade, é a admiração e o amor pelo herói trágico que nos obrigam a perguntar a nós próprios: "Que acontece a este homem? Qual é o sentido deste destino?" O poeta impõe-nos pois a procura do sentido da sua obra como uma reacção natural do nosso entendimento ao estado de emotividade em que nos lança.
Parece-me distinguir em nós, a propósito de Édipo, três reacções deste gênero, três sentidos que o nosso pensamento atribui a esta tragédia, à medida que ela caminha e progride em nós, três etapas do nosso espírito para a sua plena significação.
A primeira etapa é a revolta. [283] Um homem está diante de nós, apanhado numa armadilha diabólica. Este homem é um homem de bem. Essa armadilha é montada por deuses que ele respeita, por um deus que lhe impôs esse crime que lhe imputa. Onde está o culpado? Onde está o inocente? Nós gritamos a resposta: Édipo está inocente. O deus é criminoso.
Édipo está inocente porque, em nossa opinião primeira, não existe falta fora duma vontade livre que tenha escolhido o mal.
Ésquilo, tratando o mesmo assunto, dava ao oráculo o sentido de uma proibição feita a Laio de ter um filho. A procriação dessa criança era desde logo um acto de desobediência aos deuses. Édipo pagava a falta do pai, não sem ter-lhe acrescentado, aliás, no curso da sua vida, uma falta sua. O deus de Ésquilo feria com justiça.
Mas esta interpretação do mito não é de modo algum a de Sófocles. O oráculo de Apolo a Laio é apresentado pelo poeta de Rei Édipo como uma predição pura e simples do que acontecerá. Nenhuma falta, nenhuma imprudência dos mortais justifica a ira dos deuses. Laio e Jocasta fazem tudo quanto lhes é possível para deter o crime em marcha: expõem o filho único. Do mesmo modo procede Édipo quando recebe o segundo oráculo, abandona os pais. No decorrer do drama, nem a boa vontade de Édipo nem a sua fé claudicam, seja qual for a circunstância.
Ele só tem um desejo, salvar Tebas. Para o conseguir conta com o apolo dos deuses. Se toda a acção deve ser julgada segundo a sua intenção, Édipo está inocente de um parricídio e de um incesto que ele não quis nem conheceu.
Quem é pois o culpado? O deus. Só ele desencadeou, sem sombra de razão, toda a sequência dos acontecimentos que levam ao crime. O papel do deus é tanto mais revoltante quanto é certo ele só intervir em pessoa nas circunstâncias em que o homem, à força de boa vontade, pareceria ir fugir ao destino. Assim, ao dar a Édipo o segundo oráculo, o deus sabe que esse oráculo será erradamente interpretado.
Especulando com a afeição filial e a piedade da sua vítima, revela do futuro exactamente quanto baste para que ele se realize com o concurso da virtude. A sua revelação faz que funcionem os elementos livres da alma humana, precisamente no sentido do mecanismo do destino. Estes pequenos empurrões da divindade são revoltantes.
Mas divertem o deus. As palavras de ironia trágica são o eco do seu riso nos bastidores.
Menos ainda que todo o resto, é este escárnio que nós não podemos [284] perdoar à divindade. Se os deuses mofam de Édipo inocente, ou por culpa deles culpado, como não sentiremos a sorte do herói como um ultrage à nossa humanidade? A partir daí, no sentimento da nossa dignidade ferida, apossamo-nos da tragédia para fazer dela um acto de acusação contra a divindade, um documento da injustiça que nos é feita.
Esta reacção é sã. Sófocles sentiu esta revolta legítima. A dura estrutura da acção que ele construiu no-la inspira. Contudo, Sófocles não se detém neste movimento de cólera, contra os nossos senhores inimigos. Ao longo de toda a peça, há sinais que nos advertem, obstáculos que entravam em nós a revolta, que nos impedem de nos instalarmos nela, que nos convidam a ultrapassar este sentido primeiro do drama e a interrogar novamente a obra.
Primeira barreira à nossa rebelião: o coro.
Sabemos a importância do lirismo coral em toda a tragédia antiga. Ligado à acção, como a forma à matéria, o lirismo elucida o sentido do drama. Em Édipo, após cada um dos episódios que aumentam a nossa indignação contra os deuses, os cantos do coro são surpreendentes profissões de fé na divindade. Inalterável é a dedicação do coro ao seu rei, inalterável a sua fidelidade e o seu amor pelo benfeitor da cidade, mas também inalterável é a confiança do coro na sabedoria da divindade. Nunca o coro opõe Édipo e os deuses. Onde nós procuramos um inocente e um culpado, uma vítima e o seu carrasco, o coro une o rei e o deus num mesmo sentimento de veneração e de amor. No centro deste drama em que vemos afundar-se no nada o homem, a sua obra e a sua fortuna, o coro assenta firmemente a certeza de que existem coisas que duram, afirma a presença, para lá das aparências, de uma realidade esplêndida e desconhecida que solicita de nós mais do que uma negação revoltada.
Todavia, no exacto momento em que o coro afirma assim a sua fé, sentem-se passar frémitos de dúvida que tomam essa fé mais autêntica.
Como se resolverá esta oposição que parece por momentos dividir Édipo e os deuses, nem o coro, nem o próprio Sófocles o sabem ainda plenamente. Para dissolver estas aparentes e fugidias contrariedades, estas antinomias no seio da verdade, serão precisos quinze anos. será preciso que Sófocles escreva Édipo em Colono.
Uma outra personagem, de maneira inversa, nos desvia da revolta: Jocasta. A figura desta mulher é estranha. Jocasta é ela própria uma negação. Nega os oráculos, nega o que não compreende e o que teme. Julga-se mulher de experiência, é uma alma limitada e céptica. Pensa não ter medo de nada: para se tranquilizar, declara que não há nada no fundo do ser senão o acaso. "Para [285] que serve ao homem amedrontar-se?", diz ela. "Para ele, o acaso é o senhor soberano. O melhor é que se lhe abandone. Deixa de temer o leito de tua mãe. Muitos homens, em sonhos, partilharam o leito maternal. Quem despreza esses terrores suporta facilmente a vida." Esta maneira de atribuir tudo ao acaso para tirar aos nossos actos o seu sentido, esta explicação rasamente racionalista (ou freudiana) do oráculo que aterroriza Édipo — tudo isto é de uma sabedoria medíocre que nos afasta de Jocasta e nos impede de seguir uma via em que a nossa inquietação em relação aos deuses se apaziguaria na recusa de dar atenção à sua linguagem obscura. Sentimos na argumentação desta mulher uma baixeza de olhar que nos afasta subitamente de julgar levianamente os deuses e o mistério que eles habitam. A falsa sabedoria da rainha obriga-nos a tocar com o dedo a nossa própria ignorância.
Quando a verdade surge, Jocasta enforca-se. O seu suicídio enche-nos de horror. Mas não temos lágrimas para esta alma réproba.
Finalmente, eis, no momento da catástrofe do drama, um último e imprevisto obstáculo que nos proíbe de condenar os deuses. Édipo não os condena Nós acusamo-los de terem ferido um inocente e o inocente proclama-se culpado, Todo o fim da tragédia — essa vasta cena em que, agora que a acção explode feriu Édipo no rosto, contemplamos com o herói o seu destino como um mar de sofrimento imóvel — , todo este final do drama é, indiquei-o já, essencial à sua significação.
Édipo sabe agora donde veio o golpe que o derruba. Grita: "Apoio, sim. Apolo, meus amigos, é que é o único autor das minhas desgraças!" Sabe que é "odiado pelos deuses": di-lo e repete-o. Contudo, não tem, em relação a eles, o mais pequeno movimento de ódio.
A sua maior dor é estar despojado deles. Sente-se separado deles: "Agora, estou privado de deus." Como alcançar a divindade, ele, o culpado, o criminoso? Nenhuma acusação, nenhuma blasfémia na sua boca. O seu inteiro respeito pela acção dos deuses para com ele, a sua submissão à autoridade na provação em que se lançaram, advertem-nos de que entreviu o sentido do seu destino e convidam-nos a procurá-lo com ele.
Com que direito nos revoltaríamos, se Édipo não se revolta? Com ele queremos conhecer a ordem dos deuses — essa ordem que, mesmo para lá da justiça, se impõe aos homens. [286]
Conhecimento tal é a segunda etapa da nossa reflexão sobre esta tragédia. Toda a tragédia nos abre uma perspectiva sobre a condição humana, e esta mais do que qualquer outra.
A tragédia de Édipo é a tragédia do homem. Não a de um homem particular, com o seu carácter distinto e o seu debate interior próprio.
Nenhuma tragédia antiga é menos psicológica que esta, nenhuma é mais "filosófica". Aqui é a tragédia do homem na plena posse de todo o poder humano e esbarrando com aquilo que no universo recusa o homem.
Édipo é apresentado pelo poeta como a perfeição do homem. Ele possui toda a clarividência humana — sagacidade, juízo, poder de escolher em cada caso o melhor partido. Possui também toda a "acção" humana (traduzo uma palavra grega) — espírito de decisão, energia, poder de inserir o seu pensamento no acto. E, como diziam os Gregos, senhor do logos e do ergon, do pensamento e da acção. É aquele que reflecte, explica, e aquele que age.
Além disso, Édipo pôs sempre esta acção reflectida ao serviço da comunidade. E esse é um aspecto essencial da perfeição do homem. Édipo tem uma vocação de cidadão e de chefe. Não a realiza como "tirano" (apesar do falso título, em grego, da peça), mas em lúcida submissão ao bem da comunidade. O seu "erro" nada tem que ver com um mau emprego dos seus dons, com uma vontade má que procuraria fazer prevalecer o interesse particular sobre o bem geral. Édipo está pronto, a todo o momento, a dedicar-se inteiramente à cidade. Quando Tirésias lhe diz, pensando que o amedronta: "A tua grandeza perdeu-te", ele responde: "Que importa perecer, se salvo a minha terra?"
Acção reflectida é acção votada à comunidade, tal é a perfeição do homem antigo... Por onde pode o destino agarrar um homem assim? Simplesmente e precisamente no facto de ele ser um homem — e por a sua acção de homem estar submetida às leis do universo que regem a nossa condição. Não devemos situar o erro de Édipo na sua vontade. O universo não se ocupa destas coisas, não cuida de serem boas ou más as nossas intenções, da moral que construímos ao nosso nível de homem. O universo ocupa-se apenas do acto em si mesmo, para o impedir de perturbar a ordem que é a sua, ordem na qual se insere a nossa vida mas que se mantém estranha a nós.
A realidade é um todo. Cada acto do homem ressoa nesse todo. Sófocles sente intensamente a lei de solidariedade que liga, queira-o ele ou não, o homem ao mundo. Quem age liberta de si um ser novo — o seu acto — que, separado do seu autor, continua a agir no mundo, de maneira inteiramente [287] imprevisível para aquele que o desencadeou. Este primeiro autor do evento nem por isso é menos responsável — não de direito, mas de facto — pelas suas últimas repercussões. De direito, esta responsabilidade só deveria ligar-se a ele se ele conhecesse todas as consequências do seu acto. Não as conhece. O homem não é omnisciente — e tem de agir. Essa é a tragédia. Todo o acto nos expõe. Édipo, homem no mais alto grau, está supremamente exposto
Assim se aponta uma ideia singularmente dura e, de certo ponto de vista, muito moderna, da responsabilidade. Um homem não é somente responsável pelo que quis, é-o também pelo que se verifica ter feito à luz do acontecimento que os seus actos engendram, sem que tenha disposto de qualquer meio de calcular e, com mais forte razão, de impedir esse resultado.
Sermos tratados pelo universo como se fôssemos omniscientes, surda ameaça de todo o destino, se o nosso saber é misto de ignorância, se o mundo em que somos forçados a agir para subsistir, nos é, no seu funcionamento secreto, ainda quase inteiramente obscuro. Sófocles adverte-nos. O homem não conhece o conjunto das forças cujo equilíbrio constitui a vida do mundo. A boa vontade do homem, prisioneira da sua natural cegueira, é pois ineficaz para o preservar da desgraça.
Tal é o conhecimento que o poeta nos revela na sua tragédia. Disse-o já duro conhecimento. Mas responde tão exactamente a toda uma parte da nossa experiência que ficamos deslumbrados pela sua verdade. O prazer do verdadeiro livra-nos da revolta. O destino de Édipo — mesmo se o seu caso não é mais que um caso-limite — parece-nos de súbito exemplar de todo o destino humano.
E isto mais ainda do que se ele pagasse um erro no sentido corrente da palavra. Se ele se comportasse como senhor iníquo e brutal, como o tirano de Antígona, por exemplo, tocar-nos-ia sem dúvida na sua queda, mas de maneira menos aguda, porque nós pensaríamos poder evitar a sua sorte. Pode-se evitar ser um homem mau. Como evitar ser um homem? Édipo é homem apenas — homem que triunfou como nenhum outro na sua carreira. A sua vida é toda construída de boas obras. E esta vida acabada manifesta de súbito a sua impotência, faz explodir a vaidade das obras perante o tribunal do universo.
Não é que o seu exemplo nos desanime de agir. Uma poderosa vitalidade se desprende da sua pessoa, mesmo no fundo do abismo donde nos fala. Mas nós sabemos agora, graças a ele — sim, nós sabemos: pelo menos isto se ganhou — , o preço que poderemos ter de pagar pela acção, e que o fim dessa [288] acção, por vezes, não nos pertence. O mundo que nos aparecia falsamente claro, quando pensávamos poder construir nele, à força de sabedoria e de virtude, uma felicidade inteiramente preservada dos golpes que ele nos destina. A realidade que nós imaginávamos maleável, revelam-se subitamente opacos, resistentes, cheios de coisas, de presenças, de leis que não nos amam, que existem não para nosso uso e serviço, mas no seu ser desconhecido. Sabemos que é assim, que a nossa vida paira numa vida mais vasta, que talvez nos condene. Sabemos que quando olhávamos tudo com olhos claros era então que estávamos cegos. Sabemos que o nosso saber é pouca coisa, ou antes, que das intenções do universo a nosso respeito uma só é certa: a condenação dada contra nós pelas leis da biologia.
Sófocles fez da cegueira de Édipo um admirável símbolo, prenhe de sugestões múltiplas. Ao cegar-se, Édipo torna visível a ignorância do homem. Faz mais ainda. Não apresenta apenas o nada do saber humano, alcança na noite uma outra luz, acede a um outro saber, que é o conhecimento da presença em redor de nós de um mundo obscuro. Este conhecimento do obscuro não é já cegueira, é olhar,
O mesmo tema se anunciava no diálogo de Tirésias e do rei, o cego via pelo olhar do Invisível, ao passo que o vidente se mantinha mergulhado nas trevas. No final do drama, ao rebentar os seus olhos de homem, Édipo não manifesta apenas que só o deus é vidente, entra na posse duma luz que lhe é própria, que lhe permite sustentar a visão do universo tal como ele é, e, contra toda a expectativa, aí afirmar ainda a sua liberdade de homem.
O gesto dos olhos rebentados permite-nos atingir, com efeito, na sua espantosa realização, a significação mais alta da tragédia.
Porque passa em nós, espectadores, uma espécie de frémito de alegria, quando a visão da face sangrenta se apresenta sobre a cena em vez de simplesmente nos encher de horror?
Porquê? Porque finalmente nós temos nesses olhos rebentados a resposta de Édipo ao destino. Édipo cegou-se a si mesmo. Ele o proclama com veemência:
"Apolo votou-me à desgraça. Mas eu, com as minhas próprias mãos, me ceguei."
Assim ele reivindica, escolhe o castigo que o destino lhe reservava. Dele faz o seu primeiro gesto de homem livre que os deuses não repelirão. Édipo, não passivamente, mas com toda a profundeza do seu querer, adere com violência ao mundo que lhe é preparado. A sua energia é, neste acto, singular, e [289] assustadora, tão cruel, em verdade, como a hostilidade do mundo em relação a ele.
Mas que significa este impulso poderoso que, subindo das raízes do seu ser como uma seiva, o leva a exceder a sua desgraça, senão que, nesta derradeira provação da rivalidade que o opõe ao mundo, Édipo toma agora o comando da corrida, e que, resolvido a alcançar o seu destino, o alcança, ultrapassa, o deixa enfim atrás de si, ei-lo livre.
O último sentido do drama é. ao mesmo tempo, adesão e libertação. Adesão. Édipo quer o que o deus quis. Não que a sua alma se junte misticamente na alegria do Ser divino. O trágico grego não desagua senão muito raramente no misticismo, se alguma vez chega a desaguar nele. Funda-se antes na verificação objectiva de que existem no mundo forças ainda ignoradas do homem, que regem a sua acção. Essa região desconhecida do Ser, esse mistério divino, esse mundo que está separado do dos homens por um profundo abismo todo esse divino é sentido por Édipo como um outro mundo, um mundo estrangeiro. Um mundo que talvez um dia seja conquistado, que se explicará em linguagem de homem. Mas por agora (o agora de Sófocles) um mundo fundamentalmente estrangeiro, quase um corpo estranho que é preciso expulsar da consciência humana. Não, como acontece com o místico, um mundo que a alma deve desposar. Na realidade, um mundo a humanizar.
Para ganhar a sua liberdade em relação a esse mundo, Édipo lançou-se no abismo que o separa do nosso. Por um acto de coragem inaudita, foi procurar no mundo dos deuses um acto deles, preparado para o punir nesse acto que lhe devia ser desferido como uma ferida, a si mesmo o aplicou "com as suas próprias mãos", dele fez um acto do mundo humano, quer dizer, um acto livre. Obrigado o homem a admitir que esse estrangeiro é capaz de lhe tomar a direcção da sua própria vida, acontece que o herói trágico não pode dar-lhe um lugar no seu pensamento, não pode aceitar determinar a sua conduta sobre a experiência que daí tira, se não estiver persuadido de que, no seu ser desconhecido, esse Senhor é de alguma maneira digno de ser amado. Édipo, ao escolher a cegueira, adapta a sua vida ao conhecimento que a sua desgraça lhe deu da acção divina no mundo. É nesse sentido que ele quer o que o deus quis. Mas esta adesão ao divino, que é acima de tudo um acto de coragem meditada, ser-lhe-ia impossível se não implicasse uma parte de amor. Amor que procede de um duplo movimento da natureza do homem: em primeiro lugar, o respeite do real e das condições que ele impõe a quem quer viver plenamente, e em [290] segundo lugar muito simplesmente o impulso que lança para a vida toda a criatura viva.
Para aceitar o preço de uma ofensa que cometeu sem saber como, é preciso que Édipo admita a existência de uma realidade cujo equilíbrio perturbou, é preciso que distinga, ainda que confusamente, no mistério em que esbarra, uma ordem, uma harmonia, uma plenitude de existência a que o impele a associar-se o amor ardente que sempre dedicou à vida, à acção, e que traz em si, agora, na plena consciência das ameaças que elas reservam a quem quer viver com grandeza.
Édipo faz um acto de adesão ao mundo que o despedaçou porque esse mundo é, seja o que for que ele empreenda em relação ao nosso, o receptáculo do Deus vivo. Acto religioso que exige, além da coragem lúcida, um inteiro desprendimento, pois essa ordem que ele pressente para além das aparências, não é uma ordem que o seu espírito de homem possa apreender claramente, uma ordem que lhe diga respeito, um plano da divindade que tenha o homem como fim, uma providência que o julgue e vise ao seu bem segundo as leis humanas da moral.
Que é então essa ordem universal? Como apreender essas leis inapreensíveis? Existe no fundo do universo, diz o poeta, "uma adorável santidade". Ela conserva-se a si própria. Não tem necessidade alguma do homem para se manter. Se acontece perturbá-la, por engano, qualquer imprudente, o universo restabelece, à custa do culpado, a ordem sagrada. Aplica a lei: o falso corrige-se a si mesmo, como que automaticamente. Se o herói do drama de Sófocles nos parece triturado por uma máquina, é porque o mundo, perturbado na sua harmonia pelo parricídio e pelo incesto, espontaneamente, mecanicamente, restabeleceu o seu equilíbrio esmagando Édipo. O castigo do culpado não tem outro sentido: é uma "correcção", no sentido de rectificação de um erro. Mas, na passagem da catástrofe que devasta a sua vida, Édipo reconhece que a vida do universo manifestou a sua presença. Ama essa pura fonte do Ser, e esse amor distante que dedica ao Estrangeiro, de maneira imprevista, alimenta e regenera a sua própria vida, desde o momento que aceitou que seja restaurada, pelo seu castigo, a santidade inviolável do mundo que o esmaga.
O deus que fere Édipo é um deus duro. Não é amor. Um deus-amor teria certamente parecido a Sófocles subjectivo, feito à imagem do homem e das suas ilusões, maculado de antropomorfismo e de antropocentrismo ao mesmo tempo. Nada na experiência de Édipo sugere um tal deus. O divino é mistério e [291] ordem. Tem a sua própria lei. É omnisciente e todo-poderoso. Não há mais nada a dizer dele... Contudo, se é difícil supor que nos ame, pelo menos ainda é possível ao homem concluir, com dignidade, um pacto com a sua sabedoria desconhecida.
Deus reina — incognoscível. Os oráculos, os pressentimentos, os sonhos — vaga linguagem que ele nos dirige — são como bolhas que do fundo do seu abismo sobem para as regiões humanas. Sinais da sua presença, mas que não permitem compreendê-lo e julgá-lo, se têm algo de sentido de uma predesti nação, são muito mais, para o homem, a ocasião de entrever a omnisciência de Deus, de contemplar o necessário, a lei. Esta visão colhida pelo homem dirige doravante o seu comportamento de criatura sem dúvida débil, mas decidida a viver de harmonia com as leis severas do Cosmos. Desde que. através da sua linguagem confusa, ouve o apelo que o Universo lhe dirige. Édipo lança-se para o seu destino com um impulso semelhante ao do amor. Amor fati, diziam os antigos (ou Nietzsche, condensando o seu pensamento) para exprimir esta forma nobre do sentimento religioso, esse esquecimento das ofensas, esse perdão do homem ao mundo. Ou ainda essa reconciliação no coração dividido do homem, do seu destino, que é o de ser esmagado pelo mundo, e da sua vocação, que é de amar e de concluir o mundo.
Adesão no amor que é criação. Ao mesmo tempo: Libertação. Édipo parece subitamente aprumar-se. Ele declara:
"Tão grandes são os meus males, que ninguém entre os homens poderia suportar-lhes o peso — a não ser eu."
É que o círculo do fatal está quebrado e ultrapassado, no momento que Édipo colabora na sua própria desgraça e a leva ao cúmulo, no momento que ele remata, com um acto deliberado, essa imagem absoluta da desgraça que os deuses se comprouveram a modelar na sua pessoa. Édipo passou para o outro lado do muro, está fora do alcance do deus, desde o instante em que, tendo-o conhecido e admitido como um facto, não rigorosamente definível, mas certo, tendo-o experimentado no desastre da sua vida, o substitui na sua função de justiceiro, a ele se substitui e de algum modo o demite.
Não rivaliza Édipo com ele até na sua função de criador, se essa obra-prima da Desgraça que o artista divino concebera é o gancho levantado pela mão de Édipo que vai procurá-la no fundo das suas pupilas para a apresentar à luz do dia?
E agora a grandeza de Édipo, a alta estatura do homem, ergue-se novamente diante de nós. [292]
Oferece-se aos nossos olhos invertida. Não já no sentido que imaginávamos no começo do drama, que a grandeza de Édipo tombaria no chão aniquilada, mas no sentido de que ela se transforma numa grandeza inversa.
Era uma grandeza de fortuna, grandeza de ocasião e como que emprestada, medível pelos bens exteriores, à altura desse trono conquistado, por esse amontoado de proezas, feita de tudo o que o homem pode arrancar à sorte de surpresa. E agora uma grandeza de infortúnio e de provação, não de catástrofes que ficaram alheias, mas de sofrimentos assumidos, recebidos na intimidade da carne e do pensamento, sem outra medida, de futuro, que a desgraça infinita do homem, essa desgraça que Édipo fez sua. Participando da imensidade da nossa miséria nativa, essa grandeza iguala enfim aquele que aceita reparar pelo preço do seu sofrimento o mal que não quisera com Aquele que o havia inventado para consumar a sua perda.
A grandeza que os deuses lhe recusavam à claridade do sol, restaura-a Édipo na paz não nocturna mas constelada da alma. Pura doravante dos seus dons, da sua graça, do seu serviço, alimentada da sua maldição, dos seus golpes, das suas feridas, feita de lucidez, de resolução, de possessão de si.
Assim o homem responde ao destino. Da violência da sua servidão, faz ele o instrumento da sua libertação.
III
Rei Édipo mostrava que em todas as circunstâncias e até no rigor da ofensiva dirigida contra ele pelo Destino, o homem está em condições de manter a sua grandeza e o seu prestígio.
A ameaça trágica pode tudo contra a sua vida, nada pode contra a sua alma, contra a sua força de alma.
Esta firmeza de alma, vamos nós reencontrá-la intacta no herói de Édipo em Colono, afirmada por ele próprio logo nos primeiros versos como a virtude suprema que o mantém de pé na terrível provação que defronta pelas estradas, há anos.
Quando Sófocles escreve Édipo em Colono, ultrapassou os limites ordinários da vida humana: reflectiu muito sobre Édipo, viveu muito com Édipo. A [293] resposta que na última parte de Rei Édipo o herói dava ao destino, não lhe parece, agora que ele próprio se aproxima da morte, absolutamente satisfatória. Continua válida, decerto, para o momento da vida de Édipo em que foi dada mas a vida de Édipo continuou... Não retomaram os deuses o diálogo? Retomaram a ofensiva? Édipo em Colono é uma continuação do debate entre Édipo e os deuses, continuação feita à luz íntima da experiência que Sófocles tem da velhice extrema. É como se Sófocles, próximo da morte, tentasse lançar, nesta tragédia, uma ponte, uma simples passagem entre a condição humana e a condição divina. Édipo em Colono é a única tragédia grega que franqueia o abismo que separa o homem da divindade — a Vida da Morte. É a história da morte de Édipo, uma morte que o não é, a passagem de um homem. eleito pelos deuses (porquê? ninguém o sabe) à condição de herói.
Os heróis são na religião antiga seres poderosos, por vezes intratavelmente benevolentes, por vezes claramente malévolos. O herói Édipo era o patrono da aldeia de Colono, onde nasceu e cresceu Sófocles. A criança, o adolescente prosperou sob o olhar desse demónio caprichoso que habitava nas profundezas da terra da sua aldeia.
Em Édipo em Colono, Sófocles procura preencher a distância que, para os Gregos, para o seu público ateniense e para si mesmo, existia entre o velho rei criminoso expulso de Tebas, o fora-da-lei condenado a rondar pelas estradas da Terra e esse ser benéfico que leva uma estranha sobrevivência no solo da Ática, esse deus à sombra do qual o jovem génio de Sófocles ganhou forças.
Esta tragédia tem pois por tema a morte de Édipo. mais exactamente a passagem da condição humana à condição divina. Mas por causa da referência implícita à juventude de Sófocles — essa juventude campestre cheia de oliveiras e de loureiros silvestres, de rouxinóis, de barcas e de cavalos — e dessa outra referência à velhice do poeta — carregada de conflitos, de desgostos cruéis e finalmente esplendente de serenidade — , por causa desta dupla referência, esta tragédia única contém, transporta num maravilhoso poema, tudo quanto podemos entrever das esperanças que Sófocles, na extrema margem da vida, põe na morte e nos deuses.
Édipo ganha a sua morte em três etapas. Conquista-a em três combates: contra os velhos camponeses de Colono, contra Creonte, contra seu filho Polinices. Em cada um destes combates contra pessoas que lhe querem tirar a sua morte, Édipo mostra uma energia singular num velho, manifesta uma [294] paixão, prova uma violência que, da última vez, na luta contra o filho, atinge um grau de intensidade quase intolerável.
Contudo, estas cenas de combate que nos conduzem à morte como a um bem a conquistar são tomadas numa corrente inversa de alegria, de ternura, de amizade, de confiante espera da morte. As cenas de luta são pois ligadas entre si e preparadas por cenas em que o velho reúne as suas forças no meio daqueles a quem ama, Antígona. Ismene, Teseu o rei de Atenas, em que saboreia na paz da natureza as últimas alegrias da vida, ao mesmo tempo que se prepara para essa morte que ele deseja e espera: faz passar na memória as dores da sua vida, essas dores que dentro em pouco lhe não farão mais mal. Toda esta corrente de emoções tranquilas nos leva para a serenidade da morte prometida a Édipo. Essa morte remata magnificamente o drama.
A morte de Édipo está pois situada no termo de duas correntes alternadas de paz e de luta: é o preço de um combate, é o cumprimento de uma espera.
Caminhamos, se assim posso dizer, para uma espécie de conhecimento da morte se estas palavras pudessem ter sentido. Graças à arte de Sófocles. tudo se passa como se o tivessem.
A primeira cena da tragédia é de uma poesia familiar e de uma beleza patética. O velho cego e a rapariga descalça avançam pelo caminho pedregoso. Há quantos anos andam assim pelas estradas, não o sabemos. O velho vem cansado, quer sentar-se. Pergunta onde está. Quantas vezes esta cena se repetiu? Antígona vê pelo velho, descreve-lhe a paisagem. Vê também por nós, espectadores. Sem dúvida havia um cenário com árvores pintadas numa tela. Sófocles inventou e empregou o cenário pintado. Mas o verdadeiro cenário é a poesia que brota dos lábios de Antígona que no-lo dá. A rapariga descreve o bosque sagrado com os seus loureiros e as suas oliveiras bravas, com a sua vinha; dá-nos a ouvir o canto dos rouxinóis: vemos o banco de pedra à beira da estrada e, ao longe, as altas muralhas da cidadela de Atenas.
O velho senta-se, ou antes Antígona senta-o na pedra. Retoma fôlego. O texto indica todo este pormenor com uma precisão pungente. Três coisas, diz Édipo a sua filha, bastaram para o preservar na sua provação: a paciência, o que ele chama, com uma palavra que significa igualmente "amar", a resignação, essa resignação que se confunde com o amor dos seres e das coisas. Finalmente, a terceira coisa e a mais eficaz, "a firmeza de alma", uma nobreza, ama generosidade da sua natureza que a desgraça não pôde alterar. [295]
Passa um caminheiro na estrada, interrogam-no. "Aqui", diz ele, "é o bosque sagrado das temíveis e benévolas filhas da Terra e da Escuridão, as Euménides."
O velho estremece; nestas palavras reconhece o lugar da sua morte, prometido por um oráculo. Com veemência — toda a energia do antigo Édipo — afirma que o não arrancarão daquele lugar. Reclama a sua morte, que lhe dará enfim o repouso. O caminheiro afasta-se para ir avisar Teseu. Édipo, sozinho com Antígona, roga às "deusas dos olhos terríveis" que tenha piedade dele, que lhe concedam a paz do último sono. Já o seu corpo não eéais que uma maceração: vai deixar este invólucro emurchecido, vai morrer.
Ouvem-se passos na estrada. É um grupo de camponeses de Colono, avisados de que entraram estrangeiros no bosque sagrado: indignam-se com o sacrilégio. O primeiro movimento de Édipo é penetrar no bosque, não deixar que lhe tirem a sua morte. Os camponeses espreitam-no da orla das árvores De súbito surge Édipo, que não é homem para se esconder muito tempo. Vem defender a sua morte. Apertado com perguntas indiscretas, declina a sua horrível identidade, sacudindo os camponeses de um arrepio de horror. Esquecendo a promessa feita de que não usariam de violência, o coro grita: "Fora daqui, fora desta terra." Édipo é um ser contaminado: eles o expulsarão.
A partir deste primeiro combate, Édipo, ao contrário do que fazia em Rei Édipo, proclama e advoga a sua inocência. Parece ter sido através dos seus longos sofrimentos que ele tomou consciência dessa inocência — no lento e doloroso caminhar da estrada. Não que este novo sentimento o faça insurgir-se contra os deuses que o feriram. Simplesmente, sabe ao mesmo tempo estas duas doisas: os deuses são os deuses e ele está inocente. Além disso, porque os deuses o tocaram e cada dia mais ainda, porque o acabrunham de miséria, dai lhe vem um carácter sagrado. Édipo sente e exprime confusamente que um ser atingido pelos deuses está fora do alcance das mãos humanas — essas mãos ameaçadoras dos camponeses que se estendem para o agarrar. O seu corpo sagrado deve ficar, depois da sua morte, neste bosque das Euménides. Carregado de maldições divinas, sujo de máculas recebidas contra vontade, este corpo ao mesmo tempo impuro e sagrado (é a mesma coisa para os povos primitivos) dispõe doravante de um novo poder. É como uma relíquia, fonte permanente de bênçãos para aqueles que a conservem. Édipo anuncia-o orgulhosamente aos camponeses do coro trazendo o seu corpo aos habitantes da Ática, oferece um benefício a toda a região, à cidade de Atenas, cuja grandeza ele assegurará. [296]
Os camponeses recuam. Édipo ganhou o seu primeiro combate. ... O drama prossegue em muitas peripécias.
A cena mais desgarradora e a mais decisiva é a da súplica de Polinices e da intratável recusa do pai a ouvi-lo.
O filho está diante do pai — o filho que expulsou o pai, que o votou à miséria e ao exílio. Polinices está perante a sua obra: diante dela se mostra aniquilado. Este velho que se arrasta pelos caminhos com os olhos mortos, a cara cavada de fome, os cabelos mal tratados, tendo sobre ele um manto sujo cuja imundície se pega à do seu velho corpo — esse refugo de humanidade, é seu pai. Aquele a quem se propunha implorar, talvez levá-lo à força, para que o salve dos seus inimigos e lhe devolva o trono... Já nada pode pedir. Apenas pode confessar o seu erro e pedir perdão. Fá-lo com uma simplicidade que afasta qualquer suspeita de hipocrisia. Tudo é autêntico nas suas palavras. Édipo escuta-o. Não responde. Odeia este filho. Polinices esbarra com um bloco de ódio. Pergunta a Antígona que há-de fazer. Esta diz apenas: Recomeça e continua. Ele toma ao princípio, fala da questão que o opõe a Etéocles. Não fala somente por si, mas por suas irmãs, por seu pai mesmo, a quem se propõe instalar no palácio.
Esbarra sempre com o mesmo muro de rancor implacável. Édipo mantém-se imóvel e selvagem.
Finalmente, uma palavra do corifeu lhe roga que responda, por deferência para com Teseu que lhe enviou Polinices. O selvagem odiento é um homem cortês. Responde, pois, mas somente por consideração para com o seu hospedeiro. E para explodir em horríveis imprecações. Este velho tão perto da morte e que deseja a paz do último sono, este velho não desarma, neste momento em que vê o filho pela última vez — o filho pródigo e arrependido — o pai não desarma o seu ódio inexpiável.
Em numerosas cenas deste amplo drama pudemos ver um Édipo apaziguado, um Édipo tranquilo, conversando na alegria da amizade com Teseu, na doçura da afeição com Ismene ou Antígona reencontradas. Este abrandamento da cólera era sempre devido no velho à longa aprendizagem do sofrimento que lhe impôs a sua condição de miserável: aprendeu ao longo das estradas a suportar a sorte, vergou-se à sua vida de pobre diabo. Mas o perdão, o esquecimento das injúrias, não os aprendeu ele. Não sabe perdoar aos inimigos. Seus filhos trataram-no como inimigo: responde aos golpes com golpes. Maldiz os filhos. As maldições de um pai são terríveis entre todas as maldições. [297]
"Não, não, nunca derrubarás a cidade de Tebas. Tu serás o primeiro a cair, manchado de um assassínio, tu, e teu irmão contigo! Eis as imprecações que lancei contra vós..."
Repete as fórmulas consagradas, a fim de que as maldições invocadas ajam por si mesmas.
"Que, de mão de irmão, tu mates e sucumbas por tua vez, vítima de quem te baniu!... Invoco também a sombra terrível do Tártaro para que ela te colha em seu seio, invoco as deusas deste lugar, e Ares que vos pôs no coração, a ambos, essa execração mortal. Vai-te! Tais são os dons que Édipo neste dia reparte entre seus filhos."
Depois de assim amaldiçoar o filho, o velho cala-se bruscamente, fecha-se de novo no seu silêncio de pedra — enquanto Antígona e Polinices choram longamente. Por fim, o rapaz retoma o caminho para o seu destino.
Nunca, no decurso do drama, foi Édipo tão terrível. Nunca esteve talvez tão longe de nós. Acaba de liquidar ferozmente as suas contas com a vida.
E agora os deuses vão glorificar este homem inexpiável.
Ressoa o trovão. Édipo reconhece a voz de Zeus que o chama. Pede que mandem chamar Teseu, que deverá, sozinho, assistir à sua morte, e receber um segredo que transmitirá aos descendentes.
Édipo está livre de todo o temor. À medida que o momento solene se aproxima, sentimo-lo como que libertado do peso do seu corpo mortal e miserável. A cegueira já não é um obstáculo à sua marcha.
"Daqui a pouco", diz a Teseu, "sem nenhuma mão que me guie. conduzir-te-ei ao lugar onde devo morrer."
Sente nos membros uma "luz obscura" que o toca. É conduzido por essa luz invisível que penetra no bosque sagrado, seguido de suas filhas e de Teseu. O coro canta o eterno sono.
Um mensageiro chega. "Morreu?", pergunta o coro. E o homem não sabe que responder. Relata as últimas palavras de Édipo, os adeuses às filhas. Depois o velho meteu-se pelo bosque, apenas acompanhado de Teseu. Uma voz então ressoou no Céu, chamando Édipo pelo nome. O trovão ribomba outra vez.
Os outros tinham-se afastado. Quando se voltaram, "Édipo já ali não estava; não havia mais ninguém. Só o rei conservava a mão diante dos olhos, como se qualquer prodígio lhe tivesse aparecido, insuportável à vista. Depois prosternou-se, adorando a Terra e os deuses" [298]
Como morreu Édipo? Ninguém o sabe. Terá morrido? E que é a morte? Haverá uma relação entre a vida de Édipo e esta morte maravilhosa? Qual? Não podemos responder a estas perguntas, mas temos o sentimento de que, por esta morte estranha em que o herói desaparece no deslumbramento duma luz demasiado viva, os deuses quebraram para Édipo o curso da lei natural. A morte de Édipo parece (a Nietzsche, por exemplo) fundar um mundo novo, um mundo onde deixaria de haver Destino.
A interpretação de Édipo em Colono é delicada. Antes de mais, falemos uma vez ainda da diferença importante que separa esta tragédia da do Rei Édipo. No mais antigo dos dois dramas, Édipo confessava o seu erro e tomava sobre si a responsabilidade dele. No segundo, ao longo da tragédia e diante da maior parte das personagens, protesta a sua inocência. Apresenta o seu caso como legítima defesa, que, com efeito, diante de um tribunal ateniense, lhe valeria uma sentença de absolvição.
Contudo, esta contradição entre os dois dramas — além de que pode justificar-se pelo tempo que, na vida de Édipo, separa as duas acções — é apenas aparente. Por várias razões. A mais importante é que o Édipo do segundo drama não defende a sua inocência senão do ponto de vista da lógica humana e do direito humano. Fala a homens que vão estatuir sobre a sua sorte, quer obter deles protecção e justiça. Afirma que os homens justos não têm o direito de o condenar, que está humanamente inocente.
A sua inocência é pois encarada relativamente às leis da sociedade humana. Édipo está "inocente segundo a lei". Não é afirmada de maneira absoluta. Se o fosse, a consciência nova que Édipo daí tiraria marcar-se-ia por uma reviravolta da sua atitude para com os deuses. O respeito da acção deles na vida, o misto de terror e de adoração que ele sente em Rei Édipo por ter sido escolhido para ilustrar a omnipotência divina, daria lugar a um sentimento de revolta por ter sido atingido apesar da sua inocência. Nada disto se indica no nosso segundo drama.
Exactamente como em Rei Édipo, proclama a intervenção dos deuses na sua vida e fá-lo com simplicidade, mesmo nas próprias passagens que apoiam a sua inocência humana. ("Assim o quiseram os deuses", ou "Os deuses tudo conduziram.") Nenhuma acrimónia em Édipo, tanto numa como noutra peça.
Em Édipo em Colono como em Rei Édipo, verifica, como o mesmo espírito de objectividade, o mesmo desprendimento de si:
"Cheguei aonde cheguei, sem nada saber. Eles, que sabiam, me perderam." [299]
A sua perda prova, pois (inocente ou culpado: palavras demasiadamente humanas), a sua ignorância e a omnisciência dos deuses.
Contudo, no final de Rei Édipo como ao longo de Édipo em Colono, é dos deuses e só deles — nunca dos seus próprios méritos — que o rei derrubado espera a libertação. A sua salvação depende de uma livre decisão dos deuses.
A concepção da salvação que se manifesta no nosso drama confirma pois e verifica inteiramente a concepção do erro e do castigo tal como ela se manifestava na primeira tragédia. Édipo não merece a salvação, tal como não quis a sua falta nem mereceu o seu castigo.
É evidente que a apoteose que remata o drama de Édipo e coroa o seu destino não poderá, de modo algum, ser interpretada como recompensa de uma atitude moral.
Por isso não é a inocência do rei, o seu arrependimento, o seu perdão aos filhos que determinam a intervenção benévola dos deuses. Uma só e única circunstância parece decidi-los: a extensão das suas desgraças.
Podemos agora tentar precisar o sentido religioso de Édipo em Colono sem esquecer o de Rei Édipo.
Em Rei Édipo, Édipo era castigado não por uma falta pessoal mas como homem ignorante e actuante, pela lei da vida com que esbarra todo o ser actuante. A sua única falta residia na sua existência, na necessidade em que o homem está posto de agir num mundo cujas leis ignora. A condenação que o atingia, despojada de todo o carácter de punição, não atingia na sua pessoa senão o homem actuante.
Édipo em Colono faz aparecer no universo uma outra lei de que os deuses são guardiões, uma lei complementar da precedente, a lei que salva o homem sofredor. A ascensão de Édipo ao nível do herói não é concedida a Édipo pessoalmente, como recompensa dos seus méritos e da sua virtude. É concedida, como graça, ao homem sofredor. Tal como Édipo fora no primeiro drama a perfeição da acção, assim o vemos, em Colono, na ponta extrema do sofrimento humano. Não tenho que enumerar os males de Édipo, estabelecer o inventário pormenorizado deste sofrimento.
Um só verso da primeira cena basta para recordar o abismo de miséria em que caiu este homem feito para agir e para reinar. Édipo, esgotado, diz a Antígona:
"Senta-me e olha pelo cego." [300]
É total o contraste desta imagem do velho, mais fraco que uma criança, com a imagem do rei protector e salvador do seu povo que nos é oferecida no princípio de Rei Édipo.
Ora, é a este velho acabrunhado pela sorte, a este homem sofredor que os deuses vão salvar, que eles escolheram para glorificar, não tanto por causa da maneira como suportou os seus males, mas para manifestar o seu resplandecente poder de deuses. Não só Édipo será salvo, como se tornará ele próprio salvador. O seu corpo maculado vai revestir-se de uma virtude singular: dará a vitória ao povo e a prosperidade à terra.
Porque foi Édipo escolhido? Não o sabemos exactamente. Senão porque sofria. Os deuses são deuses uma vez mais: a sua graça é livre.
Quando muito, entrevemos que existe para Sófocles como que uma lei de compensação no mistério do universo. Se os deuses atingem Édipo sem razão, se o levantam sem razão, a verdade é que é o mesmo homem que sucessivamente e ferido e levantado. Quando Édipo se espanta ao saber por Ismene o oráculo que confere ao seu corpo esse poder salutar, Ismene responde.
"Os deuses te levantam depois de te terem derrubado."
Ismene não formula esta verificação como uma lei. Mas parece que Sófocles quer fazer-nos entrever que no coração do universo não há apenas a dura indiferença dos deuses, há também uma clemência, e o homem — o mesmo homem — pode, no curso da vida, encontrar uma e outra.
De Édipo, diz-nos ele "que levado por um deus ou recolhido no seio benévolo da Terra, está ao abrigo de todo o sofrimento".
A morte de Édipo não é nem a purificação de um culpado nem a justificação de um inocente. Não é outra coisa que a paz após os combates da
vida, que o repouso aonde um qualquer deus nos conduz.
Sófocles sabe, sem que isso o perturbe, que a morte é o único cumprimento possível duma vida humana. O homem nasceu para o sofrimento. (Édipo o diz. "Nasci sofredor.") Viver é arriscar o sofrimento. Mas esta mesma natureza temporal que nos expõe ao sofrimento é também a que cumpre a nossa libertação. Édipo reza às deusas do bosque sagrado:
"Concedei-me agora este termo da minha vida. Concedei à minha existência este desenlace, se dele vos não pareço indigno, eu que, durante a minha vida inteira, mais do que nenhum outro, fui sujeito à desgraça."
Édipo fala como um bom servidor que cumpriu bem a sua tarefa de ser sofredor. Reclama o seu salário: a paz da morte. [301]
Sófocles nada mais parece pedir à morte que esta paz, que é a fonte escondida da vida. Nenhuma imortalidade pessoal lhe parece necessária. Simplesmente, não fala dela. O sentido que dá à morte de Édipo parece-lhe suficiente, uma vez que os deuses querem que seja assim. Uma vez mais, somos reconduzidos ao rochedo da fé de Sófocles: admitir o que é.
No entanto, aqui somos voltados pelo poeta para uma outra face do Ser Se os deuses são assaz pérfidos, ou assaz indiferentes à vida, à felicidade humana, para deixarem que um deles monte a armadilha abominável que constitui a vida de Édipo, a sua volúvel indiferença compreende também, nas suas inumeráveis opções, a bondade. Mudaram de humor como uma mulher muda de vestido. Após o vestido cor de sangue e incêndio, o vestido cor do tempo.
Menos trágica talvez, esta cor é mais humana: e depois, nós somos homens, o que faz que o drama inteiro nos prenda e nos retenha por uma fibra mais terna. O céu mudou. Ganhou — por uma vez — rosto humano. Daí que no drama surjam tantos momentos tranquilos, calmas conversas, presenças amigas, atenta serenidade. E a viva beleza dos cavalos e das árvores. E as aves que cantam e que voam. E os pombos torcazes que arrulham. E essa longa, longa vida de Édipo (e de Sófocles) que, apesar de tudo, fluiu dia após dia, respirou como se bebe quando se tem sede.
Em Rei Édipo toda a mostra de amizade, toda a intenção de tranquilizar, carregadas de ironia, tinham um sentido mortal. Em Édipo em Colono, a lenta preparação da morte de Édipo é, por momentos, tão cheia de amigável bondade que, juntando-se por acaso à bondade divina, estas atenções humanas dão finalmente ao conjunto do drama, que é o drama da morte de Édipo, um sentido de vida.
Este sentido de vida está presente ao longo da tragédia. Corre por ela sem cessar, como esse fio vermelho tecido na brancura das velas da marinha inglesa, que, em caso de naufrágio, permitia descobrir a origem dos destroços. Assim todo este drama de morte tem constante e precioso valor de vida. Mas esse sentido culmina na última cena pelo dom insigne que os deuses concedem aos despojos de Édipo.
Édipo foi escolhido pelos deuses para tomar-se após a sua morte uma imagem exemplar da vida humana, infeliz e corajosa, uma força de vida que defenderá o solo da Ática para sempre. Tal como foi, assim ficará. Era vingativo, até ao ponto de cuspir, raivoso, a maldição sobre o filho.
Mas este traço convém à sua nova natureza de herói. Um sábio diz dos heróis: "Estes [302] seres superiores são eminentemente potências maléficas: quando ajudam, também prejudicam, e se nos acodem com o seu socorro, fazem-no com a condição de nos trazerem prejuízo."
A imortalidade do herói Édipo não é, de modo algum, a imortalidade da pessoa de Édipo num além longínquo; é, pelo contrário, no próprio lugar onde acabou a sua vida. a duração de um poder excepcional concedido pelos deuses a sua forma mortal, ao seu corpo sepultado, à sua cólera contra os adversários da comunidade ateniense. Édipo já não existe: concluiu a sua existência pessoal e histórica. Contudo, o sangue quente dos seus inimigos, correndo sobre a terra de Colono, virá um dia reaquecer de paixão o seu cadáver gelado. Ele o deseja, o declara no próprio coração do drama. O seu destino pessoal está doravante terminado. O seu túmulo fica em lugares onde se manifesta, sobre o solo do povo ateniense, o poder activo dos deuses.
Se ainda tem existência humana, essa existência é muito menos pessoal que colectiva. Existirá na medida em que Teseu, o seu povo, os seus descendentes, se lembrarem e se servirem dele. A sua existência está, de futuro, estreitamente ligada à da comunidade de que os deuses o fizeram protector.
Este sentido público da morte de Édipo ressalta claramente das últimas instruções que o velho dá às filhas. Insiste para que não assistam à sua morte: apenas Teseu, o chefe do Estado, estará presente e transmitirá aos sucessores o segredo cuja guarda Édipo lhe confiará.
Assim já a morte de Édipo lhe não pertence, nem àquelas a quem amou mais do que ninguém no mundo poderá amar. A sua morte não é uma questão privada: pertence a Atenas e ao seu rei. Esta morte tem, finalmente, um sentido de vida, de vida pública ateniense. Não é o fim da história de Édipo, é um penhor de duração para o povo que o venerará.
Édipo junta-se ao grupo dos heróis que protegem e defendem Atenas e a Grécia.
Heróis consagrados pelo gênio, Homero, Hesíodo, Arquíloco, Safo, Ésquilo. Não tarda que Sófocles tome lugar nesta constelação de presenças que velam pelo povo ateniense.
Os homens conseguem forçar o destino e instalar-se no céu heróico pelo gênio ou pela desgraça. Édipo e Sófocles têm igualmente esse direito.
Tal é a resposta última do grande poeta ateniense a essa pergunta que a lenda de Édipo tinha feito à sua infância e que ele só resolveu no termo adiantado da sua vida — frente às portas da morte, abertas para o acolherem. [303]

Aparentemente a Teogonia parece-nos apenas um mero catalogo de nomeações divinas, mas em uma analise mais profunda de seu conteúdo podemos perceber que todo o relato hesiódico vai muito além de nomeações olímpicas, Hesíodo ao compor a Teogonia expôs genealogicamente as gerações divinas e os mitos cosmogônicos, é importante ressaltar que esta ordenação genealógica, não deve ser entendida como uma ordem cronológica pois no tempo mítico não é presente essa relação de "antes e depois" o mito em si não é cronológico ele é contínuo, o tempo e a temporalidade se subordinam ao exercício dos poderes divinos e a ação e presença das potestades divinas, estabelecer uma relação de anterioridade e posterioridade seria impor um pensamento moderno sobre uma maneira arcaica de ver e entender o mundo.
Podemos dizer que a poesia em Hesíodo é de um todo didático-religioso, numa época anterior a aquisição da escrita, o aedo é o principal detentor do conhecimento e o transmite aos demais pelo canto, mas este conhecimento passado pelo aedo, não o pertence, porém lhe é revelado pelas musas filhas de Memória com Zeus, estas não são apenas divindades que revelam fatos passados, presentes e futuros distantes ao poeta, porém são a própria palavra cantada, o poeta, portanto, tem na essência da palavra o poder de ultrapassar e superar todos os bloqueios e distâncias espaciais e temporais, um poder que só lhe é conferido pela Memória através das palavras cantadas (Musas) ao nomeá-las o aedo não está apenas a descrever atributos, mas está evocando a sua presença para que lhe seja revelado os acontecimentos sem que nada o venha passar despercebido, e para que o seu canto seja agradável para os seus ouvintes, Hesíodo cataloga as musas em nove sendo elas: Clio(Glória), Euterpe (História), Thalia(Festa), Melpomene(Jubilo), Terpsichore(Coreografia), Erato(Amável), Polimenia(Muitos Hinos), Urania(Celeste), Calliope(Bela Voz) os nomes das musas exprimem qualidades próprias relacionadas a poesia oral, assim a poesia em Hesíodo tem uma característica religiosa não apenas por transmitir conceitos míticos de formação e ordenação do cosmos mas por estar totalmente estruturada, sobre a concepção de uma forma de pensar arcaica que acredita não ser a voz nem a habilidade humana do cantor que imprimirá sentido e força, direção e presença ao canto, mas é a própria força e presença das Musas que gera e dirige o canto do aedo, a partir do instante em que Hesíodo evoca as musas, seu canto passa a ter um caráter sagrado pois sem elas, ele nada poderia saber como é citado abaixo:
"Pelas Musas heliconíades comecemos a cantar"(Teogonia,p.103).
Assim a teogonia não apresenta-se somente como um hino enaltecendo e glorificando Zeus, mas também como uma canção que enaltece e personifica a importância da poesia oral e a maneira como esta era concebida pelos gregos tendo sua personificação no mito das musas.
Se em Hesíodo temos uma poesia didático-religiosa, em Homero encontramos uma poesia heróica, trata-se, com efeito, de uma poesia burguesa, destinada a reis e heróis, a homens voltados para as armas e para o mar, os poemas homéricos influenciaram a cultura grega que por sua vez passou essa influência à latina e culminou em todas as culturas ocidentais que derivam da cultura greco-romana. Diferentemente da Teogonia as epopéias Ìliada e Odisséia que são atribuídas a Homero, apresentam-se em um formato in medias res, podemos comparar traços marcantes nas narrativas de Homero e Hesíodo, os poemas atribuídos a estes, aparecem em primeira e segunda pessoa, em Hesíodo observamos uma narrativa mais marcada em primeira pessoa, tanto na Teogonia quanto em sua segunda obra O Trabalho e os Dias onde Hesíodo mostra como se criou e organizou o mundo dos mortais e a condição humana, Hesíodo faz-se presente em sua narração revelando-se de maneira pessoal como podemos ver nos versos abaixo:
"Elas um dia a Hesíodo ensinaram belo canto quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino esta palavra primeiro disseram-me as Deusas Musas olimpíades, virgens de Zeus porta-égide" (Teogonia, p.103);
"Ouve, vê, compreende e com justiça endireita sentenças. Tu! Eu a Perses verdades quero contar."( Os Trabalhos e os dias,v. 10).
Em Homero estas características narrativas podem ser observadas no proêmio da Odisséia e na invocação das musas no catálogo das naus na Ìliada:
"O guerreiro diz-me, musa, ardiloso, que muitíssimo vagou, desde que, de Tróia, a sagrada cidadela pilhou, e de muitos homens viu as cidades e o espírito conheceu e muitas dores ele, no mar, sofreu em seu ânimo, lutando por sua vida e pelo retorno dos companheiros mas nem assim os companheiros salvou como queira, pois eles, pela própria insensatez, pereceram tolos, que os bois do filho de Hipérion, o Sol comeram: logo este lhes tirou o dia do retorno." (Odisséia,I,1-9)
As Musas descendem da união de Zeus com Memória o que coloca a natureza das Musas como decorrência das atribuições de seus genitores; sendo assim as Musas não são apenas memória mas são força e poder provindos de Zeus, Homero por sua vez descreve as Musas apenas como filhas de Zeus porta égide ocultando a origem maternal dessas divindades essa ocultação materna pode ocorrer porque neste momento do relato em que se deseja eternizar os nomes dos combatentes em Tróia o poeta volta-se para as filhas do Deus que detêm o poder e que são o resultado da ação do poder sobre a memória, mas também podemos interpretar esta passagem da seguinte maneira, em uma sociedade patriarcal o papel da mulher não se faz de forma direta principalmente no que diz respeito aos filhos já que estes recebiam apenas o direito a paternidade, visão paterna que é bastante presente nos epítetos atribuídos aos guerreiros como podemos perceber no epíteto do guerreiro Aquiles Pelida, Pelida por ser filho de Peleu; nessa interpretação o mito atribuído somente a paternidade das musas reflete a cultura de uma sociedade patriarcal, as Musas são expressadas de uma forma bastante única tanto nos poemas homéricos quanto nos hinos hesiódicos. Nas obras de Hesíodo este se coloca submisso as Musas isso se confirma na passagem em que Hesíodo afirma que as Musas lhe ordenaram a cantar, nos poemas homéricos não são as Musas que se dirigem ao poeta, mas o poeta que dirigi-se a Musa isso demonstra em Homero uma maior autonomia por parte do aedo, já que este define o objeto a ser cantado e por onde irá iniciar o seu canto, mas mesmo com essa relação de autonomia nos seus poemas Homero reivindica uma origem divina e deixa claro que sem a permissão das Musas o aedo nada poderia saber pois delas provinham os dons do canto e da palavra a chegada de Demódoco ao festim de Alcínoo exemplifica bem isto.
"O arauto reapareceu, conduzindo o bravo aedo a quem a Musa amante havia dado sua parte de bens e de males, pois, privado de vista, dela havia recebido o canto melodioso".(Odisséia, VIII, 62 - 64)
Tanto em Hesíodo quanto Homero podemos perceber que o poeta assume a função de interprete dos Deuses: estes lhe dão o divino dom da palavra e o canto,
Essa relação do aedo com as filhas de Zeus, atribui ao aedo um caráter divino como nos mostra Homero:
"Não há homem sobre a terra que aos aedos não devam estima e respeito; pois eles aprendem da Musa as suas obras, da Musa que estima a raça dos aedos". (Odisséia, VIII, 479 - 481)
As obras homéricas e os hinos hesiódicos são um conjunto de Teofanias a presença e interferência dos Deuses faz-se presente em todos os momentos, retratando assim um aspecto da cultura grega onde cada manifestação da natureza, ou cada acontecimento rotineiro tinha sua devida atribuição divina, o que não poderia ser diferente nas narrativas da época, o sendo assim podemos perceber que o grande mito das Musas nada mais é, que uma forma criada pelo homem grego arcaico para explicar sua imensa capacidade de criar, e expressar os seus sentimentos ver e entender o mundo,as obras homéricas e os hinos hesiódicos são um conjunto de teofanias que representam e apresentam o pensamento de uma sociedade que buscava uma explicação não apenas para sua existência, mas para as razões de existirem.

Pela mesma indistinção do público e do privado, quando se queria designar alguém caracterizava-se sua pessoa pelo lugar que ocupava no espaço cívico, pelos títulos e dignidades políticas ou municipais, caso as tivesse; isso fazia parte de sua identidade, como entre nós a patente junto ao nome de um oficial ou os títulos de nobreza. Ao introduzir um personagem, um historiador ou romancista especificava se era escravo, plebeu, liberto, cavaleiro, senador. Neste último caso podia ser pretoriano ou consular, segundo a dignidade mais elevada à qual fora designado na escala das honras fosse o consulado ou apenas o pretório. Tratando-se de um militar de vocação, que preferia o comando de um regimento numa província ou nas fronteiras e adiava a preocupação de investir-se em Roma de uma dessas dignidades anuais, recebia o título de "o jovem Fulano" (adulescens), mesmo que fosse quadragenário embaixo da couraça: ainda não havia ingressado na verdadeira carreira. Isso com relação à nobreza senatorial; quanto aos notáveis de cada cidade, Censorino assim caracteriza para uso dos leitores o protetor (amicus) ao qual tudo deve e dedica seu livro: "Cumpriste até o fim a carreira municipal, recebeste a honra de ser sacerdote dos imperadores entre os homens principais de tua cidade e te elevas além do nível provincial por tua dignidade de cavaleiro romano". Pois a vida municipal também tinha sua hierarquia. Quem não era plebeu e pertencia ao Conselho local (curia), como verdadeiro notável, era um curial; até mesmo um "homem principal", se tivesse desempenhado na ordem todas as funções anuais até as mais elevadas, que eram também as mais custosas.
Pois "levar vida política" — ou "exercer funções públicas" — não constituía uma atividade especializada: era a realização de um homem plenamente digno desse nome, de um membro da classe governante — que se considerava apenas humana —, de uma pessoa privada ideal; não ter acesso aos cargos públicos, à vida política da cidade, equivalia a ser mutilado, homem de baixa condição. Para que o leitor sorria com um paradoxo divertido, os poetas eróticos gabavam-se de desprezar a carreira política e só querer militar na carreira do amor (militia amoris); para a maioria dos filósofos, conselheiros com segundas intenções, a vida política (bios politikos) só podia ser sacrificada, sendo preciso sacrificá-la, à vida filosófica, na qual cada um se consagra por inteiro ao estudo da sabedoria. Na prática, os cargos públicos municipais e, com maior razão, os senatoriais eram acessíveis apenas às famílias ricas; porém esse privilégio também constituía um ideal e quase um dever. O conformismo estóico identificará a vida política à vida harmonizada com a Razão. Não adiantava nada um romano ser rico se não estava entre os "primeiros de nossa cidade", se não se projetara na cena pública — supondo que as outras famílias ricas lhe deixassem possibilidade de permanecer à margem e que a população da cidade não tivesse ido tirá-lo da solidão de suas terras para, com suave violência, impeli-lo para as funções municipais a fim de que lhe desse os caros prazeres públicos ligados ao exercício de cada uma dessas dignidades, que duravam um ano e conferiam uma posição vitalícia.
Pois cada uma dessas dignidades custava muito caro ao indivíduo assim honrado pela vida: a indistinção dos fundos públicos e dos patrimônios privados não funcionava em mão nua. E a curiosa instituição que se chama "evergetismo". Quem recebia a nomeação de pretor ou cônsul devia desembolsar alguns milhões para dar ao povo de Roma espetáculos públicos, representações teatrais, corridas de carros no circo, até dispendiosos combates de gladiadores na arena do Coliseu; depois o novo pretor ou cônsul ia ressarcir-se dos gastos no governo de uma província. Tal era o destino de uma família de nobreza senatorial, ou seja, uma família em 10 mil ou 20 mil. Mas é entre os notáveis municipais — ou uma família em vinte, talvez — que o evergetismo assume sua verdadeira dimensão, sem encontrar compensações para os sacrifícios financeiros que lhes impunha.
Evergetismo
Na menor cidade do Império, quer a população fale latim ou grego, quer fale mesmo celta ou siríaco, talvez a maioria dos edifícios públicos que os arqueólogos vasculham e os turistas visitam foi construída pelos notáveis locais com dinheiro do próprio bolso. Além disso, tais notáveis financiavam os espetáculos públicos que anualmente alegravam a cidade, desde que tivessem o suficiente, pois quem alcançava uma dignidade municipal devia pagar. Tal dignitário doava uma soma ao Tesouro da cidade, financiava os espetáculos do ano em que estava no cargo ou ainda empreendia a construção de um edifício. Caso estivesse em dificuldades financeiras, formulava por escrito a promessa pública de fazer isso um dia, pessoalmente ou por intermédio de seus herdeiros. E havia mais: independentemente de qualquer função pública, os notáveis ofereciam a seus concidadãos, de livre e espontânea vontade, edifícios, combates de gladiadores, banquetes ou festas; essa espécie de mecenato era ainda mais frequente que nos Estados Unidos de hoje, com a diferença de que seus objetos se referiam quase exclusivamente à ornamentação da cidade e a seus prazeres públicos. A grande maioria dos anfiteatros, essas enormes riquezas petrificadas, foi oferecida livremente por mecenas, que, assim, imprimiam à cidade sua marca definitiva.
Tais liberalidades deviam-se à generosidade privada? A uma obrigação pública? A ambas. A dose variava de indivíduo para indivíduo e só havia casos particulares. Pois as cidades pouco a pouco transformaram em dever a tendência dos ricos a generosidade ostentatória; obrigavam-nos a fazer sempre o que a preocupação com a posição os levava a fazer algumas vezes. Mostrando-se liberais, os notáveis confirmavam que pertenciam à classe governante, e os poetas satíricos caçoavam da pretensão dos novos-ricos, que se apressavam a oferecer espetáculos a seus concidadãos. As cidades adquiriram o hábito de um luxo público que passaram a exigir como um direito. A nomeação dos dignitários anuais fornecia a oportunidade; todo ano, em cada cidade desenrolavam-se pequenas comédias: era preciso encontrar novas fontes de financiamento. Cada membro do conselho declarava-se mais pobre que seus pares e dizia que em compensação Fulano de Tal era um homem feliz, próspero e tão magnânimo que seguramente aceitaria naquele ano uma dignidade que acarretava o dever de garantir à própria custa a água quente dos banhos públicos. O interessado protestava que já passara por isso. O mais teimoso ganhava. Se não se via saída, o governador da província interferia; ou a plebe da cidade, zelosa de sua água quente, intervinha pacificamente: aclamava a vítima designada, levava às nuvens sua generosidade espontânea e elegia-a dignitário erguendo as mãos ou por aclamações unânimes. A menos que, espontaneamente, pois também havia espontaneidade, um mecenas imprevisto se levantasse para declarar que desejava beneficiar a cidade; ela lhe agradecia fazendo o Conselho nomeá-lo alto dignitário local e conceder-lhe um título de honra excepcional, como "patrono da cidade", "pai da cidade" ou "benfeitor magnânimo e espontâneo", que ele inscreveria em sua lápide; ou então votando-lhe uma estátua, pela execução da qual ele espontaneamente pagava.
Por isso foi que os dignitários locais pouco a pouco deixaram de ser eleitos pelos cidadãos para ser designados pela oligarquia do Conselho, que os escolhia em seu próprio meio: o problema era mais a falta que o excesso de candidatos; consistindo a função mais em pagar do que em governar, deixava-se ao Conselho a decisão de imolar um de seus membros, e o melhor candidato era aquele que aceitasse pagar. A classe dos notáveis tinha, assim, a equívoca satisfação de dizer que a cidade lhe pertencia, pois era ela quem pagava; em troca podia repartir os impostos do Império em seu proveito, fazendo-os recair o máximo possível sobre o campesinato pobre. Cada cidade se dividia em dois campos: os notáveis que davam e a plebe que recebia; além das obrigações inerentes às dignidades anuais, só se podia ser uma estrela local promovendo, uma vez na vida, a construção de um edifício ou a realização de um banquete público. Assim se formou uma oligarquia dirigente. Será preciso dizer hereditária? É menos simples: as dignidades do pai criavam um dever moral para o filho, vítima designada das próximas prodigalidades, pois era o herdeiro. Entre os ricos do lugar, pensava-se primeiro em depenar aqueles cujo pai já alcançara as dignidades (patrobouloi), esperando que o filho quisesse imitar a generosidade paterna; na falta de candidatos bastante ricos entre os filhos de dignitários, o Conselho se conformava em aceitar em seu seio o representante de uma família de comerciantes para impeli-lo às custosas dignidades.
Os notáveis tinham interesse em se sujeitar a tal sistema apenas porque o costume o impunha; pois se rebelavam tão frequentemente quanto se prestavam a ele de bom grado. O poder central também hesitava. Ora, para mostrar-se popular, impunha aos notáveis uma obrigação formal de dar ao povo prazeres que "o distraíssem da tristeza"; ora fazia a política dos notáveis e tentava refrear as exigências da plebe; ora, por fim, fazia sua própria política e tentava proteger os ricos contra sua tendência às suntuosidades ostentatórias: não seria melhor oferecer à cidade um cais de porto em lugar de uma festa? Pois o povo recebia prazeres que o divertiam ou edifícios que lisonjeavam a vaidade do mecenas; somente nos anos de penúria a plebe pensava em pedir a seus dirigentes que lhe vendessem a preços módicos o trigo armazenado em seus celeiros. Ofereciam-se prazeres aos concidadãos por civismo e edifícios à cidade por ostentação; essas são as duas raízes do evergetismo, que confundem, elas também, o homem público e o homem privado.
Civismo nobiliário
Quem diz ostentação diz espontaneidade; quem diz civismo diz dever. Um dever paradoxal, esse de dar à cidade mais do que lhe é devido. Os cidadãos de um Estado moderno, que são administrados, limitam-se a pagar seus impostos e nem um centavo a mais; porém as cidades gregas (e, a seu exemplo, as romanas) tinham um princípio, ou pelo menos um ideal, mais exigente: quando podiam, tratavam os cidadãos como um partido moderno trata os militantes; estes últimos não devem medir seu zelo de acordo com uma cota, e sim fazer pela causa tudo que estiver a seu alcance. As cidades esperavam a mesma dedicação de seus cidadãos ricos. Demoraríamos muito para explicar que tal dedicação se aplicava principalmente a despesas com amenidades (a despesa que um dignitário menos podia recusar era aquela que a devoção também lhe exigia: quando, em nome de seu cargo, celebrava uma festa ou um espetáculo em honra aos deuses da cidade, não deixava de acrescentar alguma coisa de sua bolsa aos créditos públicos). Ao que se soma a ostentação nobiliária. Os ricos sempre se sentiram figuras públicas; convidavam os concidadãos às bodas de sua filha; na morte de seu pai, toda a cidade era chamada ao banquete funerário e aos combates fúnebres de gladiadores. Logo se fez disso uma obrigação. Em todo o Império, um notável que se casava de novo ou cujo filho adolescente tomava as vestes de homem devia alegrar a cidade ou doar-lhe uma soma em dinheiro; caso se recusasse, precisaria se refugiar numa de suas terras para celebrar as próprias bodas. Mas isso significava privar-se da existência pública e cair no esquecimento; ora, o orgulho nobiliário quer perdurar. Assim, em vez de um prazer fugaz, ele oferece à cidade um edifício sólido, no qual é gravado seu nome. Pode também criar uma fundação perpétua, segundo outra moda da época: em seu aniversário a cidade se banqueteará em sua memória com os rendimentos de um capital que ele deixou com tal intenção ou celebrará uma festa que levará seu nome.
Tudo isso são meios de confirmar, vivo ou morto e honrado, uma condição de estrela social. Ora, uma estrela não é mais uma pessoa privada, o público a devora. Ademais, a relação de um benfeitor de cidade com seu público era física, face a face, como fora a dos políticos da República romana que tomavam decisões diante dos olhos do povo, em pé na frente do palanque, visíveis como os generais de outrora no campo de batalha. Encerrados em seus palácios, os imperadores desejarão dar a impressão de que continuam esse republicanismo tomando a precedência pessoalmente no circo ou no anfiteatro de Roma, onde a plebe vigiava sua atitude e os queria atentos e complacentes aos desejos do público, o único juiz verdadeiro.
Os notáveis municipais têm a mesma sorte. Numa cidadezinha da Tunísia encontrou-se um mosaico no qual um grande homem chamado Magério celebra a própria generosidade; o mosaico decorava sua antecâmara. Vê-se o combate de quatro bestiários contra quatro leopardos; o nome de cada combatente está inscrito ao lado de sua imagem, bem como o de cada animal: o mosaico não está ali como ornamento, mas como a descrição rigorosa de um espetáculo que Magério ofereceu com seus denários. Ao longo do mosaico leem-se as aclamações e reclamações do público, que sanciona o zelo benfeitor escandindo slogans em sua homenagem: "Magério! Magério! Que teu exemplo se torne instrutivo para o futuro! Que os benfeitores precedentes entendam a lição! Onde e como se fez tanto bem? Tu dás um espetáculo digno de Roma, a capital! Tu o dás a tua custa! Este dia é teu grande dia! Magério é o doador! Essa é a verdadeira riqueza! Sim, essa mesma! Já que terminou, despede os bestiários com uma paga suplementar!". Magério concordou com esta última vontade, e veem-se no mosaico os quatro sacos de moedas de prata (com a cifra inscrita sobre cada um) que entregou aos bestiários na arena.
Aos aplausos do povo sucediam-se normalmente títulos honoríficos, distinções de honra concedidas pelo Conselho para a vida toda; a cidade agradece, mas é ela quem julga; o notável só se distingue entre seus pares prestando-lhe homenagem. Compreendemos que os títulos honoríficos de um benfeitor, assim como as dignidades públicas que ele carrega, tiveram uma importância tão considerável como os títulos de nobreza no Ancien Regime e suscitaram paixões igualmente intensas. O Império Romano apresenta o seguinte paradoxo: um civismo nobiliário. Tal civismo ostentatório deve confirmar sua presunção hereditária com uma proeza de liberalidade que o distinga, mas no interior do quadro cívico: superior à plebe de seu vilarejo, o notável é grande em sua cidade porque mereceu aos olhos desta e no benefício desta; ela é beneficiária e juiz da dedicação de seu filho. A plebe percebia tão bem esse equívoco que saía do espetáculo sem saber se o benfeitor a havia honrado ou humilhado; uma frase que Petrônio empresta a um espectador expressa tal ressentimento: "Ele me ofereceu um espetáculo, mas eu o aplaudi: estamos quites, uma mão lava a outra".
Ao mesmo tempo dedicação patriótica e busca de glória pessoal (ambitus). Já na República romana os membros da classe senatorial procuravam tornar-se populares oferecendo espetáculos e banquetes públicos, e era mais para agradar à plebe do que para corromper os eleitores; continuaram assim depois da supressão da eleição às dignidades. Como diz Georges Ville, por trás da ambição materialmente interessada pode esconder-se uma ambição por assim dizer desinteressada, que procura o favor da multidão por si mesmo e com ele se contenta".
O Evergetismo não se parece com nada
Deixemos de falar de "burguesia" romana: como a clientela, o evergetismo não se explica pelo interesse de classe, mas por um espírito nobiliário que inutilmente ergue edifícios públicos e estátuas honoríficas que cantam a glória de uma dinastia e resultam de um imaginário nobre; é uma arte do brasão. Falar de maquiavelismo, redistribuição, despolitização, cálculo interessado na colocação de simbólicas barreiras de classe equivale a achatar e racionalizar um fenômeno cujos custo e desenvolvimento simbólico ultrapassam em muito o que era socialmente necessário. O que nos engana é que essa nobreza, com sua simbologia aparentemente cívica, seus edifícios "públicos" e seus títulos de magistratura não se parece com a nobreza de sangue e títulos do Ancien Regime: é uma formação histórica original que canta a própria glória no velho vocabulário da cidade antiga, em vez de louvar a grandeza de sua raça.
Os curiais não eram a mesma coisa que a classe proprietária apenas porque o número de cadeiras no Conselho municipal em geral se limitava a cem. Assim como no Ancien Regime não bastava enriquecer para obter um título de nobreza, e o título de acadêmico na França limita-se a quarenta pessoas, célebres ou menos célebres. O Conselho municipal era um clube nobre onde nem todos os homens de posses entravam: as leis imperiais insistiam em que em caso de necessidade financeira fossem admitidos de favor vulgares comerciantes ricos. O clube dos ricos nobres preferia pressionar um de seus membros para que se arruinasse pela cidade. E às vezes os nobres se conformavam em fugir às suaves violências de seus pares: refugiavam-se em suas terras, na casa de seus lavradores (coloni praediorum), diz o último livro da Digesta; pois o poder público afundava ao tentar sair das cidades e penetrar no campo, onde cristãos como são Cipriano se abrigariam das perseguições.
Classe nobiliária também, pela antiguidade dessas famílias. Dinastias de novos-ricos são admitidas, é um fato comprovado, porém um fato não menos comprovado é a existência secular dessas famílias, seus intercasamentos, sua endogamia. Os intercasamentos entre as grandes famílias de uma cidade foram trazidos à luz por Philippe Moreau a partir do Pro Cluentio de Cícero; na Grécia, a abundante epigrafía imperial permite seguir muita família nobre ao longo de dois ou três séculos, particularmente em Esparta, na Beócia, em outros lugares ainda: foi possível estabelecer árvores genealógicas que ocupam páginas in-fólio em nossas coletâneas de inscrições gregas do período imperial. O Império é uma época de estabilidade nobiliária.
O evergetismo foi um ponto de honra nobiliário em que o orgulho de casta acionou todas as motivações cívicas e liberais sobre as quais os historiadores se estenderam habilmente, mas também com demasiada exclusividade: civismo, prazer de dar, desejo de se destacar... Essas árvores sentimentais e cívicas esconderam-lhes a floresta do orgulho nobre e a existência de uma nobreza patrimonial, hereditária de fato. Cada nobre quer ser superior aos outros e gosta de poder dizer que foi "o primeiro" ou "o único" a gastar com tal liberalidade inédita: os dignitários precedentes gratuitamente distribuíram óleo para o banho do povo, mas eis que um novo paladino distribui óleo perfumado... "Quero ganhar dinheiro", declara um herói de Petrônio, "e ter uma morte tão bela que meus funerais se tornarão proverbiais"; sem dúvida prescreverá aos herdeiros que ofereçam um banquete à cidade por ocasião de seu enterro. Pão e circo, ou melhor, edifícios e espetáculos: a autoridade ainda era mais a projeção de um indivíduo do que uma capacidade pública ou privada de obrigar; era monumentalização e teatralização. O evergetismo não era tão virtuoso como creem seus últimos Comentaristas nem tão maquiavélico como dizem os comentaristas precedentes, imbuídos de vago marxismo. A nobreza residia, ao pé da letra, num "jogo de competição", tão irracional, política e economicamente, quanto o esbanjamento por mera ostentação. Isso ia muito mais longe que a necessidade de "preservar a posição" ou marcar as barreiras de classe, e não há como conciliar o fenômeno fundamental da competição de esbanjamento com explicações sociais ao gosto dos modernos; tampouco se pode atribuí-lo às explicações dos antigos — patriotismo, festa e banquete, generosidade etc. É um fenômeno tão curioso como esse potlatch que intriga os etnógrafos que o encontram entre tantos povos "primitivos"; uma paixão tão devoradora como aquelas que, entre os povos "civilizados", só se desencadeiam pelo poder "político" e pela riqueza "econômica". Pelo menos para quem nisso acredita.
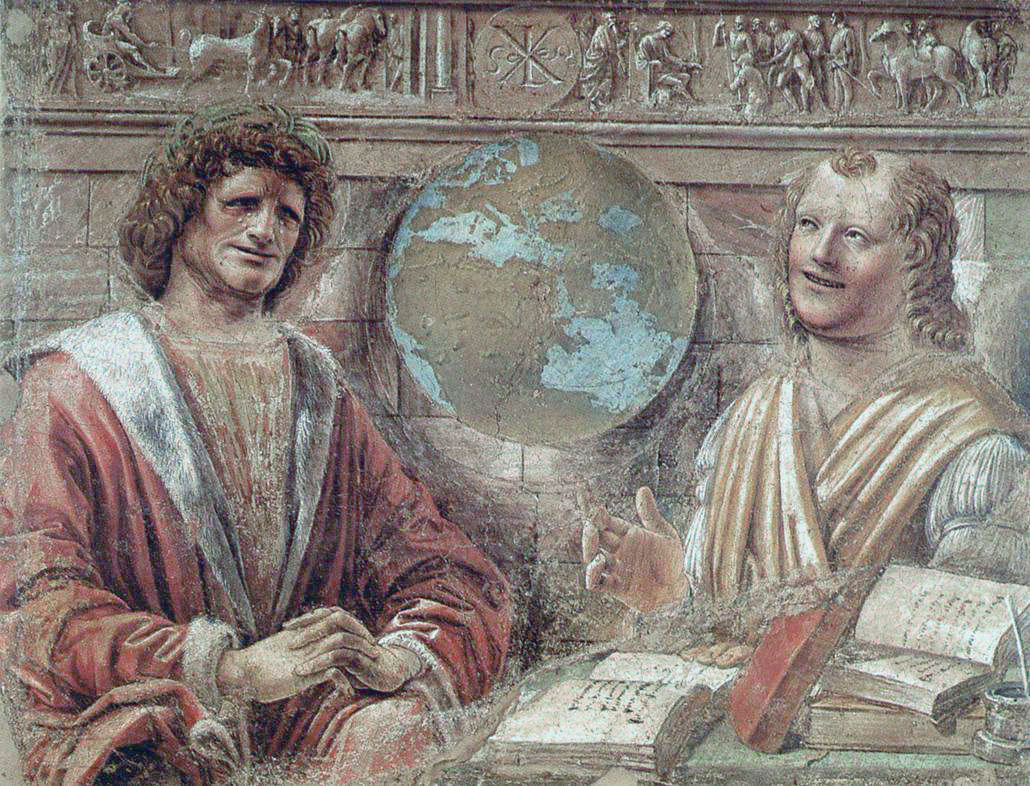
Há momentos, na história da humanidade, em que novas formas de ação ou de pensamento aparecem de maneira tão brusca que dir-se-ia uma espécie de explosão. Assim foi o aparecimento da ciência — do conhecimento científico racional — na Grécia da Ásia, na Jônia, no final do século VII antes da nossa era, com Tales de Mileto e a sua escola. Espetacular, se quisermos, mas de modo algum surpreendente nem miraculoso este nascimento da ciência, esta aparição dos primeiros sábios e "filósofos", como dizem os nossos livros. (A palavra filósofo só aparece em grego, ao que se julga, na época dos sofistas e só se espalhou mais tarde ainda, no século IV, por intermédio de Platão.)
A atitude científica em relação à natureza foi familiar aos gregos mais primitivos, digamos mesmo aos homens mais nus das origens. Ulisses é típico desta atitude interrogadora, que aliás se combina na sua pessoa com os sentimentos religiosos mais autênticos, ao mesmo tempo que mais utilizáveis. Ulisses, "fabricante de máquinas", diz o poeta.
Na verdade, seria errado opor como contrários que se excluíssem a ciência racional e o "mito". Como se um e outro não estivessem desde longa data estreitamente unidos! Como se um e outro não procurassem igualmente, por caminhos diferentes, ultrapassar os obstáculos, as dificuldades que o cosmos e as suas leis desconhecidas apresentam ao homem!
Todo o pensamento foi primeiramente imagem e narrativa, e sabe-se que Platão, nos finais da idade grega clássica, se serve ainda frequentemente do mito para expor o seu pensamento. Interpreta à sua maneira antigos mitos, inventa-os por sua conta. [251]
A ciência grega nascente, assemelha-se aliás, muito mais do que parece a primeira vista, à nossa. Por ingénua que seja, sabe que o homem é o produto da evolução natural, toma a palavra e o pensamento como frutos da vida em sociedade, considera-se como uma parte da técnica: é a ciência que permite ao homem dominar o seu meio natural.
Uma tal concepção da ciência — de extrema ousadia — surge com toda a clareza nos gregos dos anos 600, na época de Tales.
Em dois séculos, desenvolve-se com uma amplidão de vistas e uma busca de coesão que nos espantam ainda hoje.
No entanto, é muito mais para trás, muito para lá do que sabemos do povo grego primitivo, que devemos recuar para encontrar entre as mãos da espécie humana as primeiras ferramentas que ela inventou para se defender do meio ambiente ou para o utilizar. O arco constitui a primeira "máquina", muito anterior a Ulisses, o "fabricante de máquinas". A sua invenção data dos anos 6000, no final da época paleolítica. O arco utiliza uma reserva de energia, neste sentido, é realmente uma máquina.
Neste mundo exterior, tão hostil, tão estranho e, como vimos, tão "trágico o homem inventa sem cessar novos meios de salvar a vida. Inventa contra o destino uma moral, uma maneira sua de viver e de morrer. Inventa contra a fome novas maneiras de se alimentar.
Para que a civilização nascesse, era preciso que o homem tivesse previamente dominado um certo número de técnicas que permitissem fazer de um ser que recolhia o seu alimento um homem capaz de o produzir em grande parte. Um excedente permanente de alimento é a condição necessária do nascimento de qualquer civilização.
Estas técnicas desenvolveram-se — no vale do Nilo, do Eufrates e do Indo — entre 6000 e 4000 a.e.c. Estes dois mil anos são de uma importância vital. Esta vasta revolução técnica constitui a base material da civilização antiga. Até à revolução industrial do século XVIII, até à descoberta da fissão do átomo, a descoberta da energia nuclear, não houve revolução mais importante.
O homem inventa pois a agricultura. Esta invenção manifesta uma inteligência das leis da germinação das plantas, uma observação, constante e aguçada pela necessidade, dos métodos da natureza, observação acompanhada de tentativas de imitação, de experiências sem dúvida durante muito tempo infrutíferas, finalmente coroadas de êxito. Em todo o caso, chegou um momento em que [252] observação e experimentação engendram um conhecimento assaz claro para convidar os primitivos a sacrificar deliberadamente algum bom alimento na esperança de recolher maior quantidade no ano seguinte. Mesmo se muita magia se liga às sementeiras e se festas religiosas acompanham a colheita, o conjunto da operação, que vai da reserva das sementes nos silos à maturação do grão novo, alegremente cortado à foice, constitui um conhecimento das leis naturais postas pelo homem ao seu serviço. Boa e por agora suficiente definição da ciência.
Na tribo primitiva são as mulheres que velam pela recolha dos grãos, pela sua conservação, pelas reservas do lar. É provável que a agricultura tenha sido uma invenção das mulheres. Durante muito tempo, até à invenção da enxada, foi um trabalho de mulher.
A descoberta dos metais fez-se através de dificuldades muito grandes. A agricultura acabou por beneficiar dela, tanto quanto a guerra de pilhagem. Ao princípio, os metais tinham excitado principalmente a curiosidade do homem: eram procurados por causa da sua raridade. O bronze e o ferro satisfizeram durante muito tempo apenas as necessidades de luxo — como na época de Micenas o ouro e a prata — , muito antes de com eles se fabricarem armas e ferramentas. Foram encontrados, em colares, fragmentos de minério de cobre. A malaquite, que é o mais facilmente redutível desses minérios, foi objeto de um comércio importante no Egito, onde o utilizavam na fabricação das pinturas de rosto desde a época pré-dinástica.
Os minérios de cobre e de estanho, aliados no bronze, encontravam-se, na região mediterrânica, em lugares muito afastados dos países gregos: quanto ao estanho, a Cólquida, na costa oriental do mar Negro, e a Etrúria, que é a atual Toscana. Esta circunstância teve muito peso no progresso da fabricação dos barcos e da técnica da navegação. A orientação do marinheiro segundo as estrelas ou a posição do Sol exigia a formação de uma carta celeste.
Poderiam dar-se. assim, muito antes do nascimento da ciência propriamente dita — da astronomia e da geometria na época de Tales e dos seus sucessores — muitos outros exemplos de uma atitude científica do homem, da sua aplicação em observar, da sua paciência em tentar imitar e utilizar as leis naturais. Desta atitude resultaram, a partir da idade neolítica, algumas das mais notáveis invenções da nossa espécie. Houve não apenas a invenção da agricultura e a descoberta dos metais, mas também a domesticação dos animais, primeiro simples reserva de carne, depois empregados no tiro. Houve a invenção [253] do carro e da roda, que substituiu o fragmento do tronco de árvore, as invenções mais tardias do calendário lunar e do calendário solar. Todas estas invenções fazem parte da história da ciência, se, pelo menos. temos de definir a ciência como o conjunto dos conhecimentos e dos meios que permitem ao homem aumentar o seu domínio sobre a natureza. Mas todas as invenções enumeradas até aqui são muito anteriores ao aparecimento do povo grego na história. Contudo, o povo grego conserva-as na memória como um tesouro acumulado pelas gerações precedentes. Quase sempre, atribui-as a deuses benéficos.
As ciências nasceram pois das necessidades mais elementares dos homens e das técnicas, por exemplo, a lavra e a navegação, que satisfaziam essas necessidades. (Nasceram igualmente das necessidades de luxo da classe dominante). Os homens têm necessidade de comer e de se vestir. É preciso que aperfeiçoem os seus instrumentos de trabalho. É preciso que fabriquem barcos e que saibam como fabricá-los, é preciso que estejam em condições de os dirigirem no mar e que, para tal, conheçam o movimento dos astros. O conhecimento da marcha dos astros é igualmente necessário para regular as lavras e as sementeiras em datas exatas que são indicadas ao camponês pelo levantar no céu de tal ou tal estrela.
Mas que se passou na Jónia nos séculos VII e VI? Uma população de sangue misto (sangue cariano, grego e fenício) está empenhada numa longa e dura luta de classes. Qual, quais destes três sangues correm nas veias de Tales? Em que dosagem? Ignoramo-lo. Um sangue muito ativo. Um sangue muito político. Um sangue inventor. (Sangue político. Tales propõe, dizem-nos, a esta população movediça e dividida da Jónia, constituir uma nova forma de Estado, um Estado federativo, governado por um conselho federal. Proposta muito judiciosa, e nova no mundo grego. Não foi escutado).
Esta luta de classes que ensanguenta as cidades da Jônia — a mesma que a da Ática no tempo de Sólon — é, aliás, também, e por muito tempo, o motor de todas as invenções deste país de invenções.
Proprietários de vinhas ou de terras cerealíferas; artesãos que trabalham o ferro, fiam a lã, tecem os tapetes, tingem os estofos, fabricam as armas de luxo; mercadores, armadores e marinheiros — estas três classes que lutam uma contra as outras pela posse dos direitos políticos são arrastadas pelo movimente ascendente que leva o seu conflito a produzir invenções constantemente [254] renovadas. Mas são os comerciantes, apoiados pelos marinheiros, que cedo tomam o comando da corrida. São eles que. alargando as suas relações do mar do Norte ao Egito e. para ocidente, até à Itália meridional, apanham no velho mundo os conhecimentos acumulados ao acaso pelos séculos e vão fazer com eles uma construção ordenada.
A Jónia inventou pois, inventa ainda no século VII, no domínio das artes, no da economia, da política, e finalmente da ciência, invenções múltiplas que só a um olhar distraído parecem díspares.
Recordemos os poemas homéricos, que ganham a figura que deles conhecemos na época do nascimento da classe "burguesa". Nem a Ilíada, nem a Odisseia são escritas por nobres, nem mesmo ao serviço ou intenção da classe dos senhores. Sinais evidentes nos advertem de que estes poemas são compostos e redigidos pela classe ascendente dos "homens novos", que, para consolidar conquistas políticas, começa por se apropriar da cultura da classe que está em vias de desapossar. As virtudes dos heróis são doravante celebradas pelo povo, postas à disposição do entusiasmo criador do povo livre das cidades.
Com Arquíloco, bastardo de um nobre, filho de uma escrava, a vitória da classe desprezada é mais aberta e proclama-se. Arquíloco inventa a poesia lírica — militar, amorosa e sobretudo satírica —, inventa-a com as aventuras da sua própria vida, como uma arma de combate, espada e escudo da sua condição de soldado-cidadão, empenhado no serviço da cidade que seu pai funda e que ele defende.
A sua volta, o lirismo floresce de súbito, com abundância, revestindo-se das formas mais inesperadas, mas sempre frescas na sua singularidade. Calino de Éfeso lança à juventude apática da sua cidade ameaçada o apelo dos seus versos enérgicos:
"Até quando dormireis? Quando, mancebos, tereis um coração valente? Não corais de vos deixardes assim abandonar? Julgais-vos bem firmes na paz, e já a guerra está em todo o país... Que cada um, ao morrer, lance o seu último dardo! É glorioso marchar como um valente contra os inimigos, combatendo pela pátria, pelos filhos, pela esposa legítima... O homem que foge do combate e do estrondo das lanças verá a morte em sua casa. O povo não tem por ele nem afeição nem recordação, mas o valente é chorado por pequenos e grandes... Ele é, aos olhos dos homens, como uma fortaleza."
O herói não é já um Heitor de lenda, é o cidadão mobilizado, ou antes, é o voluntário que se alista para a defesa do território.
Contudo, mesmo ao lado, em Cólofon, Mimnermo canta os prazeres da [255] juventude e do amor: as suas elegias falam com melancolia da fuga dos dias e da triste aproximação da velhice, prefiguração carnal da morte:
"Que vida, que prazeres sem a loura Afrodite? Ah!, que eu morra quando estas coisas não me tocarem mais: secretos amores, presentes de mel, leito amoroso, únicas e deslumbrantes flores da juventude... Quando, dolorosa, vem a velhice, confundindo fealdade e beleza, não restam ao homem mais que penosos cuidados, que lhe roem o coração. Aos raios do Sol, ele não tem mais alegria. É odioso às crianças, desdenhado pelas mulheres. Ah!, quão miserável Deus fez a velhice."
Lirismo elegíaco, no sentido moderno da palavra... E outros poetas mais.
Foi da Jónia igualmente que vieram para a Acrópole de Atenas essas fascinantes raparigas coloridas que encontrámos mais acima, cujo sorriso é ao mesmo tempo sedução e pudor.
E é na Jônia que a severa macicez do templo dórico, com as suas colunas atarracadas que parecem capazes de suportar o céu, com os seus capitéis às arestas cortantes como lâminas, com essa solidez de tronco de árvore inchado de seiva que parece um desafio lançado pela pedra inerte à carne viva e homem — toda essa altiva macicez dórica de súbito se torna elegância, graça, acolhimento e sorriso. A delgadeza alongada da coluna jônica parece um corpo de adolescente que cresce.
Ergue o seu capitel como uma flor delicada cujas pétalas são as volutas duas vezes enroladas sobre si mesmas em espirais, ao mesmo tempo suaves e firmes, vivas como mãos humanas.
Dito o que, não esqueçamos, entre as invenções jônias, nem o dinheiro, nem a banca, nem as letras de câmbio.
Tudo isto invenções ou criações rejuvenescidas pelo emprego novo que lhes dava este povo sempre em mudança, ávido de descobrir e de possuir a vida na sua cintilante complexidade. A profusão do génio jônio atordoa-nos. Finalmente, de todas estas invenções, a mais prodigiosa, a mais fecunda e a mais duradora — duradora até nós, até aos nossos mais longínquos descendentes, a invenção da ciência.
À primeira vista, parece haver pouca relação entre a poesia de Arquíloco, as Corai jónias, e o pensamento de homens como Tales e os seus discípulos. No entanto, estas invenções são todas elas produto de uma mesma atmosfera social, atmosfera de liberdade intelectual,conquistada à custa de uma dura luta. Liberdade que não é apenas uma liberdade de pensar, mas uma liberdade de agir. As cidades da Jônia ganharam-na e defendem-na todos os dias pela ação. Liberdade de recusar o mundo, liberdade de o percorrer, de explicá-lo [256] sobretudo, de modificá-lo. Aplicadas a domínios diferentes, a ação de Arquiloco e a de Tales não são de natureza diferente. Um e outro descobrem a sua liberdade numa ação prática. Um e outro pretendem arrancar à duração da existência bens positivos. O espírito da sua classe social e da sua investigação é materialista. Eles não negam os deuses. (Talvez Deus não seja outra coisa que esta matéria eterna que os cinje por todos os lados). Mas não se referem constantemente aos deuses, porque não os satisfaz explicar o desconhecido por outro desconhecido. Querem conhecer o mundo e o lugar do homem no mundo. "Aprende a conhecer o ritmo da vida humana", diz o velho Arquíloco, antecipando a linguagem que será da ciência e da filosofia.
Tales ocupava-se de coisas muito simples. Propõe-se um objetivo prático. Os seus concidadãos chamaram-lhe sábio, um dos Sete Sábios. Mas de que modesta e ousada sabedoria? Entre as fórmulas lapidares que se lhe atribuem em propriedade exclusiva, a mais característica do seu génio é, sem dúvida: "Ignorância, pesado carrego." Desejoso de conhecer o mundo em que vivemos, ocupa-se primeiramente do que se passa entre o céu e a terra, aquilo a que os Gregos chamam meteoros (fenómenos aéreos). É que Tales vive numa cidade de comerciantes gregos. Obedece na sua investigação a razões de utilidade: quer que os navios tragam ao porto a sua carga e para tanto quer saber porque cai a chuva, o que são os ventos, quais são os astros que servirão de guia, quais são os mais móveis e quais os mais fixos.
Assim, é a prática a origem da ciência, e não outra. O seu objetivo é, como foi dito, "que funcione". A ciência nasce do contato com as coisas, depende do testemunho dos sentidos. Mesmo que lhe aconteça afastar-se da evidência sensível, a ela tem de voltar. Essa é a condição primeira do seu desenvolvimento. Requer a lógica e a elaboração dE uma teoria, mas a sua lógica mais estrita e a sua teoria muitas vezes audaciosa devem ser postas à prova pela prática. A ciência prática é o fundamento necessário da ciência especulativa.
Tales tem iniciativa. Nos séculos precedentes, por duas vezes Mileto se lançou nos caminhos do mar à procura dos metais e das terras de trigo. Fundou noventa colônias e feitorias. Tales é grande viajante. Percorreu o Egito, a Ásia Anterior, a Caldeia, recolhendo nesses países os vestígios de velhos conhecimentos, nomeadamente numerosos fatos respeitantes ao céu e à terra, e propôs-se reuni-los segundo um modo original. [257]
Durante o tempo das suas viagens, foi engenheiro militar ao serviço de Creso, resolveu problemas práticos. Mas é igualmente um espírito ousadamente especulativo.
Tales deve muitos fatos quer à observação dos Egípcios e dos Caldeus, quer à prática do seu ofício. Desta coleção de fatos fará qualquer coisa de novo.
Na Jônia, essa Babel da Grécia, encontram-se muitas correntes de pensamento, muitas buscas de interesses. Tales vive neste ponto de múltiplas convergências. Os seus concidadãos e ele repõem o problema de viver em um mundo desconhecido, que é preciso conhecer para nele viver. Formulam novas questões. Tales põe estas questões segundo um método que lhe é próprio e numa linguagem ainda não habitual nestas matérias. Na mesma linguagem com que os mercadores tratam dos seus negócios. Tales é comerciante e engenheiro. Se se ocupa de meteoros, não é, em todo o caso, para contar a si mesmo estórias, mas para dar aos fenómenos razões — compreender como as coisas se passam com os elementos que conhece, com o ar, a terra, a água e o fogo.
A ciência racional que está em vias de nascer e a direção demonstrativa que vai tornar toda a ciência helênica parecem o resultado de uma multidão de atos e de gestos que estes marinheiros observadores fizeram para dirigir os seus barcos, notando, a cada movimento dos braços, que este movimento era seguido de um efeito e procurando estabelecer a ligação rigorosa da causa com o efeito produzido, sem deixar ao acaso a sua parte.
É certo que os resultados que Tales obtém nas suas investigações são medíocres, problemáticos e muitas vezes errôneos. Mas a maneira de observar o mundo, a maneira de refletir de Tales são as de um verdadeiro sábio. Não talvez no sentido moderno da palavra sábio, em que o sábio pratica uma ciência estreitamente ligada à experiência. Mas no sentido mais simples em que ele pratica uma ciência toda de observação, e dá conta do que observa sem usar de mitos e com a maior exatidão possível. Sobre estas observações, constrói hipóteses que lhe parecem plausíveis. Constrói uma teoria que, com o tempo, será submetida à experiência.
Em vez de considerar os astros como deuses — que o eram antes dele, que o continuarão a ser muito depois dele, para Platão e outros — Tales é o primeiro a considerá-los como objetos naturais. São, para ele, objetos de natureza terrosa ou inflamada. Tales foi o primeiro a dizer que o Sol se eclipsa quando a Lua, que é de natureza terrosa, se coloca em linha reta entre a Terra [258] e ele. Terá ele verdadeiramente predito um eclipse do Sol, o de 610, ou de 585, ou outro, como o certifica a tradição grega? Talvez tenha indicado o ano de um eclipse provável, fundando-se nos cálculos dos Babilônios. O seu conhecimento da astronomia não lhe permitia ser mais exato.
Muito mais importante que os resultados, é o método da sua investigação. Nem quando se ocupa dos astros, nem quando se ocupa da água, Tales — repetimos — faz intervir deuses ou mitos. Fala deles como de coisas puramente físicas e materiais. Quando o químico moderno põe a questão: De onde vem a água?, responde: De uma combinação de hidrogénio e de oxigénio. A resposta de Tales não pode ser idêntica. A ignorância pesa sobre ele como um "pesado carrego": tem disso consciência e afirmou-o. No entanto, quando põe a questão da origem da água, não responde por um mito. mas de maneira objetiva, isto é, procurando formular uma lei da natureza, que responde à realidade da natureza e que possa um dia ser verificada pela experiência.
Este pensamento, de uma forma tão nova, é por vezes muito audacioso nos seus empreendimentos: pode parecer ingênuo à força de audácia. Tales e os primeiros sábios jônios procuram descobrir de que matéria é feito o mundo. Parece-lhe que deve haver nele um elemento — um elemento material — de que os outros se engendram por um processo, não mítico, como nas velhas cosmogonias, mas físico. Para Tales, é a água que é primitiva, e a partir desta água primordial nasceram a terra que é como que o resíduo dela, e também o ar e o fogo que são vapores, exalações da água. Tudo nasce da água e tudo volta à água.
É provável que as técnicas do fogo tenham sugerido a estes sábios a ideia de uma transformação de um elemento em outro, que toma uma outra aparência permanecendo idêntico. Observaram os efeitos diversos produzidos pela ação do fogo. O fogo muda a água em vapor. Transforma tal ou tal matéria em cinza. Liquidifica na técnica da fundição. Separa e purifica na metalurgia. Inversamente, une na liga e na soldadura. Assim o homem, observando as suas próprias técnicas, chega à noção de uma transformação dos elementos ou da sua aparência. Mas esta observação não decorre sem sofrimento. O fogo não é apenas um grande educador, é também um déspota sem piedade, que exige sangue, suor e lágrimas. "Eu vi o ferreiro a trabalhar na bocarra da fornalha", escreve um poeta satírico egípcio; "os seus dedos são como a pele do crocodilo; cheira mal como a leituga do peixe." Uma tal observação, implicando a sua parte de infortúnio, implica também, na formação da teoria, a sua parte de erro. [259]
Simples fatos naturais, aliás, puderam também sugerir a Tales a sua ideia da água origem dos outros elementos. O fato de que a água depõe nateiro (nas inundações do Nilo e na formação do delta, por exemplo) ou ainda a formação das brumas que nascem do mar ou talvez o aparecimento dos fogos-fátuos que flutuam sobre os pântanos — tudo isto desperta a atenção do sábio. A coisa importante está em ter-se posto o sábio a observar a natureza ou as técnicas humanas, libertando-se de qualquer explicação sobrenatural. Nesta observação e na verificação das suas observações, por exemplo, na técnica tão importante da fundição das estátuas de bronze, o sábio dá os primeiros passos naquilo que merecerá, muito mais tarde, o nome de método experimental. Por enquanto ainda não é mais que um balbuciamento, mas é também o início de uma nova linguagem.
Por essa mesma altura, os mesmos sábios da Jônia e nomeadamente o mesmo Tales fizeram a descoberta de um outro método científico, que os homens dominaram desde o princípio melhor que nenhum outro. É o método matemático, sob a sua forma geométrica.
Os vasos de Dípilo (século VIII) manifestam já a paixão dos Gregos pelo estilo desnudado da geometria. As personagens — homens e cavalos — que se introduzem nesta decoração linear são eles próprios geometria: ângulos e segmentos de círculos reunidos!
Mas os Gregos, com a imaginção já toda invadida de figuras geométricas, inventam, como sempre, esta ciência a partir de técnicas precisas. Os Orientais. Assírios e Egípcios, tinham constituído um primeiro estado do que devia ser a ciência matemática.
Os Egípcios, por exemplo, para encontrarem as dimensões dos seus campos após a inundação do Nilo, que lhes apagava os limites sob uma camada de lodo, conheciam certos processos de agrimensura que podiam iniciar a descoberta de tais ou tais teoremas de geometria. Assim, eles sabiam que, para um triângulo retângulo cujos lados do ângulo reto se medem por 3 e 4 e cuja hipotenusa se mede por 5, os quadrados que se constroem sobre os lados 3 e 4 do ângulo reto têm juntos a mesma superfície que o quadrado contruído sobre a hipotenusa. Sabiam-no, mediam-no no solo, porque sabiam que 3x3, ou seja 9, mais 4x4, ou seja 16, é a mesma coisa que 5x5, ou seja 25. Mas não sabiam que esta proposição é verdadeira para não importa que triângulo retângulo, e eram incapazes de o demonstrar. A sua geometria não era ainda uma ciência propriamente dita. [260]
Durante séculos, aquilo que viria a ser método matemático, não foi mais que uma coleção de regras. Estas regras eram já muito complicadas por vezes e permitiam, por exemplo, em certos casos, predizer a posição dos astros. Contudo, este conjunto de regras não constituía uma ciência. Não estavam ligadas entre si, não valiam senão para casos particulares e ninguém procurava demonstrar que elas derivavam de alguns princípios simples que se impunham ao espírito pela experiência. Por exemplo: "A linha reta é o mais curto caminho de um ponto a outro." Ninguém demonstrava que estas regras são leis da natureza e são necessariamente o que são.
Os Gregos tiveram necessidade de desenvolver a sua geometria por duas razões principais: a navegação (e sem dúvida a construção dos barcos, que tinham deixado de ser, nessa época, pirogas ou barcas primitivas) e a construção dos templos.
Tales, diz-se, fez um dia uma descoberta geométrica que parece justamente estar em relação com a construção dos tambores das colunas dos templos. Fez ver não apenas que um ângulo inscrito num semicírculo é um ângulo reto, mas também que, necessariamente assim tem de ser, quer dizer, que se se unirem as extremidades de uma semicircunferência a um qualquer dos seus pontos, essas duas linhas fazem sempre um ângulo reto.
Do mesmo modo, Pitágoras (ou a sua escola, ou um outro, mas em uma data antiga) mostra que o quadrado construído sobre a hipotenusa do triângulo retângulo, quaisquer que sejam as dimensões do triângulo, é forçosamente igual à soma dos quadrados construídos sobre os outros lados. Assim, os casos particulares dos Orientais tornavam-se propriedades universais das figuras geométricas. Os Gregos criaram, pois. uma ciência geométrica que é a nossa, na qual as propriedades das retas, dos círculos e de algumas outras curvas podiam ser demonstradas pelo raciocínio e verificadas pelas aplicações da técnica. (E eu penso sobretudo na arquitetura, que eles levaram, por essa via, a um raro grau de solidez e de beleza.)
Os Gregos edificavam desta maneira uma ciência geométrica em ligação com a arte da construção e com a navegação. Toda a tradição relativa a Tales lhe atribui o conhecimento concreto da distância, a partir de um ponto alto na margem, de um navio em pleno mar. A mesma tradição lhe atribui os conhecimentos geométricos, desta vez abstractos e racionais, das propriedades das figuras cuja construção permite medir essa distância. [261]
Esta ciência é obra de uma classe de mercadores que querem barcos para navegar longe e templos para ilustrar a glória da sua cidade, ao mesmo tempo e tanto como aos deuses.
A ciência que assenta nestas condições é nitidamente um humanismo. Os homens podem, graças a ela, ler na desordem aparente da natureza leis rigorosas que nesta estão presentes. Podem-no e querem-no, a fim de utilizar essas leis. A ciência que nasce é pois, no seu princípio e na sua intenção, utilitária. Os homens apoderam-se dela como de uma ferramenta.
A grandeza de Tales não consiste essencialmente em ter sido o primeiro dos "filósofos". (Sim, se assim se quiser, mas o limite entre a ciência e a filosofia é ainda muito flutuante nessa época!) É antes de mais um "físico", por de mais ligado à natureza à "physis", para acrescentar seja o que for à natureza, para nada procurar além dela — para ser metafísico. Pensa em termos de matéria: é um materialista. É certo que os pensadores gregos não distinguiram ou separaram ainda a matéria e o espírito. Mas a matéria é tão preciosa para Tales e para a sua escola que a confundem com a vida. Para eles, toda a matéria é viva. Digamos pois que estes sábios não são "materialistas" no sentido moderno da palavra, uma vez que a diferença entre o material e o não-material não existia para eles. Mas é significativo que Aristóteles, um idealista, os tenha apresentado como materialistas. Foram realmente materialistas primitivos. Mais tarde, os Gregos chamavam a estes velhos jônios hilozoístas, isto é, aqueles-que-pensam-que-a-matéria-é-viva, ou aqueles que pensam que a vida — a alma — veio da matéria ao mundo, é inerente à matéria, é o próprio comportamento da matéria.
Estes pensadores falam pois do universo e esquecem os deuses. Muito perto deles — no tempo e no espaço — explicava-se a criação do mundo pela união do Urano (o Céu) e de Geya (a Terra). Tudo quanto se seguira, gerações dos deuses e dos homens, era mitos e mitologia, era "demasiado humano". Para Tales, o céu é esse espaço a três dimensões no qual faz avançar os barcos e ergue as colunas dos templos da cidade. A terra é esse barro primitivo que a água depõe, que a água sustém, que retorna à água...
Esta explicação terrosa e líquida (a terra separada das águas) parece ter sido retirada de qualquer coneo sumério: parece uma história de criação ou de dilúvio. Todos os países eram mares, dizem as cosmologias babilônias. Marduk, o Criador, pousou sobre as águas um tapete de juncos, que cobriu de lama. Também Tales declarou que na origem tudo tinha sido água, mas eles [262] pensavam que a terra e todos os seres se tinham formado a partir da água, por um processo natural. Talvez, com efeito, Tales deva a sua hipótese a uma primitiva mitologia oriental, aquela que se reflete também no Génese. Mas o mito decantou-se ao tornar-se grego. Que aconteceu ao Espírito de Deus que flutuava sobre as águas no mundo incriado do primeiro capítulo da Bíblia? Que aconteceu a Marduk? Que aconteceu ao Criador? Que aconteceu à voz de Deus que falava a Noé na narração do dilúvio? Tudo isto se dissipou como um sonho metafísico. O Criador perdeu-se no caminho.
O caráter racional e também o caráter universal das proposições de Tales fazem dele o segundo fundador da ciência, se desta vez entendermos por ciência um conjunto de proposições ligadas entre si por laços lógicos e que constituem leis válidas em todo o tempo. Aristóteles dirá mais tarde: "Não há ciência senão do geral." Definição mais limitada que a mencionada antes, mas que permite situar melhor Tales na história dos conhecimentos humanos.
Com Tales interrompe-se por um tempo a cadeia dos mitos. Uma história nova começa: a história dos homens que inventam a ciência, que inventam a ciência concebida na sua universalidade, sob o seu aspecto rigoroso e racional.
Indicaremos, finalmente, a opinião que certos modernos atribuem a Tales, segundo a qual a natureza seria ao mesmo tempo inteligente e inconsciente. Vê-se o partido que a medicina hipocrática, no século seguinte, iria tirar de uma tal reflexão. Observando a ligação, a estreita analogia do organismo humano e da natureza tomada no seu conjunto, a medicina verifica com efeito que o organismo humano deve necessariamente melhor fazer as coisas sem as ter aprendido e permanecendo inconsciente delas. É o que a medicina observa na cicatrização das feridas, na formação do calo ósseo, nos fenômenos de reação salutar que não provêm da arte, mas da obra automática da natureza.
Assim a ciência médica, por seu turno, poderia derivar em parte de Tales.
A investigação de Tales não era uma pesquisa isolada. A ciência só progride pela colaboração dos pesquisadores. A estes pesquisadores, a quem Tales dá o impulso, chamam-lhes, como a ele, físicos. Observam a natureza com um espírito positivo e prático. Prontamente as suas observações recorrem à experiência. Citemos, sem maior demora, alguns nomes.
Anaximandro. de uma geração um pouco mais jovem que Tales, é, por certa faceta do seu espírito, um técnico minucioso: traça as primeiras cartas geográficas: é o primeiro a utilizar o gnómon, inventado pelos Babilônios, para [263] dele fazer um quadrante solar. Sabe-se que o gnómon é uma haste de ferro que, plantada verticalmente no chão num local liso, pode indicar, pelas variações da sombra, o meio-dia exato, os solstícios e os equinócios, assim como as horas e as datas intermédias. Anaximandro fez dele um polos, que foi o primeiro relógio.
Xenófanes, exilado da Jônia quando da conquista deste país pelos Persas, instalou-se na Itália. É um poeta ambulante que, nas praças públicas, declama o seu poema intitulado Da Natureza, no qual critica a mitologia tradicional e troça da concepção antropomórfica do divino. Escreve esta frase extraordinária: "Se os bois, os cavalos e os leões tivessem mãos e pudessem pintar quadros e esculpir estátuas, representariam os deuses sob a forma de bois, de cavalos e de leões, à maneira dos homens que os representam à sua própria imagem." Este Xenófanes era um sábio de curiosidade aberta aos horizontes mais diversos, ela levou-o a descobertas de grande alcance, como reconhecer a presença de conchas nas montanhas, a marca de peixes sobre pedras em Malta, em Paros, nas pedreiras de Siracusa.
No século V, sábios como Anaxágoras e Empédocles parecem ter ido mais longe ainda neste caminho. O primeiro interessou-se por toda a espécie de fenômenos de astronomia e de biologia, notou a existência de parélios — esses estranhos fenômenos luminosos — no mar Negro e tentou explicar o fato: ocupou-se da causa das cheias do Nilo. O segundo foi recentemente chamado um "verdadeiro precursor de Bacon": imaginou experiências originais para dar conta, por analogia, de vários fenômenos naturais, ou que julgavam assim. Estas tentativas, que revelam muito engenho, manifestam o nascimento da experimentação científica.
Todos estes esforços dos sucessores de Tales, aliás mal conhecidos por nós, por falta de textos suficientes, ajudaram, no domínio físico, às duas grandes descobertas do século V. Uma é o conhecimento preciso do movimento anual do Sol sobre a esfera celeste, segundo um plano que é oblíquo em relação àquele em que o Sol cumpre, ou parece cumprir, o seu movimento em um dia. A segunda é a determinação do valor matemático dos intervalos musicais, que era já familiar a um sábio do final do século V.
Eis, muito sumariamente indicado, o balanço científico dos sucessores imediatos de Tales. [264]
É este genial Tales que a tradição popular entrega aos sarcasmos dos transeuntes e das servas quando, ocupado todas as noites a decifrar os astros, lhe acontece, por pouca sorte, cair num poço. Esta maliciosa narrativa encontra-se em Esopo, encontra-se em Platão. Montaigne declara: "Grato fico a essa moça de Mileto que, vendo o filósofo Tales distrair-se continuamente na contemplação da abóbada celeste... lhe pôs no caminho qualquer coisa onde ele tropeçou, para o advertir de que seria tempo de distrair o pensamento nas coisas que estavam nas nuvens quando tivesse provido àquelas que estavam a seus pés."
La Fontaine, por sua vez, adverte-o:
Pauvre bête,
Tandis qu à peine à tes pieds tu peux voir, Penses-tu lire au-dessus de ta tête?
Pobre e glorioso Tales! Que homem mais do que tu teve os pés na terra?
A ciência, difícil conquista dos homens: desafio ao bom senso, objeto de irrisão do bom senso.
*
O pensamento jônio e a escola de Tales tinham-se orientado para uma concepção dinâmica do mundo, centrada sobre elementos materiais em contínua e mútua transformação.
Este materialismo dos Jônios procede de uma intuição justa mas ingênua da natureza concebida como uma massa de matéria eterna infinita, em perpétuo movimento e mudança.
Esta intuição (e na época só de intuição se pode tratar e não de conhecimento científico demonstrado) é retomada e precisada, sempre intuitivamente, por Demócrito, no século V antes da nossa era. O materialismo de Demócrito ganha uma força maior, irresistível na história, em ter sido, no século que o separa de Tales, contestado pela escola de Parménides, para quem nada existe fora da estabilidade e da ausência do movimento, e por Heraclito, para quem tudo muda e se escoa. É ao responder a Parménides e a Heraclito, é ao [265] ultrapassar ao mesmo tempo a estabilidade e a mudança, que Demócrito encontra a resposta e desenvolve o seu sistema da natureza. Deixemos os pormenores destes debates e tentemos expor este sistema de Demócrito.
Difícil, aliás, muito difícil. Os textos de Demócrito são incrivelmente raros. A obra de Demócrito era extremamente vasta e alargava-se a todos os domínios do saber humano. Dele não nos resta hoje uma só obra completa, ao passo que da obra de Platão, não menos vasta mas também não mais, tudo conservámos sem que uma obra falte à chamada, e mesmo um pouco mais que tudo, pois algumas obras bastardas se misturaram ao grupo das obras autênticas.
É difícil ver um simples acaso nesta diferença de tratamento feita pela tradição às obras de Demócrito e às de Platão. Não vamos crer cegamente no que os antigos nos contam a este respeito. Mexericam eles que Platão não escondia o seu desejo de lançar ao fogo toda a obra de Demócrito, se pudesse. Digamos que aqueles que assim falam atribuem a Platão uma intenção que não passou de um voto secreto, e não nos adiantemos a ler nos corações. Espantoso é que este voto, exprimido ou não, foi realizado pelos séculos. Desde o século III da nossa era, os rastos da obra de Demócrito tornam-se para nós difíceis de distinguir. Mais tarde, pode-se supor que as perseguições de que os manuscritos antigos são objeto por parte da igreja cristã — perseguições que duraram três séculos: VI, VII e VIII — foram particularmente rigorosas para com um escritor já denunciado como o pai do materialismo. As mesmas perseguições da Igreja terão sido, pelo contrário, muito indulgentes para com o fundador da escola idealista a que esta Igreja ia buscar toda uma parte da sua teologia.
O resultado está à vista. De Demócrito apenas temos citações insignificantes, por vezes obscuras, e que, em certos casos, podemos mesmo considerar falsificadas. Só pelos seus adversários ouvimos falar deste grande filósofo, e, por sorte, por Aristóteles e Teofrasto, sem dúvida mais inclinados, na sua qualidade de naturalistas, a dar atenção ao mundo da matéria.
Demócrito nasceu por alturas de 460 em Abdera, colónia grega na costa da Trácia, o que permite a Cícero a graça de declarar que o que Demócrito diz dos deuses é mais digno da sua pátria (Abdera é, para os antigos, a capital do reino da Estupidez) que dele próprio.
Foi em Abdera que ele seguiu o ensino de Leucipo, o pai quase desconhecido (e desta vez, praticamente despojado de qualquer texto) do materialismo sensualista que Demócrito desenvolveu. [266]
Como todos os grandes pensadores gregos, Demócrito foi um grande viajante. Não encolhamos os ombros se nos contarem que ele conversou nas índias com os gimnosofistas: estes testemunhos extravagantes da sabedoria oriental sempre intrigaram muito os Gregos. No Egito com os sacerdotes, e que ainda por cima visitou a Etiópia. Platão não fez menos. A sabedoria grega — exceptuando Sócrates, que disso se gaba — sempre correu muito o mundo e muito tirou dessas vagabundagens. O saber enciclopédico de Demócrito recolheu no Egito receitas empíricas de química, conhecimentos verdadeiros ou falsos mas abundantes de história natural e, dos Caldeus, ou ainda dos Egípcios, uma massa de noções elementares de matemática e de astronomia.
As informações que nos dão sobre estas viagens podem ser falsas. Mas é impossível tocar na maior parte dos fragmentos conservados do filósofo sem ser impressionado pela extrema abertura das suas opiniões sobre o mundo e o futuro da humanidade. Um ar vivo e picante — esse ar que sopra nas alturas, ao amanhecer, gelado na pele, exaltante no coração — atravessa a obra de Demócrito como a dos outros pensadores malditos, Epicuro e Lucrécio. Em verdade, estes materialistas trespassam-nos a alma da maneira mais acerada. A sua ferida é fecunda.
Demócrito, como dizem os antigos, tinha "escrito sobre tudo". Se não temos as suas obras, temos uma lista dos títulos das suas obras: ela confirma esta asserção. Demócrito tinha escrito sobre as matemáticas (tratados notáveis, segundo o testemunho de Arquimedes, que dá exemplos das descobertas matemáticas de Demócrito). Tinha escrito sobre a biologia, de que falava como sábio que praticara a dissecação, fato por assim dizer único na época. Tinha escrito sobre a física e sobre a moral, sobre a filologia, a história literária e a música. Tinha sobretudo formulado o seu sistema da natureza.
Chegou a uma idade muito avançada, ultrapassou os noventa anos, atingiu mesmo, segundo os amadores de recordes, a centena. Estes números fazem-no viver até ao segundo quartel do século IV.
Demócrito lançou no mundo a grande palavra átomo. Lança-a a título de hipótese. Mas porque esta hipótese respondia melhor que nenhuma outra aos problemas levantados pelos seus predecessores e pela sua época, a palavra que ele lança está destinada a atravessar os séculos. A ciência moderna retomou-a e se a emprega num sentido menos estrito, se está em condições de revelar a estrutura interna do átomo, nem por isso deriva menos dessa intuição espontânea de Demócrito: a existência dos átomos.
Um sábio moderno, o físico J. C. Feinberg, mostra o paralelismo impressionante entre as previsões atômicas, se assim se pode falar, de Demócrito e as de Einstein. Escreve ele a este respeito:
"Einstein, em 1905, apenas com papel, um lápis e o seu cérebro, muitos anos antes que alguém conseguisse desintegrar um átomo e destruir a matéria, predizia que a matéria podia ser destruída e que, quando o fosse, libertaria terríveis quantidades de energia. Demócrito, no século V antes da nossa era, apenas com uma tabuinha de cera, um estilete e o seu cérebro, muito antes que a ciência tivesse aprendido a explorar o interior de uma substância, predizia que toda a substância era feita de átomos."
Demócrito não admite no seu sistema senão duas realidades primordiais, os átomos, por um lado, o vazio, por outro lado. Notemos, a propósito do vazio, que esta hipótese de existência do vazio na natureza está hoje inteiramente demonstrada. Durante muito tempo os filósofos, como os sábios, declararam de maneira peremptória: "A natureza tem horror ao vazio." Na verdade, eles atribuíam à natureza um horror que lhes era próprio. Hoje admite-se e demonstra-se que o vazio existe no interior do átomo, como existe entre os átomos. O professor Joliot-Curie escreve: "Há grandes espaços vazios na matéria. Em relação às dimensões das partículas que constituem a matéria, estes vazios são comparáveis aos espaços interplanetários."
Os átomos são definidos por Demócrito: corpúsculos sólidos, indivisíveis (o seu nome significa insecáveis: Demócrito contestava a possibilidade da fissão do átomo), indissolúveis. São em número infinito e eternos. Movem-se no vazio. Este movimento não é exterior a eles. O movimento coexiste com a matéria: com ela, é primordial.
Os átomos não têm outras qualidades que uma certa forma, diferente de um para outro, e um peso ligado à sua dimensão.
As qualidades que nós percebemos nas coisas por meio dos sentidos são puramente subjetivas para Demócrito e não existem nos átomos. Demócrito teve o mérito de tentar fundar uma ciência da natureza a partir da noção de quantidade, para daqui deduzir em seguida as qualidades sensíveis.
Os átomos são pois como pontos, não matemáticos mas materiais, de pequenez extrema, que escapam completamente à nossa percepção sensível. Ainda hoje a ela escapam, na sua estrutura, contudo decomposta e utilizada pelos sábios. [268]
Estes átomos agitam-se, "chocam-se em todos os sentidos", sem que haja no universo nem alto, nem baixo, nem meio, nem fim. Há nesta afirmação de Demócrito um dos indícios mais nítidos da justeza da sua intuição espontânea. A natureza, para ele, é um "salpicamento de átomos em todos os sentidos". As trajectórias destes não podem deixar de "se cruzarem", de modo que se produzem "afloramentos, sacudidelas, ressaltos, golpes e entrechoques e também entrelaçamentos". Finalmente, "formações de amontoados".
Tal é o ponto de partida do "sistema da natureza" de Demócrito, um materialismo ao mesmo tempo ingénuo e decidido, uma doutrina com a qual o autor faz um imenso esforço para explicar o mundo da maneira mais objetiva, sem nenhuma intervenção divina. A doutrina de Demócrito é, na verdade, na sequência dos velhos materialistas jônios, a primeira verdadeiramente ateia da antiguidade grega.
Assim se constituiu o mundo em que vivemos. Um grande número de átomos formou uma massa esférica na qual os átomos mais pesados ocupam o centro da esfera, ao passo que os mais sutis são repelidos para as alturas desta. Os átomos mais pesados formaram a massa terrosa, mas nesta massa terrosa átomos menos pesados constituíram as águas que permanecem alojadas nos côncavos da superfície terrestre. Outros átomos mais leves ainda formaram a atmosfera que respiramos.
Acrescentemos que o mundo em que vivemos, a Terra, não é senão um dos mundos que, segundo Demócrito, se formou na extensão sem limites dos espaços. Existem outros mundos em número infinito, que podem ter o seu sol, os seus planetas e as suas estrelas, que podem estar em formação ou em vias de desaparecimento.
Uma tal explicação do mundo não implica nenhuma ideia de criação, nenhuma intervenção sobrenatural no nascimento e na conservação do mundo. Apenas existem matéria e movimento.
Também não estamos, com Demócrito, em uma doutrina mecanicista, embora certos modernos o afirmem. É levianamente que lhe atribuem concepções mecanicistas próximas das dos filósofos dos séculos XVII e XVIII. Em primeiro lugar, acontece a Demócrito utilizar explicações que de modo algum são mecanicistas, como o princípio da ingênua atração do semelhante pelo semelhante. Em segundo lugar, os conhecimentos mecânicos estão, no seu tempo, em estado embrionário e não podem fornecer à sua concepção do mundo um fundamento científico. O materialismo de Demócrito é um materialismo de [269] intuição, uma hipótese de físico, de modo algum um materialismo metafísico. Ele lançou o seu sistema da natureza para defender a sua tese da realidade objetiva do mundo circundante e da indestrutibilidade da matéria contra os filósofos do tempo que, ou contestavam que o movimento fosse compatível com a existência, ou, como os sofistas, mergulhavam nas contradições do relativismo.
A hipótese atômica de Demócrito provou ser justa. Mas está fora de questão fundar esta hipótese cientificamente. De um certo ângulo, o materialismo de Demócrito, insuficientemente fundado pela ciência da época, privado dos instrumentos de observação de que se servem os sábios modernos, incrivelmente pobre de fatos objetivamente estabelecidos, é ele próprio insuficiente para cumprir a tarefa que se impusera: explicar o mundo.
No entanto, Engels, que faz uma reflexão deste gênero, acrescenta isto: "É também nisso que reside a sua superioridade (a da filosofia grega) sobre todos os adversários metafísicos posteriores. Se, no pormenor, a metafísica teve razão contra os Gregos, no conjunto, os Gregos tiveram razão contra a metafísica."
Se passarmos ao aparecimento no nosso mundo da vida, vegetal e animal, dos seres humanos depois, veremos que Demócrito admite que a ciência deve procurar a explicação dele nas leis da atração e da agregação dos átomos da mesma forma. Explicação puramente material. E mais: a vida ou a alma não são em caso algum para ele uma força que se acrescentaria à matéria. A vida está eternamente presente na matéria e é da mesma natureza que ela. Consiste em átomos de fogo, que são muito sutis, redondos e lisos, e extremamente móveis. Movem assim os corpos nos quais se encontram e a vida mantém-se enquanto são em número suficiente. A atmosfera contém um grande número deles e é a respiração que sustenta a vida dos seres até ao seu termo.
Os seres vivos são pois considerados como agregados de átomos, chegados ao Estado em que os vemos após uma longa evolução. Quanto ao homem. Demócrito adiantava a hipótese de "que era um filho do acaso que nascera da água e do lodo".
Quanto à religião, deve-se insistir no fato de que, no sistema atômico, em que a natureza e o homem são explicados por princípios naturais e materiais, em que a vida depois da morte é categoricamente negada, o problema religioso está totalmente privado da substância que o alimenta. Demócrito [270] toca-o sobretudo para afirmar que a crença na existência dos deuses tem por causa o medo dos homens perante os fenômenos da natureza que eles não compreendem e particularmente perante a morte.
Contudo, em uma outra passagem, Demócrito faz uma reserva em relação aos deuses que pode parecer estranha, mas que lhe é inspirada pelo seu espírito científico aberto a todas as hipóteses. Admite que poderão existir seres formados de átomos mais sutis que os homens e que, sem serem imortais, viveriam muito e muito tempo. Mas estes seres não têm nenhum poder nem sobre as coisas nem sobre os homens. Razão por que a sua existência (hipotética) não implica nenhum dever da nossa parte. Demócrito não fala nem de oração, nem de piedade, nem de adoração, nem de sacrifício. Ele troça daqueles que imploram os deuses a saúde, ao mesmo tempo que se afundam pela intemperança e pela devassidão.
O modo como Demócrito tratou o problema religioso é uma prova evidente da sua liberdade de espírito em relação às crenças populares.
A maneira como Demócrito explicava como o homem toma conhecimento do mundo exterior é também muito interessante de salientar, tanto mais que deu lugar a interpretações diversas.
O homem conhece o mundo pelos sentidos e de maneira toda material. As sensações auditivas, por exemplo, são devidas a correntes de átomos que se propagam do objeto sonoro aos nossos ouvidos. Estas correntes põem em movimento as partículas do ar que lhes são semelhantes e penetram pelas nossas orelhas no nosso organismo. Do mesmo modo, as sensações visuais são produzidas por imagens, ditas simulacros, desprendidas dos objetos exteriores e que penetram nos olhos ou antes pelos olhos no nosso cérebro.
Estas explicações são falsas e parecem-nos infantis. Contudo, o estado da física do século V e sobretudo a inexistência da anatomia e da fisiologia dos órgãos dos sentidos na Antiguidade tornavam difícil ir mais além e acertar mais justamente na hipótese. A ideia de que o conhecimento do mundo nos é dado pelos nossos sentidos e por meio de correntes (nós dizemos ondas) que dos objetos vêm impressionar os nossos órgãos sensoriais, essa é ainda a maneira como a ciência moderna e também toda uma parte da filosofia moderna se representam as coisas.
A posição tomada por Demócrito na teoria do conhecimento é um sensualismo materialista. No entanto, Demócrito esbarrava na sua explicação com [271] dificuldades, e mesmo com contradições. A consciência que ele tinha das dificuldades do conhecimento não significa, de modo algum, que deva ser alinhado entre os céticos. Não é um cético, é um espírito consciente da imensidão da tarefa do pesquisador científico. Acontece-lhe pois exprimir sentimentos de reserva e de dúvida, sentimentos que, seja qual for a época da história, todo o investigador honesto experimenta quando compara o resultado alcançado com aquilo que falta atingir. Demócrito declara em um desses momentos que a vocação do pesquisador é a mais bela e que dedicar-se alguém a dar uma explicação causal dos fenômenos naturais é mais próprio a tornar um homem feliz que a posse de um trono real.
Eis a título de exemplo uma passagem em que se vê Demócrito esbarrar com uma das contradições a que chega o seu sistema, pelo menos tal como ele o inventou no seu tempo. Esta passagem é do grande médico Galeno"
"Demócrito, depois de ter desacreditado as aparências dizendo: 'Convenção a cor, convenção o doce, convenção o amargo, na realidade não há senão átomos e vazio', dá aos sentidos a linguagem seguinte contra a razão: 'Pobre razão, depois de nos teres tirado os meios de prova, queres abater-nos! A tua vitória é a tua derrota."
O simples fato de que a contradição reconhecida resulta num diálogo e o sinal da robusta vitalidade do pensador que apenas procura uma solução, a verdade.
O sistema de Demócrito, como se vê. é notável quer pela variedade dos problemas que se esforça por resolver, quer pela solidez dos princípios sobre que assenta, como diz Robin, sobre Demócrito: "Esta solução original e coerente... teria podido, se a filosofia das ideias não tivesse prevalecido, fornecer à ciência da natureza... uma hipótese metodológica própria para organizar as suas pesquisas."
Claro que não devemos iludir-nos pelas semelhanças entre o atomismo antigo e o da ciência moderna. Em consequência dos progressos imensos realizados nas técnicas experimentais e nas matemáticas, o átomo não é já hoje essa unidade indivisível que Demócrito supunha. É um sistema formado de um certo número de corpúsculos de electricidade negativa, os electrões, que gravitam à volta de um núcleo carregado positivamente, exatamente como os planetas em volta do Sol.
É contudo (cito aqui a conclusão da obra de Solovine sobre Demócrito). em última análise, a imagem do Universo é para nós a mesma que era para
272 Demócrito: um número inconcebível de corpúsculos disseminados pelo espaço sem limites e movendo-se eternamente.
Admiremos a lucidez e a coragem do grande pensador que foi Demócrito. Ele fez — à custa da sua reputação — uma coisa imensa: deu à matéria a sua dignidade. É o mesmo que dizer que ele nos reconcilia — corpo e alma reunidos — com nós próprios. Se sabemos entendê-lo, ele assegura-nos da grandeza da nossa vocação de homem. Sem nos permitir exaltar-nos excessivamente, pois liga os homens ao lodo original de que são feitos, instala-nos contudo no ponto mais avançado de um progresso de que somos o desenlace e de futuro os artifíces.
Apesar disto ou por causa disto, Demócrito foi um dos sábios mais vilipendiados da Antiguidade. Amar e louvar a matéria, a ela reduzir a nossa alma, é ser "cúmplice de Satanás", como mais tarde se dirá.
Demócrito perdeu a sua reputação e a sua obra. "É um louco", diziam os seus concidadãos. Sempre a ler e a escrever. "A leitura perdeu-o!" Ouçamos La Fontaine resumir as palavras dos Abderianos, depois troçar da sua doutrina:
Aucun nombre, dit-il, les mondes ne limite. Peut-être même ils sont remplis
De Démocrites infinis.
Os seus patrícios tomaram o partido de pedir uma consulta a Hipócrates, o grande médico contemporâneo. A conversa dos dois homens de génio descam bou, diz-se (porque a anedota é fictícia), no diálogo da ciência e da amizade.
"Ninguém é profeta na sua terra", comenta o fabulista.
*
Porém, se, como foi dito, "o cérebro de Demócrito era feito como o de Einstein", é evidente que o nascimento da ciência que procede das suas pesquisas, das dos seus predecessores como os velhos jônios, ou dos seus sucessores como Aristarco de Samos ou Arquimedes, é um dos fatos mais salientes da civilização antiga e, pelas suas consequências longínquas, sem dúvida o mais importante.
[273]
É certo que por razões que serão expostas mais adiante, a ciência helênica não pôde progredir nem mesmo perdurar na sociedade antiga. Mas o seu desaparecimento quase total na época romana, o seu longo adormecimento durante os séculos da Idade Média, não são mais que uma aparência. Os homens não perderam a confiança em si mesmos, no seu poder de compreender o mundo com a sua razão, de o refazer melhor e mais justo.
Era essa a grande esperança da ciência grega, a sua mais certa justificação.
O Renascimento merece o seu nome. Partirá exatamente do ponto de queda da ciência antiga, e sem a esquecer. [274]

Os Gregos são escultores, tanto quanto poetas. Mas conhecê-los e prestar-lhes justiça na luta que empreendem com o mármore, com o bronze, para deles tirar a imagem do homem e da mulher — essa gloriosa forma humana que será para eles o rosto múltiplo de Deus — , eis uma tarefa difícil, por falta de documentos autênticos. Nunca se reconhecerá bastante a nossa ignorância, no limiar de todo e qualquer estudo sobre um ou outro dos aspectos da civilização grega.
Os museus de Roma, de Londres, de Paris — todos os museus de antiguidades do mundo inteiro — transbordam de um povo inúmero de estátuas que desconcerta, ao mesmo tempo, pela abundância e pela ausência. O visitante passa em revista esta turba ilustre e muda. Espera que um sinal lhe seja feito. Ao longo das salas, o seu olhar não capta nada, nem o menor indício de um estilo original, há muito tempo desaparecido. Não é apenas porque estes destroços recolhidos num museu são estátuas agora desligadas da função que lhes era própria: mostrar na cidade o deus aos seus fiéis. E ainda, e sobretudo, porque não se encontra nesta incrível assembleia mais que um amontoado de subprodutos, de cópias helenísticas e meio mortas de obras que se repetem vinte vezes para melhor se contrafazerem. Canhestras imitações das obras-primas clássicas com que os nossos manuais nos moem os ouvidos desde a infância: nada de autêntico, nada de convincente. Quando muito, uma ou outra exceção. As estátuas e os baixos-relevos da época arcaica são esculpidos pela mão ousada e inábil ainda daquele que os concebeu. Mas, para a arte da época clássica (séculos V e IV) — postos de parte as estátuas e os relevos dos frontões e dos frisos — uma só obra original de um mestre, o Hermes do singular
[229] Praxíteles, saída das mãos do seu autor. Aliás, o Hermes não nos é dado pelos antigos como uma das obras exemplares do estilo praxiteliano. Quanto às estátuas dos frontões, aos relevos do friso do Partenon, depositários da arte clássica de Fídias, a maior parte deles perdem o brilho, encerrados num museu, nos nevoeiros londrinos. Mas não foi para este céu coberto que o cinzel de Fídias talhou no mármore a forma rigorosa e nobre dos deuses do Olimpo, dos magistrados, dos cavaleiros e das mulheres de Atenas.
Tal é, muito sumariamente dito, o estado deplorável e desanimador das fontes do nosso conhecimento da estatuária antiga. Acrescentemos algo mais. que não menos contribui para nos induzir em erro. A maior parte dos mestres da plástica antiga não foram escultores de pedra, mas bronzistas. Nomeadamente, três dos maiores artistas da idade clássica: Míron e Policleto no século V, Lisipo no século IV: nenhum bronze saído das suas mãos chegou até nós. Se os grandes museus não nos apresentam, a maior parte das vezes, senão mármores e pouquíssimos bronzes, é porque os originais dos bronzistas desapareceram desde o fim da Antiguidade. Para conhecer e julgar as obras destes grandes artistas, não possuímos pois senão cópias tardias e feitas noutra matéria, que não aquela em que foram criadas. Os séculos que se seguiram à idade da civilização grega preferiram, em vez de conservar as obras-primas de bronze, refundi-las para fazer delas sinos ou soldos, e mais tarde canhões.
Estas breves reflexões eram necessárias para dizer a que ponto a nossa ignorância em matéria de arte plástica grega (e não falemos já da pintura) limita estreitamente o que dela podemos entrever. Nunca ou quase nunca tocamos em algo de original. Sempre ou quase sempre em obras de segunda mão, quando não de quarta ou quinta.
*
No entanto, ao primeiro contato, as coisas pareciam muito simples. O povo grego é filho de um solo feito todo ele de pedra. Parecia natural que os artistas gregos tivessem tirado desse solo o mais belo dos materiais de escultura, o mármore, para dele fazer as imagens duradouras dos deuses imortais.
Mas isto não se passou com essa simplicidade. Que nos mostra, com efeito, a escultura grega primitiva, do povo grego ainda primitivo? Absolutamente [230] nada. Porquê? Porque não conservamos nenhuma obra dos séculos IX ou VIII. Nessa época, os artistas não esculpiam nem o mármore, nem sequer a pedra mole. Talhavam a madeira. Para esculpir a pedra, e já para talhar a madeira, foi necessária aos Gregos uma longa aprendizagem, uma lenta educação das gerações, uma progressiva adaptação do olho à realidade que o artista se propunha reproduzir. Sobretudo uma formação da primeira ferramenta de que deve dispor o artista — uma formação da mão.
O artista grego primitivo, sem ter a ideia de que os seus sucessores acometerão a pedra, talha a madeira como um camponês. Talha as imagens ainda rudes dos deuses temíveis que adora. Dar-lhes figura humana, é exorcizá-los — reduzir o desconhecido ao conhecido — , é retirar-lhes o seu poder maléfico.
Mas ainda aqui é precisa ao artista uma formação. Esta formação é a sociedade a que ele pertence que lha dá, no quadro do ofício que escolheu. O meio social permite-lhe arriscar-se, e a sua vocação exige que se arrisque a esta operação cheia de perigos: o artista ousa, quando à sua volta se adoram a maior parte das vezes pedras brutas, feitiços, exprimir o divino e exprimi-lo através do humano: ousa dar a forma do homem e da mulher a esses deuses sobre os quais a poesia conta uma multidão de estórias muito humanas. "A mitologia", escreveu-se já, "não é apenas o arsenal da arte grega, mas o seu seio materno".
No século V, e mais tarde ainda, podia-se ver no mais antigo dos santuários de Atenas, o Erecteion, reconstruído depois do incêndio das guerras medas, um antigo ídolo de Atena, esculpido na madeira (e na noite dos tempos) e que se julgava caído do céu. A deusa, desligada da sua imagem, ali ia por vezes residir, ao apelo do seu povo. Retendo a deusa no templo, os Atenienses pensavam dispor do seu poder divino.
Todos os velhos santuários possuíam destas imagens de madeira, quase sempre "caídas do céu". Contudo, o nome com que as designavam indicava que as sabiam confusamente talhadas por mão de homem. Eram os xoana (no singular, xoanon). A etimologia da palavra mostra que as consideravam "peças trabalhadas", por oposição precisamente às pedras brutas que eram os antigos feitiços. Um historiador antigo diz dos xoana que eles tinham os olhos fechados, os braços colados aos flancos. Eram adorados ainda em alguns templos no tempo de Pausânias (século II da nossa era). Eram sagrados, conservados cuidadosamente, pintados de branco ou vermelhão, e possuíam por vezes um completo guarda-roupa. Os céticos troçavam deles, os simples veneravam-nos. [231]
A arte grega, das origens à época clássica, é na verdade um longuíssimo caminho, eriçado de obstáculos de diversa natureza. Obstáculos técnicos, sem dúvida: adaptação do olho e da mão. Mas também obstáculos com que as crenças e superstições mágicas do tempo enchem o cérebro do artista. Porque, enfim, como o disse Miguel Ângelo: "Não é com a mão que se pinta, mas com o cérebro; e quem não puder ter o cérebro livre cobre-se de vergonha." É lutando contra estes obstáculos que o artista cria a sua obra. De cada vez que ultrapassa um deles, realiza uma obra válida.
Em relação ao deus, que é sua missão representar, o artista está empenhado numa série de esforços em que se juntam o respeito do divino e a audácia do homem em enfrentá-lo — aquilo a que a tragédia grega chama o aidôs e a hybris.
Os embaraços do crescimento, se por um lado são entraves, são também incitamentos à criação capaz de os afastar.
Uma longa jornada que nós vamos tentar refazer, procurando, sobretudo com a ajuda de raras obras autênticas, determinar as direções que elas assinalam. A arte grega é profundamente realista desde as origens. Floresce em classicismo. Mas qual é o sentido destas palavras tantas vezes desnaturadas: realismo e classicismo? Este é o objeto principal das páginas que se seguem.
*
Partamos dos xoana. Para fazê-los, o artista havia tomado um tronco de árvore bem direito. Dele cortara um pedaço um pouco maior que a estatura humana. ("Os deuses são maiores que os homens".) Na rotundidade do tronco, colando os dois braços ao longo do corpo, encerrando no vestuário ou na imobilidade as duas pernas aprumadas no solo, conservando no conjunto uma simetria rigorosa, o artista apenas fizera sobressair do resto do corpo e sumariamente marcara as principais articulações da arquitetura humana. No corpo do deus masculino, o membro viril era claramente indicado. No corpo da deusa, o seio aparecia apenas acentuado sob o vestido.
Depois — segunda etapa da aprendizagem da mão, que a luta contra a matéria tornara mais ágil e mais firme — os Gregos acometeram a pedra [232] macia, o calcário. Estamos nos meados do século VI. Já a poesia épica concluiu a sua carreira gloriosa, mas não está esquecida: recita-se a Ilíada e a Odisseia nas festas das cidades. O lirismo dominou a beleza da forma poética associada ao canto. A escultura balbucia ainda. Porque a luta é aqui mais dura: corpo a corpo do olho, da mão e do pensamento com a matéria.
Eis Herade Samos (museu do Louvre), uma das primeiras estátuas da Grécia, entre as que se conservaram. Data de cerca do ano de 560. Naturalmente, esta obra não é um xoanon. Nenhum xoanon chegou até nós. Mas esta estátua reproduz, com toda a evidência, o estilo tronco de árvore. Toda ela é redonda. A base é circular, graças à túnica que o escultor fez cair até ao solo, canelada de múltiplas pregas verticais. As vestes que a envolvem fazem dela, dos pés aos ombros (a cabeça desapareceu), um tronco de árvore que mal deixa entrever a sua encarnação feminina. A base do corpo ergue-se cilíndrica, sem que alguma coisa das pernas se possa adivinhar sob o tecido. Nem a cintura nem as ancas estão indicadas. O ventre quase nada. Mais acima, o leve inchar dos seios aparece sob o vestuário. O dorso da estátua é mais trabalhado. A espinha dorsal começou a nascer para os olhos do escultor. Viu também e reproduziu a depressão lombar. As coxas e as pernas, em compensação, tanto atrás como à frente, permanecem encerradas,invisíveis e presentes, na sua bainha.
Em baixo, a longa túnica ergue-se para deixar aparecer os dois pés, os dez dedos alinhados para o adorador de Hera que sabe contar.
Esta Hera parece ainda mais um tronco que se anima e se torna mulher que a reprodução de uma criatura divina. Mas o divino não se "reproduz": é sugerido ao coração atento. Da árvore, a deusa apenas reteve a sua maneira de animar-se crescendo: a estátua sobe do solo para a vida. Nenhuma impressão de insuficiência nos toca ao contemplá-la. Ela é esplêndida como um nascimento... Apenas o crítico frio e objetivo dirá que a imperfeição da mão não acompanha ainda a exacta ousadia do olho. E tem razão.
Do século VI, as escavações deram-nos, por felicidade, um número assaz grande de estátuas originais. Os seus autores não gozaram, nos últimos séculos ca Antiguidade, da voga que levou os Alexandrinos e os Romanos a espoliar [233] ou a reproduzir, falsificando-as. tantas obras célebres da época clássica. Estas estátuas arcaicas não estão assinadas por um dos "grandes nomes" da arte estatuária. A sua obscuridade foi a nossa sorte.
No entanto, estes mestres anónimos, que designamos em geral pelo nome do local onde foi encontrado o rapaz ou a moça (o deus ou a deusa) criados pelas suas mãos, não foram, no seu tempo, menos grandes que os Fídias ou os Praxíteles. Encontraram incríveis dificuldades para a realização das suas tentativas. Venceram-nas baseando-se na longa sequência de esforços dos seus predecessores. O caráter coletivo da criação artística surge aqui claramente. Mas a estes esforços juntam eles, de cada vez, um esforço novo. no qual manifestam o seu próprio génio. As suas obras, colocadas nessa falsa perspectiva histórica que faz da arte arcaica a "preparação" da arte clássica, podem parecer ainda tímidas e canhestras. Mas, tomadas em si mesmas, e cada uma na sua originalidade própria, revelam-se singularmente ousadas, não apenas sedutoras, mas exaltantes. A parte da tradição que assimilam não as impede de exprimir com força a novidade da sua conquista. Porque esta conquista não é apenas a sua: é também a de um povo que, afeiçoando os seus deuses, sobe à mais clara consciência de si mesmo e da sua força.
A arte grega arcaica liga-se quase exclusivamente a dois tipos essenciais. Dois, e não mais. O rapaz nu (couros), a rapariga vestida (coré).
Este rapaz nu é. primeiramente, o deus na plenitude da juventude. Os arqueólogos deram o nome de Apolo à maior parte deles. Do mesmo modo se lhes poderia chamar Hermes. Ou mesmo jovens Zeus. Estas estátuas de Couroi podem ser também imagens de atletas vencedores. Não é grande a distância que vai do homem moldado em beleza pelo desporto aos habitantes do Olimpo. O Céu é feito à imagem da Terra. Que os heróis sejam chamados por Homero "semelhantes aos deuses", isso não honra apenas os heróis perfeitos, mas igualmente os deuses, em nome dos quais se celebram os grandes jogos nacionais de Olímpia, de Delfos ou de outra cidade. Não é verdade que em outro tempo se viram os deuses correr, em carne e osso. sobre a pista dos estádios. É natural que os deuses sejam concebidos à imagem dos jovens formados na beleza corporal pelos exercícios da palestra.
Neste tipo do Couros, o escultor grego aprende a anatomia. Nos ginásios, a juventude masculina anda quase nua: basta lá ir olhar. Nestes costumes encontramos uma das razões essenciais dos progressos rápidos da escultura que nasce e uma das razões do seu carácter realista. O povo inteiro, que olha uma [234] estátua de Couros, de pé, num santuário, viu na corrida pedestre o jogo dos músculos no corpo do campeão.
É certo que no século VI o escultor está ainda longe de apreender este jogo com exatidão. Limita-se a aprender, passo a passo, o ABC da musculatura. Não se atreve sequer a representar este corpo em movimento. Nem um gesto à direita ou à esquerda. Nem uma inclinação da cabeça. A anatomia é ainda rudimentar.
O rosto é caracterizado por alguns traços singulares. Os olhos são ligeiramente salientes, prestes a saltar das pálpebras pesadas. Isolado, este olhar teria qualquer coisa de bravio. Digamos antes que o olhar parece tenso pela atenção. É como conciliar estes olhos com o sorriso da boca? Que dizer, aliás deste sorriso? Sobre ele, os historiadores de arte antiga longamente disputaram. Para uns, o sorriso arcaico é uma simples inabilidade técnica. Porque, dizem eles, é mais fácil representar a boca sorrindo que em repouso. Quem acreditará neles? Para outros, este sorriso é "profiláctico": deve expulsar os maus espíritos, prevenir a desgraça. Não será muito mais simples pensar, uma vez que a estátua representa um deus, que pareceu natural mostrar em alegria esses deuses que Homero entregava ao riso "inextinguível"? O sorriso das estátuas arcaicas é o reflexo da alegria de viver eternamente, privilégio dos bem-aventurados.
Os ombros dos Couroi são tão fortes quanto é delgada a cintura: as ancas apertadas ao ponto de se mostrarem fugidias. O ventre é chato: o artista ignora-o — superfície lisa. furada pelo umbigo. Dois músculos peitorais muito salientes fazem as vezes de toda a musculatura do peito. As pregas da virilha, em contrapartida, são marcadas com decisão.
Os braços mantêm-se verticais e como que apoiados ao longo do torso. Juntam-se ao corpo, de punhos fechados, no nascimento das coxas. Reserva de energia em repouso.
Quanto às pernas, suportam igualmente, uma e outra, o peso do corpo. A estátua não anda. Contudo, uma das pernas adianta-se um pouco em relação à outra. Sempre a esquerda. Temos aqui um indício da influência da escultura egípcia na escultura grega. Na arte egípcia, é por razões rituais que a perna esquerda é posta à frente. Não parece que tais razões tenham justificado esta posição na terra grega. Este avanço de uma das pernas não determina aliás nenhuma deslocação do equilíbrio na rigorosa simetria do corpo inteiro.
Quanto mais observamos o Couros, mais nos surpreende a força [235] extraordinária de que ele dispõe. Pernas sólidas, corpo estreito que se alonga e se dilata para sustentar a barreira robusta dos ombros. Por cima dela a cabeça ri de alegria, ri da sua própria força. Força que não e destituída de sedução Certos Couroi nao se contentam de amedrontar: fazem sonhar, também Há no tratamento do modelado da sua musculatura uma doçura que predispõe a volúpia.
Força e doçura, contudo parecem mais uma promessa do que uma realidade adquirida, pois este corpo está imóvel, pois a estátua sem gesto não caminha.
A arte arcaica obedece, com efeito, a uma lei - a que os especialistas chamam lei da frontalidade — , lei que pesa sobre toda a arte egípcia, mas de que a arte grega se libertará por alturas do ano de 500.
Cortemos o corpo em duas metades, segundo um plano vertical que passe pelo alto da cabeça, pela raiz do nariz, pelo nascimento do pescoço, pelo umbigo e pelo osso do púbis..Estas duas metades do corpo constituem duas partes rigorosamente simétricas, se não contarmos a perna esquerda Lembremos outra vez: este avanço da perna esquerda não tem qualquer repercussão na musculatura do corpo. A perna esquerda dá pois o sinal da marcha mas o corpo nao a segue. A marcha destruiria a simetria das ancas, dos joelhos, dos ombros. O corpo inteiro fica como que apanhado na rede da sua imobilidade que retem o homem prisioneiro. Quer caminhar e não se mexe. Não resultara isto de uma extrema dificuldade técnica? Como fazer caminhar a pedra ou o bronze, como se de matéria viva se tratasse? Mas não será esta dificuldade técnica o reflexo de um outro obstáculo — um obstáculo de ordem religiosa. Tendo empreendido representar o deus, o escultor não se atreve a precipitá-lo.
O deus parece-lhe mais divino nesta imobilidade que o escultor impõe a si i propno mais do que lhe cede. Como ter a audácia de pôr em movimento o
deus. Dar-lhe ordem de caminhar, é atentar contra a sua liberdade soberana. A dificuldade tecmca de representar o movimento enraíza-se pois no profundo respeito que o artista vota a este deus que ele fez sair da matéria. De resto, não sentimos como uma falta esta lacuna da marcha, de tal modo o escultor soube encher-nos. diante do Couros-deus, do sentimento do seu poder. Acima de tudo, sentimos nele o deus túrgido de energia, sentimo-lo prenhe de promessas, inteiramente disponível em relação ao futuro que traz em
si e que dara a luz. De maneira imprevisível, porque é deus. [236]
Ao tipo do Couros responde, nos tempos arcaicos, o tipo da Coré. Rapaz nu, rapariga vestida. Deus-atleta, risonho e formidável, rapariga ou deusa iluminadas de cores vivas, pintalgadas de encantos orientais. Foram encon tradas catorze, vindas da Ásia a erigir-se na Acrópole de Atenas, poucos anos antes das guerras medas. Derrubadas pelos Bárbaros em 480 (no ano de Salamina). foram piedosamente enterradas pelos Atenienses quando voltaram aos seus lares: apertadas umas contra as outras na sua fossa comum, serviam de aterro para apoio da muralha. As cores estavam ainda frescas e vivas, vermelho, ocre e azul repartidos como ao acaso pelos cabelos e pelos belos vestidos. E que, para o artista, não se tratava de tomar a estátua parecida com uma pessoa viva, mas antes iluminar a pedra, pelo simples gosto da cor cintilante. Estas rapariguinhas impertinentes fizeram mentir os académicos que queriam que os Gregos não houvessem tido nunca o mau gosto de pintar as suas estátuas e sustentavam que só a brancura do mármore (e os olhos vazios de expressão) podia exprimir a serenidade de uma arte. que foi, em verdade, muito mais selvagem e alegre que serena.
Estas desenterradas de fresco têm muita coisa a dizer-nos. Nasceram na Jónia, nesse levante da Grécia onde, um belo dia, todas as artes desabrocha ram ao mesmo tempo, numa embriagadora profusão. Importadas ou livremente imitadas, respeitosamente aformoseadas na severa Ática, as estátuas instalaram na Acrópole as suas tranças de cabelos ocres ou violáceos, as suas jóias de todas as cores, as suas túnicas de linho fino em múltiplas pregas irregulares, que caem até aos artelhos, por vezes os seus xailes de lã pesada, tudo isto colorido com uma gentileza e caprichos inesperados. Sob esta dupla veste, o corpo começa a aparecer. Mas o escultor ático conhece melhor a musculatura do corpo dos rapazes que as formas ao mesmo tempo mais delicadas e mais largas do corpo da mulher. Estas raparigas jónias aprumam-se como homens: a perna adiantada prepara-se para marchar. As ancas são tão estreitas como as dos seus camaradas masculinos. O peito, desigualmente marcado conforme as estátuas, com os seios muito afastados, permite sobretudo drapejamentos de efeitos imprevistos. Quanto aos ombros: ombros quadrados de ginastas! Com efeito, estas Corai são quase rapazes mascarados, como no teatro, onde adolescentes cheios de frescura representarão Antígona e Ifigênia. De humor [237] alegre, não deixarão de arvorar o sorriso dito arcaico, que é aqui um sorriso leve, malicioso, contente, com uma ponta de humor. Os trajos, o penteado, todos os adornos lhes agradam extremamente. E o que diz este sorriso feminino. Para que reparem e a notem, uma delas faz uma pequena careta: amuou.
Estas estátuas lembram-nos também a paciente escola dos artistas, ou antes, a sua petulante emulação. Não há duas Corai que se assemelhem. Cada artista introduz no tipo divertidas disparidades. As modas dos trajos misturam-se: uma Coré, ora traz, sobre uma túnica jónia, com a sua profusão de pregas, um grande rectângulo de lã sem costura, ao qual bastam, para se tomar vestuário, dois alfinetes nos ombros, com um cordão à volta da cintura; ora o manto longo, sem túnica, cai até aos pés; ora a túnica quase não tem pregas e se cola indiscretamente à pele. Dir-se-ia, vendo-as reunidas no museu da Acrópole, um grupo de manequins, preparados para um desfile, a quem se tivesse deixado escolher, um pouco ao acaso, os vestidos a apresentar.
Mas não foi o acaso que escolheu, foi o artista. O que lhe importa, no tipo da Coré, é o estudo complexo dos drapejos, mais que o da anatomia. As pregas do vestuário variam infinitamente segundo a natureza do tecido, o estilo da toilette, segundo também a parte do corpo que o vestuário cobre: o seu papel é o de sugerir a forma do corpo, ao mesmo tempo que parece velá-lo. O vestuário é. na estatuária grega, para o homem, quando o usar, para a mulher, quando reduzido for, um maravilhoso instrumento de beleza: o artista grego jogara com ele, mais tarde, com uma mestria resplandecente. Sobre a Coré faz ele ainda as suas escalas, divertindo-nos e, sem dúvida divertindo-se.
Recordemos que o vestuário grego não é, a maior parte das vezes, cosido como o nosso. Salvo as túnicas, em que as mangas são cosidas, e ainda assim essas mangas são muito largas, deixando os braços livres. O nosso vestuário modemo. que é cosido e ajustado, apoia-'se nos ombros, nas ancas. O vestuário grego não é ajustado, mas sim drapejado. Exprimir a maneira — as cem maneiras — como um dado vestuário e o corpo se desposam um ao outro, drapejar o vestido e o manto sobre o ombro e o peito, fazê-los cair sobre as pemas. tomá-los frouxos graças a uma cinta, pregueá-los em todos os sentidos — eis o que apresenta dificuldades muito grandes! O mais pequeno movimento de um membro ou do corpo modifica a direcção das pregas. Mas o escultor das Corai enfrenta estes obstáculos com alegria, certo de estar à beira de uma descoberta criadora.
[238]
Assim, graças a uma lenta caminhada convergente, os escultores do século VI vão ao encontro duma vasta conquista, que é o conhecimento do corpo humano, seja nu, com a sua musculatura bem carnal, seja dissimulado sob vestuários leves ou pesados, que dizem ou sugerem, através do vestido, a presença graciosa do corpo feminino.
Esta expressão cada vez mais firme da criatura humana, viva na sua :arne, é muito importante. Tanto mais que este corpo humano que a escultura
pesquisa com um ardor nunca diminuído, atribui-o ela aos deuses.
O corpo do homem e da mulher é, com efeito, a melhor representação, a mais exacta imagem dos deuses. Ao esculpir tais imagens, o artista grego
dá vida aos deuses do seu povo.
O escultores gregos caminham no mesmo sentido que os poetas — mais avançados do que eles — e que os sábios — menos avançados do que eles — , que procuram formular algumas das leis naturais. Também eles. ao esculpirem os deuses, explicam o mundo.
Que explicação é esta, pois? É uma explicação dos deuses pelo homem. Nenhuma forma, com efeito exprime mais exatamente a presença divina, invisível e incontestável, no mundo, que o corpo do homem e da mulher. Os Gregos conheciam as estátuas do Egito e da Assíria. Nunca pensaram traduzir o divino por uma mulher com cabeça de vaca, por um homem com cabeça de chacal. O mito pode ir buscar ao Egito certos volteios de linguagem, certas narrativas e personagens (Io, a vitela atormentada pelo moscardo, na tragédia de Ésquilo). O cinzel do escultor afasta desde muito cedo estas figuras mons truosas, salvo em seres muito próximos das forças da natureza, como os Centauros, por exemplo, que, nas métopas do Parténon, representam o assalto furioso dos Bárbaros.
O deus é este mancebo simples e nu; a deusa, esta rapariga formosamente adornada e de rosto amável.
(Não nos deixemos deter pela explicação segundo a qual as Corai não representam a deusa, mas as adoradoras da deusa. São, diz-se comummente das da Acrópole, orantes — rezadoras. Talvez, mas nem por isso estão menos consagradas, penetradas do espírito da divindade. Por essa via, são deusas).
Eis a regra: Dar aos deuses o mais belo. Que há de mais belo no mundo que a nudez de um adolescente, ou a graça de uma rapariga vestida de tecidos [239] bordados? É isto que os homens oferecem aos deuses, é assim que eles vêem os deuses. E assim que são os deuses. Não há outra linguagem para os exprimi* que estes mármores iluminados. (Os Couroi, como as Corai, tinham alsjumas pinceladas de cor nos cabelos, nos olhos, sobre os lábios.) Não há linguager mais própria, não há tradução mais exacta. A estátua do Couros é a palavra de mármore, mas a palavra exata que designa o deus.
Esta beleza do corpo humano, com as suas perfeitas correspondências com as suas proporções, tão regulares que os artistas, mais tarde, se atrevera: a exprimi-las por números, com a suavidade e a firmeza das suas linhas rigorosas e macias, essa beleza do nosso corpo tão comovedora e tão poderosa na sua fremente inteireza, tão convincente para a alma como para o própri: corpo essa beleza parece-nos, ainda a nós, imperecível na deslumbrante adolescencia em que a representaram os Gregos. Eis o que o homem tem de mais belo a oferecer aos deuses imortais. Oferece-lhes, todos os dias da vida.
Levantando para o Céu, onde os deuses moram invisíveis, este povo visível e carnal de alegres raparigas e rapazes sob o Sol da Terra.
Mas estes deuses não são apenas a obra de escultores individuais e quase sempre anónimos, são os deuses da cidade, os deuses do povo dos cidadãos que os erguem e os encomendam ao escultor. São mesmo, por vezes, não apenas, os deuses da cidade, mas, em Delfos, em Olímpia, noutros locais, os deuses protectores de toda a comunidade helénica.
Esta escultura é cívica, popular porque fala ao povo, nacional porque e comum a todos os Gregos. Esta arte exprime não a maneira como o escultor vé os deuses, mas a imagem que deles faz uma comunidade de homens livres. Este deus-homem, este homem que vale pelo deus, esta mulher bem enfeitada, esta orante-deusa, esta deusa pintada como mulher — todos estes seres ambíguos que as cidades dão a si próprios como senhores e companheiros na sociedade da vida, tudo isto, esta fusão do humano e do divino, é um dos empreendimentos mais ousados que eclodiram no solo da Grécia. Em parte alguma o divino esteve menos separado do humano: exprimem-se um pelo outro. Que outra coisa senão o humano poderia pois dizer o divino! É como ousariam os homens privar o deus da beleza da sua própria forma perecível. Dão-lha, imortal, antes mesmo de serem capazes de exprimi-la sem defeito. O amor do homem pelo seu deus e o amor que ele dedica à sua própria carne eis o duplo aguilhão da criação do escultor de pedra.
Acrescentemos um profundo amor da verdade. Conhecimento cada vez [240] mais exato que o escultor tem da nossa ossatura e da nossa musculatura. Rigor cada vez maior da sua representação. Em definitivo, é esse o dom primeiro do escultor, o dom que ele faz ao seu deus, em troca do progresso que lhe deve no seu trabalho.
*
Mas quem dará enfim movimento a este homem-deus? Quem libertará, fazendo-o caminhar, essa energia de que todo ele está cheio?
Nestas breves páginas sobre a estatutária grega, que de modo algum pretendem substituir uma história lógica da arte grega, não podemos seguir passo a passo, na sua evolução, o lento nascimento do movimento na estátua. De resto, ou nos faltam os documentos que permitiriam apreendê-la, ou esta evolução mal existe, e a arte, como a natureza por vezes, procede aqui, após alguns magros esboços, por mutação brusca.
Eis o Discóbolo de Míron. Vem de meados do século v (um pouco antes de 450). Não é indiferente notar, a propósito, em primeiro lugar, que se trata de uma estátua de homem e não de deus. O escultor, que se sente em condições de fazer mexer a estátua, escolheu representar o cúmulo do movimento num ser humano — um atleta — e não num deus. O deus está, por enquanto, votado à imobilidade. O respeito do artista assim o quer.
Notemos, por outro lado, antes de analisarmos a estátua, que não temos qualquer original desta obra célebre e cem vezes repetida desde a Antiguidade. As obras dos museus não são mais que mármores mutilados. Destas cópias mais ou menos seguras tiraram os modernos uma reconstituição de bronze (o original de Míron era um bronze) que está em Roma, no museu das Termas. Escusado será dizer que ela apenas permite reflexões temerárias sobre a arte de Míron.
Contudo, é evidente que este artista, formado no tempo em que reina ainda, quase sem contestação, a lei da frontalidade, concebeu um empreendimento de extrema ousadia. Sem dúvida, antes de Míron, em baixos-relevos, em algumas estatuetas de bronze, em raras estátuas, já a lei da frontalidade fora algum tanto infringida. Mas esta violação fora parcial. Assim no Homem Que Transporta Um Vitelo, os braços, deixando de estar colados ao corpo, [241] tinham-se movido e os seus músculos apertavam com firmeza as patas do vitelo instalado sobre os ombros. No entanto, o resto do corpo mantinha-se completamente inerte e como que indiferente ao peso do fardo que transportava. No Discóbolo, pelo contrário, o corpo do atleta está todo ele dobrado pelo movimento que o possui e que parece atravessá-lo de ponta a ponta como um dardo de fogo, dos dedos do pé esquerdo que se aferram ao solo para dar um ponto de apoio sólido a este homem violentamente tenso na instabilidade, até ao braço direito — o braço que segura o disco —, projetado para trás. mas que vai, no momento seguinte, distender-se para a frente para largar o seu peso, e mesmo até ao braço esquerdo, até à perna direita, que, parecendo embora inertes, estão contudo arrastados na ação. Esta ação toma agora o ser inteiro e parece instalar o atleta numa instabilidade em que tudo o que não é movimento é contrapeso: sem este equilíbrio de massas opostas, em que a sua personagem está apanhada como nas malhas invisíveis de uma rede. o Discóbolo cairia.
Míron transporta-nos, com o Discóbolo, para um mundo de ação, onde o movimento reina de súbito com toda a soberania, onde o homem conhece uma embriaguez de força, contida pelo equilíbrio. Neste sentido, Míron é o fundador da estatuária, como Ésquilo, seu contemporâneo, é o criador da ação dramática. Um e outro exploram os limites da força humana. Se o escultor não respeitasse as leis do equilíbrio no movimento, a estátua — disse-o já — cairia, como cairá talvez, sobre o solo da palestra, o atleta, logo que o disco lhe tenha escapado das mãos.
O Discóbolo dá-nos pois o movimento. Mas estaremos nós, com ele, em presença de um instantâneo fotográfico? Tal se tem sustentado, sem razão, a meu ver. Se se tratasse de um instantâneo, não reconheceríamos o movimento. O nosso olho não é uma objectiva fotográfica. Na verdade, o Discóbolo apresenta-nos uma síntese de movimentos sucessivos coordenados. Não se trata de fixar numa placa sensível um homem que atira um objeto — como uma fotografia que, pretendendo fixar a marcha de um cortejo, apenas nos apresenta uns sujeitos imóveis, de perna no ar. O movimento de um ser vivo não pode ser fixado numa estátua — feita, por definição, de matéria inerte — senão pela combinação de momentos que se sucedem no tempo.
O senhor do movimento é também o senhor do tempo.
Os Apolos arcaicos assentavam sobre as suas duas pernas, por assim dizer, fora do tempo: podiam assim ficar por toda a eternidade. O Discóbolo [242] parece, se quisermos, a imagem do movimento instantâneo. É que, na verdade, todos os planos da estátua de bronze, apoiados uns nos outros, são tomados, cada um, num momento diferente da ação que os arrasta a todos. Assim o viu o olho de Míron, assim o viu o olho do espectador do estádio antigo. O realismo de Míron é já classicismo no sentido de que o escultor transpõe para uma obra de arte a realidade observada. Esta obra tem por função exprimir não somente o momentâneo, mas os possíveis do indivíduo e, se assim se pode dizer, o seu devir.
No escalão já do Discóbolo, podemos verificar que o realismo do escultor, fundado no conhecimento exacto da ossatura e do jogo dos músculos, não é, no entanto, a simples cópia da realidade. Antes de ser reproduzido, o objeto é, primeiramente, repensado pelo criador.
Por outro lado, a figura é simplificada, estilizada, segundo regras não conformes com as da realidade, e isso adverte-nos já de que ela está pronta a submeter-se a um cânone (a uma regra) clássico.
*
O realismo é propriamente falando, em escultura, o conhecimento do corpo que o escultor quer representar, como realidade objetiva. A escultura grega tende para este conhecimento e possui-o já durante todo o século VI. As insuficiências musculares que a caracterizam nessa época são raramente sentidas por nós como tais, mas antes como simplificações. O amor que o escultor tem pela criatura humana e o seu amor da verdade enchem a sua obra de uma força que remedeia todas as lacunas.
Acrescentemos que o conhecimento que o escultor procura só muito raramente é dos indivíduos: só excepcionalmente visa o retrato.
É neste realismo apaixonado — neste modelo típico e social, mais do que individual — que se enraíza com força a escultura do século V e mais particularmente a da segunda metade desde século: o classicismo alimenta-se do realismo arcaico como de uma seiva que lhe dá uma poderosa vitalidade.
Contudo, uma vez adquirido este conhecimento do homem real — principalmente o da musculatura e da ossatura que a suporta, o conhecimento [243] parece, se quisermos, a imagem do movimento instantâneo. É que, na verdade, todos os planos da estátua de bronze, apoiados uns nos outros, são tomados, cada um, num momento diferente da acção que os arrasta a todos. Assim o viu o olho de Míron, assim o viu o olho do espectador do estádio antigo. O realismo de Míron é já classicismo no sentido de que o escultor transpõe para uma obra de arte a realidade observada. Esta obra tem por função exprimir não somente o momentâneo, mas os possíveis do indivíduo e, se assim se pode dizer, o seu devir.
No escalão já do Discóbolo, podemos verificar que o realismo do escultor, fundado no conhecimento exacto da ossatura e do jogo dos músculos, não é, no entanto, a simples cópia da realidade. Antes de ser reproduzido, o objecto é, primeiramente, repensado pelo criador.
Por outro lado, a figura é simplificada, estilizada, segundo regras não conformes com as da realidade, e isso adverte-nos já de que ela está pronta a submeter-se a um cânone (a uma regra) clássico.
*
O realismo é propriamente falando, em escultura, o conhecimento do corpo que o escultor quer representar, como realidade objectiva. A escultura grega tende para este conhecimento e possui-o já durante todo o século VI. As insuficiências musculares que a caracterizam nessa época são raramente sentidas por nós como tais. mas antes como simplificações. O amor que o escultor tem pela criatura humana e o seu amor da verdade enchem a sua obra de uma força que remedeia todas as lacunas.
Acrescentemos que o conhecimento que o escultor procura só muito raramente é dos indivíduos: só excepcionalmente visa o retrato.
É neste realismo apaixonado — neste modelo típico e social, mais do que individual — que se enraíza com força a escultura do século V e mais particularmente a da segunda metade desde século: o classicismo alimenta-se do realismo arcaico como de uma seiva que lhe dá uma poderosa vitalidade.
Contudo, uma vez adquirido este conhecimento do homem real — principalmente o da musculatura e da ossatura que a suporta, o conhecimento
[243] também, mas um pouco mais tardio, do vestuário que sublinha as formas corporais— , a partir daí, este homem conhecido objetivamente, apresentado aos cidadaos como deus ou deusa, como atleta, pode também ser modificado, nao "idealizado", como vagamente se diz, mas transformado, e, se assim se po e dizer, corrigido, com vista a propor à comunidade dos cidadãos um modelo que, como por um acto eficaz, a muna das virtudes que lhe são necessarias. Desde que o escultor compreende que pode e deve escolher, na realidade objetiva que observa, está no caminho do classicismo, é clássico. O artista escolhe pois as feições, as formas e as atitudes que lhe cabe, em seguida, compor. Esta escolha, apoiada num realismo autêntico, é já classicismo. Mas segundo que critério se opera esta escolha? Segundo a beleza, sem duvida. A resposta e por demais vaga e insuficiente. A propósito disto tem-se falado de uma regra de ouro, com a qual se conformaria o artista. Esta regra de ouro seria uma lei objetiva da natureza, que se manifestaria tanto nas proporçoes e nas formas das folhas das árvores como nas proporções do corpo humano, uma vez que o homem faz igualmente parte da natureza. Esta ideia não e destituída de interesse: explicaria, diz-se, ao mesmo tempo o classicismo grego e o classicismo chinês, que lhe é anterior 2500 anos, sem falar de outros. Contudo, devo dizer que me repugna grandemente esta personificação da
natureza que fixaria por uma lei objetiva as proporções mais harmoniosas do homem, lei que o classicismo encontraria: parece-me isto de uma bela imaginação, mas relevar de um misticismo exacerbado. Se o homem (diz-se) tem as proporções que a natureza fixou para ele, é harmonioso, é belo classicamente.
O classicismo nao e outra coisa que a lei de uma arte que quer viver numa sociedade viva. A energia do homem e dos seus manifesta-se em todos estes corpos musculados e bem adaptados a acçao que os solicita. A coragem revela-se na impassibilidade do rosto. Esta impassibilidade, em que quase sempre se viu uma insuficiência tecmca, e o sinal do domínio que o homem adquiriu sobre as suas paixões [244] individuais, e o sinal da força de alma, da perfeita serenidade que outrora so os deuses possuíam. A impassibilidade clássica do rosto responde, pois, mas de uma outra maneira, ao sorriso arcaico. Este sorriso exprimia a alegria ingênua do ser vivo. Numa época ainda carregada de lutas e combativa, a impassibili dade exprime o império que a vontade exerce agora sobre as paixões, é como que a consagração do homem a comunidade cívica.
Esta época nova é também mais humana; não está já toda ela impregnada de divino: não é tanto os deuses que ela representa em forma humana, e mais o homem que ela exalta até à estatura divina.
Não há nenhuma estátua clássica em que o homem nao respire o nobre orgulho de desempenhar com fidelidade o seu mister de homem, ou de deus. O classicismo arego, assente em realismo, está agora estreitamente liga o ao humanismo. É a expressão de uma classe ascendente - que ganhou as guerras medas pela sua valentia — a expressão de uma classe que acaba e entrar na posse das vantagens que são devidas ao seu valor. O classicismo é o remate de um combate, e mantém-se pronto para o combate. Não que a força que anima as estátuas clássicas se exprima, pouco que seja, em gestos vee mentes. A sua força está imóvel, repousa. Uma força que "gesticulasse" seria limitada a uma acção única e determinada pelo seu gesto. A força das estatuas clássicas é indeterminada, é um reservatório de força, um lago de serem a e que se transformaria, sabémo-lo, se as circunstâncias o exigissem, numa torrente desencadeada. Eis o que nos mostram, por exemplo, as estatuas do Parténon — os seus restos — que Fídias esculpiu.
*
Mas tomemos alguns exemplos. Policleto situa-se num dos momentos decisivos da arte grega. Está no ápice da perfeição realista: do mesmo golpe,
está no ápice do humanismo clássico.
Antes dele, Míron tinha, na representação do movimento, tendido ao que nos aparece ser o movimento instantâneo. O seu Discóbolo era um admirave exercício de virtuosismo. Mas o virtuosismo fatiga e o instantaneo nao retem muito tempo. Policleto, no Homem da Lança (Doríforo) e em outras estatuas, [245] embora não fazendo marchar a sua personagem, dá-nos a ilusão da continuidade da marcha.
Não chegou até nós o Doríforo. Policleto era um bronzista, o maior dos bronzistas antigos. Dele, só temos cópias de mármore. E que mármores, ai de nós! Digamos apenas que este homem nu, que transporta uma lança sobre o ombro esquerdo, e que parece caminhar, repousa todo o peso do corpo apenas sobre a perna direita, que avança, enquanto a esquerda se arrasta levemente atrás, tocando o solo apenas com os dedos. Desta atitude resulta uma ruptura completa da simetria arcaica. As linhas que unem os dois ombros, as duas ancas, os dois joelhos, já não são horizontais: e não só isso, contrariam-se. Ac joelho mais baixo, à anca mais baixa, à esquerda, corresponde o ombro mais alto, e inversamente. É o mesmo que dizer que o corpo humano possui um ritmo inteiramente novo. O corpo, solidamente construído em ossos e em músculos, é talvez (pelo menos na cópia de Nápoles, a menos infiel) duma robustez um tanto pesada. Mas este corpo está apanhado todo ele numa simetria inversa que dá à sua marcha fictícia ao mesmo tempo flexibilidade e firmeza. Outras estátuas de Policleto, como o Diadumeno (um atleta que cinge a fronte com a fita que é a insígnia da sua vitória), ao mesmo tempo que reproduz o mesmo ritmo a que chamei invertido, aligeira, com o gesto dos dois braços levantados, a suspeita de rudeza do Doríforo, tira-lhe o excesso de peso que parece ter a estátua.
É o homem liberto de todo o temor em relação ao destino, o homem na sua força altiva de senhor do mundo natural, que o Doríforo nos dá. As proporções da estátua podiam exprimir-se em números. Policleto tinha calculado em palmas (largura da palma da mão) as dimensões de cada uma das partes do corpo, assim como a sua relação entre elas. Pouco nos importam estes números e as suas relações, se com eles se chegou à criação de uma obra-prima. Policleto sabia assaz — por Pitágoras, sem dúvida — a importância do número na estrutura dos seres, para os ter estudado com cuidado. Dizia: «A obra-prima resulta de numerosos cálculos, com a aproximação da espessura de um cabelo.» E eis por que os Gregos chamavam orgulhosamente a esta estátua o Cânone! O Doríforo é uma das mais belas imagens que o homem deu de si mesmo. Imagem clássica, ao mesmo tempo verdadeira e embriagadora, do Grego, seguro da sua força física e moral. Imagem optimista (a palavra é feia, eu preferiria ascendente), onde se exprime naturalmente e sem esforço a concepção de uma sociedade humana em devir. A imagem também de uma classe social [246] que chegou ao poder e que dessa ascensão triunfa com uma segurança imper turbável. (Demasiada, talvez). Imagem de uma beleza perfeitamente natural, ao mesmo tempo mais objectiva e mais subjectiva do que a estética idealista pretende: inseparável do mundo objectivo da natureza, a que a liga o seu realismo, só pode no entanto exprimir-se em beleza se satisfizer as necessidades humanas a que pretende responder. Imagem eficaz, enfim, a imagem de um povo que saberia defender-se, se necessário fosse, para defender os seus bens ameaçados.
Mas, por enquanto, o Doríforo não se serve da lança que transporta ao ombro. "Há na arte um ponto de perfeição e como de maturidade da natureza", dizia em substância La Bruyère. O gênio de Fídias situa-se neste ponto exacto de maturidade. Por este fato, a sua arte é, para nós, mais difícil de compreender e conhecer que a escultura arcaica, se. como creio, nos tomámos, em certo sentido, primitivos — "pré-clássicos", esperêmo-lo.
Fídias. no entanto, esculpira imagens de deuses muito próximas da huma nidade. Não se limitara a representar os deuses sob o aspecto de seres humanos muito belos: partira da forma humana para nos propor figuras heróicas, dignas do Olimpo. Atribuía aos seus deuses, como antes o fizera Ésquilo. a simples oerfeição da sabedoria e da bondade. Esta perfeição concedia-a ele à espécie humana como o dom duma sociedade que ele queria harmoniosa.
Tal é. parece-me. o carácter essencial da arte de Fídias.
Isto é-nos assegurado pelos textos, mais ainda, infelizmente, que pelas obras do escultor. Efetivamente, para conhecer o assunto dos frontões mutilados — devastados pelos homens, muito mais que pelo tempo — estamos Draticamente reduzidos aos desenhos de um viajante, os preciosos desenhos de Jacques Carey, que são anteriores alguns anos ao rebentamento da bomba veneziana que despedaçou o Parténon, anteriores também às vergonhosas depredações, ainda não reparadas, de lorde Elgin. Não esqueçamos também que das noventa e duas métopas nos restam dezoito em bom ou razoável estado!
Dito isto, que era preciso dizer-se, a arte de Fídias (se não imaginamos iemasiado) foi ter feito florir a humanidade em formas divinas. A brutalidade
[247] dos Centauros lutando contra os homens e esmagando-os, a gentileza reservada das jovens atenienses do friso, a tranquila, a pacífica imobilidade dos deuses que, nos ângulos do frontão, esperam que o Sol se levante — tudo isto fala a mesma linguagem.
Fídias quer dizer o que é, exprimir as coisas tais elas são: existem no universo forças brutais — o cio selvagem dos homens-cavalos —, existem também seres que a desgraça ou o acidente podem atingir na sua calma segurança — cavaleiros ricos, outros também cuja montada se encabrita. deuses e deusas calmos e próximos, ventres e peitos que o tecido meio descobre meio oculta, pregas tão belas e verdadeiras que convencem da
presença da carne —, outros ainda. Tudo isto Fídias o diz, não porque o "realismo" palavra abstracta que o grego ignora — o exija, mas porque tudo está na natureza. O homem está na natureza, estará sempre a braços com ela. É seu privilégio exprimir a força e a beleza dela, e também querer dominá-la. querer a sua transformação. E a primeira mutação, a única via de progresso que o artista sugere, é ser senhor de si mesmo, domar os seus instintos selvagens, agir de modo que os deuses estejam presentes na terra, em nós próprios. Era à força de justiça e de benevolência que Fídias atingia a serenidade, imagem da felicidade.
Os deuses de Fídias estão igualmente na natureza: não são sobrenaturais, são naturais. E é por isso que os deuses que são o acabamento do homem, no termo do friso, vêm juntar-se aos humanos, não apenas para receber as suas homenagens, mas para participarem nesta festa popular — que Fídias foi o primeiro a ousar representar num templo, em vez de um mito — , esta festa que é a "das artes e ofícios". Entre as presenças da assembleia divina do friso, características são as de Hefesto e de Atena: o deus das artes do fogo e a deusa industriosa eram os mais caros ao coração do povo ateniense. Fídias mostrou-os lado a lado, conversam amigavelmente, simplesmente, como operários depois de um dia de trabalho. Nada de sobrenatural entre todos estes deuses: nada mais que humanidade levada ao seu cúmulo de excelência.
Se, diante de um grupo dos frontões — por exemplo, o de Afrodite indolentemente reclinada sobre os joelhos e o peito de sua mãe — experimentamos um sentimento que toca o respeito religioso, notemos ao menos que as formas amplas destas duas mulheres, que esse seio que nelas faz inchar o tecido ou dele se escapa, tudo nos indica que para os Gregos o sentimento religioso do século V não separa a carne do espírito. Assim o sentiu e exprimiu Fídias. [248]
No friso, como nos frontões, os deuses estão presentes, como o estão no coração da vida antiga. A sua presença ilumina a vida humana e particularmente a festa popular representada no friso, à maneira de uma bela árvore de Natal iluminada na praça pública de uma das nossas cidadés.
Mas Fídias não foi apenas o escultor genial dos mármores do Parténon. Produzira várias estátuas de deuses isolados. Pausânias chamava-o o "fazedor de deuses". Falarei somente de dois. Primeiro, de Atena Lemnia. Esta estátua foi primitivamente de bronze. Dela subsiste apenas uma cópia de mármores rragmentados. Desta cópia antiga, por infortúnio ou estupidez, a cabeça está em Bolonha, ao passo que o corpo se encontra em Dresde. Eram uma obra da juventude do mestre, oferecida à deusa por colonos atenienses antes da sua partida para Lemnos, na altura em que a guerra meda chegava ao fim. A deusa não está representada como guerreira. Sem escudo, de cabeça descoberta, a égide desatada, o capacete na mão, a lança transportada à esquerda não é mais que um apoio para o braço. Descansa dos trabalhos da guerra: tranquila, está pronta a entregar-se aos trabalhos da paz!
A cabeça admirável, toda encaracolada e muito jovem (durante muito tempo foi tomada pela cabeça de um adolescente), muito orgulhosa também, diz-nos todo o amor de Fídias — apenas saído das oficinas de Argos onde se formou — pela paz, fruto da coragem e da sageza do seu povo.
Será preciso concluir enfim este longo estudo com algumas palavras sobre a obra-prima de Fídias. no entendimento dos antigos — o Zeus de Olímpia? Era uma estátua criselefantina. A estatuária de ouro e de marfim é uma oferenda preciosa da cidade aos deuses. Existiu durante toda a Antiguidade. E reservada, em geral, às estátuas colossais. O marfim de tais estátuas dizia a brancura do rosto, dos braços e dos pés nus, o vestuário era de ouro de cores diferentes, como o sabiam obter os tintureiros de ouro.
Este Zeus, esculpido para o templo nacional de Olímpia, perdeu-se, naturalmente. Além do marfim e do ouro, outros materiais preciosos foram ainda empregados, na confecção do trono, em particular, o ébano e certas pedras preciosas. A estátua sentada tinha doze metros de altura, catorze com o pedestal. Estes números, assim como, o excesso de luxo, assustam-nos um pouco. Não esqueçamos que tais estátuas eram vistas, enquadradas pela pers pectiva da dupla colunata interior, no meio dos troféus e dos estofos preciosos que ali eram amontoados ou suspensos. Este Zeus devia, sem dúvida, com os seus adornos e os seus atributos, a magnificência da sua decoração, dar, no [249] pensamento de Fídias, com risco de sobrecarregar a estátua, o sentimento da grandeza do divino. Neste cenário de uma riqueza oriental, Zeus aparecia como o ídolo precioso de um povo inteiro.
No entanto, a acreditar nos autores antigos, o que fazia a beleza única da obra era o contraste entre este aparato triunfal, entre esta exibição de riquezas, e o rosto do deus, todo impregnado de mansidão e de bondade.
Uma cabeça do museu de Boston parece reproduzir-lhe os traços.
Não é o Zeus temível da Ilíada, que com um franzir de sobrolho fazia tremer o Olimpo e o mundo, é o pai dos deuses e dos homens, e não apenas o pai, mas o benfeitor dos humanos.
Dion Crisóstomo, escritor do século I da nossa era, que contemplou o original em Olímpia, descreve-o em termos que parecem prefigurar a linguagem cristã: "É o deus de paz", supremamente doce, dispensador da existência e da vida e de todos os bens, o comum pai e salvador e guardião de todos os homens.
Parece pois que Fídias tentou unir na sua estátua a imagem de um Zeus popular, isto é, todo-poderoso e opulento, com a concepção mais alta de um deus como a podiam ter na mesma época Sócrates ou Péricles — um deus de providência e de bondade. Esta última imagem revelava-se na expressão do rosto, tem a e paternal.
Lembremos que os antigos diziam, a propósito, que Fídias tinha "acrescentado alguma coisa à religião". Alguns arqueólogos modernos consideram que o Zeus de Fídias serviu de primeiro modelo aos artistas modernos que criaram o tipo do Cristo com barba.
É difícil decidir se, sobre estes últimos pontos, não se terá feito o seu tanto de "literatura".
Em todo o caso, o rosto de Zeus do "criador de deuses", mostra que, ao atravessar os séculos, uma obra-prima pode carregar-se de novas significações, desde que seja concebida segundo a verdade do seu tempo.
É esta verdade, é este realismo clássico que vem até nós e nos fala ainda. [250]

Não se escrevem tragédias com água benta ou água esterilizada. É ate banal dizer-se que as tragédias são escritas com lágrimas e sangue. O mundo trágico é um mundo em parte imaginário, que os poetas de Atenas fabricam para o povo, a partir da dura experiência que, em dois séculos, esse povo de camponeses e marinheiros fez na realidade. No tempo de Solon, o povo ateniense conheceu o domínio dos Eupátridas, depois o domínio dos ricos, ambos tão pesados como o jugo de um destino brutal: então pouco faltou para que esse povo despojado das suas terras e dos seus direitos, fosse lançado fora da cidade, para o exilio ou para a escravatura, condenado a miséria que degrada e mata.
Veio depois, no principio do século V, quando do segundo nascimento da tragédia, a invasão dos Medos e dos Persas, com essas hordas de povos amalgamados e inumeráveis que, para se alimentarem ou simplesmente pelo gosto de destruir, levavam consigo ao passar as reservas de cereais, abatiam os rebanhos, incendiavam aldeias e burgos, cortavam as oliveiras rente ao solo e, flagelo sacrílego, derrubavam os altares dos deuses, partiam as suas estátuas.
O povo de Atenas, em um esforço sustentado com firmeza, depois em um poderoso e brusco golpe de rins, desembaraçou-se dos Eupátridas opressores, liquidou o invasor asiático: arrancou as forças que ameaçavam esmagá-lo a soberania e a igualdade democráticas de que se orgulha e, no mesmo lance, a liberdade da cidade e do seu território, a independência nacional.
A recordação desse século heróico em que o povo dos Atenienses lança a morte que o espreitava um desafio triunfante, essa recordação de uma luta travada é ganha - com a ajuda dos deuses - está sempre presente, que mais não seja como um obscuro reflexo, no coração de toda a tragédia ática.
Na verdade, a tragédia Não é outra coisa que a resposta do povo ateniense, dada em verbo poético, as pressões históricas que fizeram desse povo o que ele é: o defensor da democracia (por pequena que seja a sua base nessa época) e da liberdade dos cidadãos.
Os dois primeiros grandes poetas trágicos pertencem a classe aristocrática ou a alta burguesia. Não importa. Primeiro que nobres ou ricos, são poetas de gênio, são cidadãos atenienses ao serviço da cidade. A sua dependência da comunidade de Atenas é o laço mais firme que os liga aos outros homens. A inspiração poética é sentida por eles como uma cratera de fogo ateada pelos deuses: toda a sua arte tende a disciplinar essa fonte ardente, a transformar essa labareda selvagem em sol nutriente que fará frutificar as vidas dos seus concidadãos.
No momento em que Sófocles aborda o teatro - uma dezena de anos depois de Salamina e de Plateias - um poderoso movimento ascendente, resultante da vitória sobre os Medos, arrebata a nação para novas conquistas e criações. No plano da tragédia, a missão própria do poeta é ser o educador dos homens livres. A tragédia, em principio, é um gênero didático. Contudo, Não tem nunca o tom pedante. É pela representação de uma ação, muito mais que pelos cantos do coro, pelas palavras do corifeu ou pelos discursos das personagens, que o poeta propõe a sua mensagem.
A luta dramática apresentada ao espectador é, quase sempre, a luta de um herói animado de grandeza, que procura - mas, cuidado, ele que não ofenda os deuses que puseram limites a essa grandeza! -, que procura realizar essa extensão dos poderes nessa natureza, esse ir mais longe, essa passagem do homem ao herói, que é o objeto próprio da tragédia. O herói da tragédia é o aviador ousado que se propõe forçar o muro do som. Quase sempre, esmaga-se na tentativa. Mas a sua queda não significa que tenhamos de condená-lo, humanamente, Não é condenado pelo poeta. Foi por nós que ele tombou. A sua morte permite-nos localizar mais exatamente a invisível muralha de chamas e ouro onde a presença dos deuses detém e quebra de súbito o impulso do homem para o além do homem. Não é a morte do herói que é trágica. Todos nos morremos. É trágica a presença, na realidade, na experiência que Sófocles e os homens do seu tempo tem dela - a presença desses deuses inflexíveis que nessa morte se revela.
Porque essa presença parece opor-se ao ir mais além do homem, a sua florescência em herói. No entanto, toda a tragédia traduz e torna mais firme a aspiração do homem a ultrapassar-se em um ato de coragem inaudito, de ganhar uma nova medida da sua grandeza, frente aos obstáculos, frente ao desconhecido que ele encontra no mundo e na sociedade do seu tempo. Ultrapassar-se tendo em conta esses obstáculos, assinalando como guarda avançada da massa dos homens, de quem o herói será doravante patrono e guia, esses limites da nossa espécie que, logo que assinalados e, iluminados, deixam de o ser... Isto com risco de perder ai a vida. Mas quem sabe se aquele que vem esbarrar com o obstáculo não terá feito recuar os limites, enfim denunciados? Quem sabe se uma outra vez, numa outra sociedade histórica, essa morte do herói, que já no coração do espectador se muda em esperança, se produzirá da mesma maneira? Quem sabe mesmo se ela se reproduzira?...
É certo que depois de o muro do som ter sido vencido haverá mais longe o muro do calor ou qualquer outro. Mas, pouco a pouco, graças a estas provas sucessivas, alargar-se-á o estreito cárcere da condição humana. Até que as portas se abram... A vitória e a morte do herói são, juntas, o penhor disso. A tragédia joga sempre com o tempo, com o devir deste movente mundo dos homens que ela exprime e transforma.
É em uma oscilação do pensamento, indeciso entre o horror e a esperança, que acabam a maior parte das tragédias. Que acabam? Nenhuma grande tragédia foi alguma vez acabada. Toda a tragédia, na sua terminação, permanece aberta. Aberta para um céu imenso, todo constelado de astros novos, atravessado de promessas como de meteoros. No decurso da sua existência, retomada sob outras formas em sociedades desagravadas das hipotecas que lhe deram nascimento, a tragédia pode carregar-se de novas significações, resplandecer de uma beleza cintilante e comover-nos pela sua grandeza. Assim se explica (já foi dito) a perenidade das obras-primas. A promessa que tais tragédias tinham feito ou apenas por vezes vagamente esboçado de uma sociedade nova essa promessa foi cumprida pelo futuro em que vivemos.
Antígona, rainha das tragédias, é, sem duvida, de todas as que conservamos da Antiguidade, a mais carregada de promessas. Na sua linguagem de outrora, é a que nos dá ensinamentos mais atuais. É também, por outro lado, os mais difíceis de apreciar exatamente.
Partamos dos fatos. Recordemos os fatos.
Na véspera do dia em que se abre o drama, os dois irmãos inimigos, Etéocles e Polinices, ambos legítimos sucessores do Édipo, seu pai, mataram-se um ao outro na batalha que se travou diante dos muros de Tebas.
Etéocles defendia o solo da pátria. Polinices apoiava o seu direito no auxílio do inimigo. Por este fato, agia como traidor.
Creonte, tio de ambos, herda este trono sangrento. É um homem de princípios, que parece reto. Mas tem a visão limitada daqueles que, subindo ao poder, pensam subir ao pináculo e a si mesmos. Para restaurar a autoridade do Estado, abalada pela revolta de Polinices, para formar o povo sacudido de discórdias no respeito da ordem estabelecida. Creonte, logo que ocupa o trono, publica um édito que concede as honras fúnebres a Etéocles, o bom patriota, e vota o corpo de Polinices rebelde aos animais que o devorarão. Quem infringir este édito arrisca-se à morte.
Logo que conhece a resolução. Antígona, a meio da noite, decide prestar a Polinices as honras de que o privam. A piedade e o amor fraterno exigem-no conjuntamente. Entre os seus dois infelizes irmãos, ela não distingue. A morte deu-lhes uma nova e mais indiscutível fraternidade. Apesar da proibição de Creonte, enterrará Polinices. Sabe que a morte a espera após o seu ato. Uma morte que será "bela... depois desse belo crime".
No arrebatamento da fé, procura conquistar sua irmã Ismene para a nobre empresa. Loucura, responde Ismene. Somos simples mulheres, feitas para obedecer ao poder. Ismene procura dissuadi-la do temerário projeto. O obstáculo torna Antígona mais firme na sua resolução. Assim, em Sófocles, as personagens conhecem-se e fazem-se conhecer aos espectadores, definindo as suas arestas, a propósito dos atos em que se empenham ou que repelem. Antígona repele Ismene do seu coração e vota-a ao desprezo. Presa no momento em que celebrava os ritos funerários por um soldado que o rei colocara com outros perto do corpo de Polinices para o guardar, a mulher é conduzida, de mãos atadas à presença de Creonte. Ela justifica o seu ato. Declara ter obedecido às leis divinas, "leis não escritas", leis eternas, reveladas à as consciência, que devem prevalecer sobre a decisão de um príncipe insensato.
A resistência de Antígona arranca a Creonte a máscara pomposa de chefe de Estado todo dedicado ao bem da cidade, com que o tínhamos visto entrajar-se complacentemente perante o coro espantado dos principais da cidade. A moça leva o rei pavoneado a enterrar-se cada vez mais na arbitrariedade. Ele pronuncia a condenação à morte de Antígona, mais absurdamente ainda a de Ismene, que fora vista desvairada pelo palácio. Ismene, aliás, quer morrer com a irmã. Ajoelhada a seus pés, suplica a Antígona que lhe permitia partilhar a sua morte. Antígona repele duramente este sacrifício tardio, inoportuno, recusa a Ismene essa honra a que ela não tem direito. De resto, nunca Antígona pediu à irmã que morresse com ela ou por ela, mas que arriscasse a vida para todo o momento, cada uma colocada em região diferente da outra. Não fazem mais que colidir em um esgotante contratempo.
Esgotante e fecundo. As cenas de Antígona e de Ismene são importantes, não só porque mostram como, em Sófocles, os caracteres se criam no conflito das semelhanças, mas também porque manifestam de maneira evidente a virtude contagiosa do amor.
Mas eis que se abre, no centro mais sombrio da tragédia, que parece já toda inclinada para o seu termo mortal, uma surpreendente peripécia - a primeira esperança. Ao mesmo tempo, ela prepara o golpe que vai, no desenlace, ferir Creonte. E mais ainda: tal peripécia prepara, em nós, a reconciliação de Antígona e de Creonte.
Hémon apresenta-se diante do rei, seu pai, e pede-lhe o perdão da moça.
Hémon ama Antígona. Os dois jovens estão noivos. Novamente o amor afirma a sua força de contágio. Mas é extremamente importante que não seja em nome do seu amor que Hémon vem pedir a vida de Antígona. Ele fala com nobreza a única linguagem que convém a um homem, não a do sentimento, mas a da razão animada de justiça. Dirige-se ao pai no tom mais grave e mais deferente. Recorda a esse pai a quem ama, e que ele julga desorientado, o respeito da lei divina, ao mesmo tempo que tenta iluminá-lo sobre o seu verdadeiro interesse, inseparável do interesse da cidade que dirige. Não procura enternecê-lo, mas somente convencê-lo. Hémon coraria de pedir pela vida da noiva e mais ainda de pedir por si mesmo: apenas pede por seu pai e pela justiça. Nada mais belo em Hémon que esta filialidade viril. A cena é de uma extraordinária firmeza. Ao passo que o teatro moderno, tão inclinado a exibir o sentimento amoroso, a diluí-lo em discursos, não teria deixado de explorar esta situação no sentido do enternecimento, o poeta antigo recusa-se a ceder ao pendor fácil do sentimento, recusa-se o direito a pôr na boca de Hémon, ao falar ao pai, a menor alusão ao seu amor. Não que Hémon pretenda ceder a alguém no sentimento que experimenta por Antígona. Mas que homem seria ele se ousasse pedir ao pai que fizesse prevalecer esse sentimento sobre o interesse da comunidade? A honra impõe-lhe que contenha a sua paixão, que fale apenas em termos de razão.
Por outro lado, este constrangimento que impõe ao seu coração permite que a cena começada no tom calmo de um debate se desdobre em violência exasperada. A partir do momento em que o pai o acusa de faltar a essa honra tão severamente salvaguardada, como não se revoltaria Hémon contra tanta injustiça, alimentando a sua raiva com a paixão em vão refreada? A explosão de Hemon, nas ultimas replicas da cena, denuncia ao mesmo tempo o seu amor e o seu sentido da honra. Quanto à raiva de Creonte, Não nos diz apenas a que ponto este homem esta atolado na injustiça, adverte-nos da afeição do pai pelo filho - uma afeição como Creonte a pode sentir, um amor paternal que quer que o filho seja uma coisa do pai, e que lhe torna tanto mais intolerável esta súbita resistência a sua autoridade quanto é certo adivinha-la ele alimentada de um amor estranho. A grande cólera de Creonte contra o filho revela-o Não só perdido mas também sem defesa contra o golpe que os deuses se preparam para desferir-lhe. Resta-lhe um coração, belo alvo a visar...
A altercação dos dois homens acaba por firmar Creonte na sua decisão. Uma vez mais sabemos Antígona perdida: Creonte confirma a condenação - ao mesmo tempo que retira a de Ismene - e a pena de morte junta o mais cruel suplicio: Antígona será emparedada viva em uma caverna.
No entanto, no momento em que a morte de Antígona nos parece mais certa do que nunca, ela começa a deixar-nos entrever de maneira mais rigorosa a sua eficácia. Desde a abertura do drama, Antígona foi-nos dada como uma luz posta diante de nós - uma prova de que a existência humana não esta condenada a escuridão. Antes da cena de Hémon, nem a reticente aprovação dos velhos do coro, nem mesmo a rápida labareda da dedicação de Ismene, nos puderam assegurar plenamente que essa luz de Antígona não arderia em vão na praça nua de uma dura cidade. Se bastasse a vontade de um Creonte para extinguir essa claridade, a vida humana estaria entregue a noite da brutalidade! É para esse polo obscuro que o drama progride em nós? Sim, pelo menos até a cena de Hémon. Até essa articulação nova, a morte de Antígona parece ter apenas um sentido estéril. Uma alegria nos foi prometida, depois retirada. Para que Antígona nos seja dada para sempre, é preciso que a sua labareda tenha ateado outros incêndios. Os cantos dos velhos, apesar da sua beleza, o frágil brilho de Ismene, dificilmente nos guardaram do desespero. Só o ardente fogo de Hémon começa a restituir-nos Antígona. É que Hémon, sem pronunciar uma só palavra de amor, afirma esplendentemente, pela sua fidelidade aquela a quem ama, ao mesmo tempo que a justiça e aos deuses, o contágio do amor, o irresistível poder dessa força que conduz o mundo e as nossas vidas - Eros ...
O coro conhece o poder de Eros. Leu a sua presença em Hémon. Nesta meia claridade (de aurora ou de crepúsculo, ignoramo-lo ainda) em que o coro caminha conosco, os seus cantos, que celebram "Eros invencível", avançam tateando para exaltantes verdades...
Agora Antígona apresenta-se uma ultima vez diante de nós. Os guardas conduzem-na ao lugar onde ela vai cumprir a sua morte - morte cega e terrosa. Vemo-la nesta cena travar o ultimo combate prometido a cada um de nós. Deposta a sua couraça de orgulho, sozinha e nua, como tinha de ser, vemo-la encostada ao muro onde o destino alinha os seus reféns.
Esta cena dos lamentos de Antígona, estas estâncias maravilhosas em que a heroína canta a dor de deixar a vida e, na presença dos velhos mais inclinados agora a julgar do que em estado de compreender, sente e canta a amargura da ultima e necessária solidão - esta cena retoma um dos temas tradicionais da tragédia grega. É conveniente, e justo que antes de morrer o herói faça o seu adeus ao mundo dos vivos, que ele diga em um canto o seu amor da preciosa luz do Sol. É preciso também que ele se meça, na sua força e na sua fraqueza, com a omnipotência do destino que o vai esmagar.
Alguns críticos consideraram que esta cena de cantos queixosos concordava mal com o caráter altivo de Antígona. O contrário é que é exato. A crua luz da morte apontada para ela descobre-nos finalmente o fundo ultimo de Antígona. Temos aqui a chave deste ser. Sabemos agora que a dura Antígona - dura no combate, dura consigo mesma, nativamente dura porque e filha de uma raça de combatentes feridos -, sabemos que a áspera Antígona é, no segredo de si mesma, na solidão de si mesma, toda ternura. Ela amava a alegria do sol, amava os regatos e as árvores. Amava os seus. Os seus pais, os filhos que não terá nunca. O seu irmão insubstituível. E como poderia ela morrer por esse irmão, se não fosse toda amor?
De um tema habitual do espetáculo trágico, a arte de Sófocles fez a ilustração desta verdade que resplende em Antígona: nenhum ser humano encontra força para morrer senão no amor que dedicou a vida...
Neste instante da partida de Antígona, nada já pode nada para salvar a vida da moça. Nada, a não ser os deuses.
Os homens, pelo choque das suas paixões opostas, construíram uma engrenagem de fatalidade, um destino de que Antígona foi o primeiro artífice. Um destino nascido da escolha, onde a liberdade da heroína se traduz em fatalidade. Humanamente, por este destino construído, Antígona está perdida. Mas Tirésias faz ouvir a voz dos deuses, que até aqui se calavam e que de súbito falam.
O seu silêncio parado nos confins da tragédia - esse silêncio que encerrava a disputa e os gritos dos homens como no fundo de um poço -, esse silencio de súbito ressoa e fala. Com clareza se pronuncia. Antes de se tornar a fechar sobre novos gritos humanos, entreabre-se e aponta o único caminho por onde pode ainda insinuar-se a sabedoria dos homens. Por um instante, a voz divina e sonora e distinta. Mas a transparência dessa palavra é a claridade lívida do céu imóvel que já contém o raio. Nós sabemos que Creonte pode e não pode ouvir, pode e não pode ordenar o perdão de Antígona, ou antes, sabemos que se ele ainda pode ouvir, é tarde de mais para salvar. Como tantas vezes acontece no termo do conflito trágico, o homem e o destino, nos últimos cem metros da corrida, lutam a quem é mais veloz, de vontade tensa, músculos retesados. Os dois cantos do coro, que encerram a cena de Tirésias, erguem simetricamente uma coluna de gemidos e um jato de esperança, cuja antítese diz exatamente o despedaçar do nosso ser nesse supremo minuto que precede o rebentar do drama.
De súbito, o minuto fecha-se: o homem esbarrou contra o "tarde de mais". A desgraça desaba em vagas enormes. O mensageiro abomino fala-nos de Antígona enforcada, fala-nos do véu que estrangula a sua bela garganta, e o filho cuspindo a cara do pai que aparece, fala da espada de Hémon levantada contra Creonte, voltada contra si mesmo, e o sangue do seu coração que salpica o rosto da moça enforcada. Não é apenas a desgraça, e o horror que cai sobre nós e nos submerge. A tragédia grega não ignora que o horror é um dos rostos permanentes da vida: firmemente, mostra-nos o espetáculo dele.
Agora volta Creonte, trazendo nos braços, arrastando pelo solo o corpo do filho. Grita a sua dor, uiva o seu crime. Atrás dele, uma porta abre-se: um outro cadáver o chama, um outro assassínio o fixa pelas costas. Eurídice, sua mulher, a mãe de Hémon, matou-se. Entre os dois corpos que o acusam e o ferem, Creonte não é mais que uma criatura lastimável, um homem que se enganou e que soluça. Suplica a morte que venha, a morte que está presente naqueles a quem amava e que ele matou. Que ela o leve, por sua vez! Ela não responde.
E é neste momento em que, posto diante de nós, o mundo não é mais que sangue e lagrimas, neste momento em que o círculo de figuras humanas no meio das quais o poeta nos fez viver não é mais que um circulo de fantasmas feridos neste momento em que não esquecemos Antígona enforcada pelo seu véu na caverna -, é neste instante de horror acumulado que uma inconcebível alegria nos inunda. Antígona está em nós viva e radiosa. Antígona é deslumbrante e ardente verdade.
Ao mesmo tempo, Creonte começa a erguer-se no nosso coração como uma outra luz fraternal - Creonte derrubado pelos deuses, mas que nos é proibido ferir. Todo o comprimento do corpo de Hémon, posto entre nós é o pai ajoelhado, como um laço de ternura e piedade, defende Creonte dos nossos golpes.
E agora é preciso compreender. Esta exigência não é mania de intelectual. A nossa sensibilidade comovida até as entranhas, até as raízes do nosso entendimento, obriga-nos a fazer o esforço de encontrar o sentido da tragédia. O poeta pede-nos que demos uma resposta à pergunta que Antígona e Creonte nos dirigem.
Antígona põe um problema de valores, e, porque o põe, grande é para o critico a tentação de a reduzir a uma peça de tese e ver as personagens apenas como sinais algébricos dos valores que representam. Nada falseia mais o nosso juízo sobre Antígona que ver nela um conflito de princípios. Nada, alias, é mais contrário a caminhada criadora do poeta que a ideia de que a sua criação proceda do abstrato para o concreto. Antígona Não é uma competição de princípios, é um conflito de seres, de seres humanos fortemente diferenciados e caracterizados, um conflito de indivíduos. As personagens do drama estão diante de nós como sólidos. E até esta solidez (no sentido geométrico), é a densidade da sua substância que nos permite - mas só depois - projeta-las no plano das ideias.
É pois destas pessoas, do seu ser agravante e convincente que devemos partir para tentar apreender o sentido da obra de Sófocles, sem esquecer pesar nas nossas balanças a qualidade do prazer que esta obra nos dá.
Não esperemos aliás o sentido do drama de nenhuma personagem isolada, por mais importante que ela seja. Um grande poeta nunca se decalca em uma personagem privilegiada. É a presença do poeta em cada uma das suas criaturas que nos liga a elas, nos introduz nelas, nos serve de intérprete para entender a linguagem dessas almas, primeiro estrangeiras e dissonantes, mas que finalmente falam uma só voz, a sua tornada nossa. Entre todos os poetas, o poeta trágico - porque é trágico - só se deixa entender no concerto desses filhos inimigos que se batem nele e em nós, e que nós amamos porque são ao mesmo tempo ele e nós. Concerto por muito tempo irritante antes de se tornar harmonia. Lento caminhar, dolorosamente, deliciosamente inscrito na nossa sensibilidade antes de alcançar o nosso entendimento - pelas vias da carne e do sangue.
Antígona e Creonte batem-se à navalha. Porque é tão violenta a sua luta? Porque sem duvida jamais existiram dois seres ao mesmo tempo tão diferentes e tão semelhantes. Caracteres idênticos, almas inversas. Vontades inflexíveis: vontades marcadas desse indispensável endurecimento, armadas dessa intolerância necessária a todas as almas ébrias de eficácia.
"Caráter inflexível", diz o coro, falando de Antígona, "é bem a filha de um inflexível pai".
Antígona é chamada "intratável", é cruel e crua - como o foi Édipo, duro consigo mesmo até a esses olhos que ele cega, e Antígona até ao enforcamento - como ambos são duros para com os outros.
Mas a filha de Édipo é bem sobrinha de Creonte. Nas alturas de grandeza em que cada um pretende instalar-se, o mesmo enrijamento do ser os fixa em arestas vivas.
"Espirito rígido, caráter duro", diz Creonte de Antígona, ignorando que ao defini-la assim e a si mesmo que se define. E gaba-se de que esses espíritos duros são também aqueles que se partem mais repentinamente, como o ferro endurecido ao fogo, que julgávamos mais solido. Mas falando assim o risco que corre Antígona, é a sua própria aventura que ele descreve de antemão. Veremos a sua vontade tensa até ao limite quebrar-se sob o efeito das ameaças do adivinho Tirésias.
Para com outrem, para aqueles que lhes querem bem, há em Antígona e em Creonte o mesmo reflexo de defesa, a mesma recusa brutal da afeição que pretende salva-los. Antígona frente a Ismene, Creonte frente a Hémon: imagens simétricas de um frontão em que, sob o signo da violência, se exaltam os demônios da grandeza solitária, calcando aos pés quem queira deter-lhes o impulso. O mesmo furor feroz e desprezador, os mesmos ultrajes a quem tente dobra-los, leva-los a refletir um só momento. Seguem o seu caminho reto. Pouco importa que, aos nossos olhos, tenham ou não tenham razão: o que conta para nós e nos convence é a fidelidade que cada um deles guarda a si mesmo. Nisto, como Antígona, é fiel Creonte; se cedesse a quem o ama e o aconselha, trairia o compromisso que assumiu consigo mesmo de ir até ao termo do seu destino, seja o que for que aconteça. Na verdade, o equilíbrio do mundo que um e outro se obstinam em constituir paga-se por este preço. Uma só vacilação da vontade e este mundo desaba. Quando Creonte verga, desmoronar-se-á com ele a estabilidade do universo que nos prometera.
Eis porque Antígona e Creonte odeiam a quem os ama. O amor que os desvia da sua obra, que recusa empenhar-se com eles na sua obra, essa teimosia do coração, aos seus olhos, Não é amor nem merece amor. "Amar-me por palavras, Não é amar-me", diz Antígona a Ismene. E mais:
"As tuas palavras só merecem o meu ódio".
Quem não é por eles, é contra eles. Creonte diz a Hémon:
Para que servem os filhos, senão para pagarem aos nossos inimigos o mal que nos fazem, senão para honrarem e estimarem aqueles que nos estimamos! Um impõe ao filho, como a outra a irmã, o mesmo tudo ou nada. Exigem a mesma escolha absoluta que eles fizeram. A natureza de Antígona não é menos tiranica que a de Creonte.
Digamos a palavra: possui-os o mesmo fanatismo. Uma ideia fixa os habita. Um objeto único exerce neles uma fascinação que os torna cegos a todo o resto. Para Antígona, o corpo não enterrado de Polinices; para Creonte, o seu trono ameaçado. A este objeto dão tudo de antemão, tudo sacrificam, incluindo a vida. Jogam tudo nesta carta, que é para eles o bem supremo. Com delicia. Todo o fanático é um jogador: conhece o êxtase da perda e da salvação postas no mesmo lance decisivo.
É este prazer agudo da vida reduzida a delgada espessura de uma carta de jogar que nos fazem saborear a cada momento os furores contraídos de Creonte e de Antígona. O nosso ser, mobilizado como o deles ao serviço não da sua ideologia, mas das suas paixões que se defrontam, saboreia duas vezes a angústia e duas vezes a alegria de sentir a vida empenhada, com o mesmo apetite de rigor, o mesmo deprezo do risco, num combate contra a morte.
Toda a grandeza se quer exclusiva. O fanatismo de Antígona e de Creonte explica as regiões obscuras da sua psicologia. Alguns críticos perguntam como é possível que Antígona esqueça Hémon tão inteiramente como o faz. Julgam pouco verosímil que ela possa roçar o drama de Hémon, atravessar a sua própria tragédia, sem sequer pronunciar o nome do seu noivo. Por isso alguns desses críticos de coração sensível tomam o partido de atribuir a Antígona este verso que os manuscritos de Sófocles põem na boca de Ismene: "O caro Hémon, como teu pai te ultraja!" Este "caro Hémon" suspirado parece-lhes atenuar o rigor insuportável em que se encerra Antígona e tomar enfim tocante a heroína.
Mas será necessário corrigir o texto de Sófocles para tornar Antígona suportável? O seu silêncio sobre Hémon será incompreensível a esse ponto e enfim tão chocante? Na verdade, esse silêncio não é um esquecimento daquele a quem ela ama e das alegrias que o amor de Hémon lhe prometia. A cena em que a moça se lamenta por deixar a vida sem conhecer as núpcias, sem "ter dado o seio a um filho", assaz o prova. Com estas estâncias admiráveis, em que o amor da vida e das suas alegrias se exprime plenamente à aproximação da morte, não ficamos finalmente satisfeitos de palavras "tocantes"? Contudo, se mesmo nesse momento, e com mais forte razão no decurso do seu combate com Creonte, Antígona não invoca Hémon, esse silêncio explica-se pela concentração voluntária do seu pensamento na desgraça do irmão, pela reunião de todas as forças do seu ser sensível ao serviço da sua fraternidade. Antígona quer-se exclusivamente fraternal. Repele, senão para fora de si mesma, recalca pelo menos no fundo de si mesma, em regiões onde já não têm poder nos seus atos, todos os sentimentos que a desviariam do puro amor de Polinices.
Pelo mesmo traço de carácter se iluminam as obscuridades de Creonte. Este homem é inteligente. Tem uma visão clara do objetivo que se fixou, e que é o de reinar na ordem. Ama seu filho, sua mulher, ama a sua cidade. Egoistamente, sem dúvida, pelo prazer, pela honra e pelo proveito que retira destes bens que lhe pertencem, mas, enfim, ama-os no seu nível de amor, como bom tirano da sua família e do Estado. O fim do drama mostra a força da afeição de Creonte pelos seres que dependiam dele.
Sendo assim, como é possível que este homem avisado, decidido a usar dos bens que a vida lhe oferece, se mostre finalmente tão limitado na conduta da sua vida e no exercício do poder? Como se acha ele incapaz de compreender uma só das boas razões que lhe dá o filho, surdo a essa voz que lhe anuncia claramente a sua perda, se ele pretender governar sozinho contra a opinião de todos? Na verdade, não há nada nesta obscuridade que não seja claro. Está na natureza de Creonte pôs-se todo inteiro, como Antígona, em toda a ação que empreende. Tendo decidido lutar contra a revolta e a anarquia, conduzirá sem derivação a luta ao seu termo, seja esse termo mortal. A cegueira e a obsessão da ideia fixa reconhecem-se nomeadamente no fato de ver até onde ela não está a rebelião que decidiu castigar no corpo de Polinices e depois em Antígona. Ela ergue-se por toda a parte no seu caminho, fantasma do seu espírito, mas que o obriga a esmagá-la. Não somente em Antígona, mas absurdamente no soldado que prende Antígona e a entrega, e que ele supõe pago pelos seus inimigos. Mais absurdamente em Ismene, terna garota de quem faz uma sombria conspiradora. As tímidas reservas do coro são ainda, aos seus olhos, rebelião. Rebelião, os sensatos conselhos do filho, que só procura tornar mais firme a sua autoridade. Rebelião, os silêncios como os murmúrios da cidade. Rebelião, as graves advertências de Tirésias — adivinho cúpido, vendido à conjura da sua família e da cidade! Fechado pelo fanatismo do seu caráter não só na decisão que tomou, mas nesse mundo imaginário que essa decisão construiu em redor de si e de que ela pretende manter-se senhora, não deixando entrar nela, nem o amor do filho, nem o bom senso, nem a piedade, nem mesmo o simples interesse ou a inteligência da situação — quem quebrará a obsessão, quem forçará este cerco estranho, este bloqueio erguido por Creonte contra si mesmo? O seu fanatismo entregou-o à solidão, fez dele o alvo de todos.
Naqueles mesmos que o querem salvar, não pode ver senão inimigos. "Vamos!, como arqueiros, apontai, desferi todos contra mim..."
Uma ameaça, para o final do drama, pesa sobre Creonte como sobre Antígona: é a solidão, escola e armadilha das almas ébrias de absoluto.
No entanto, não é à mesma solidão que Antígona e Creonte estão votados pela forma idêntica do seu carácter cortante.
Deste extremo parentesco de caráter, aliás, nada há a tirar contra o fanatismo em si. A intolerância é, para todas as almas combativas, a forma necessária, e a única eficaz do seu combate.
Verdadeiramente, outra coisa, que não o caráter, conta na luta e define os seres: a qualidade da alma. Antígona e Creonte manifestam, no choque das suas vontades semelhantes, não apenas uma evidente identidade de caráter, mas uma qualidade de alma tão diferente que de repente nos surpreendemos de que tenham podido aproximar-se estes dois seres. Tanto quanto são talhados em arestas semelhantes os contornos do caráter, assim difere o conteúdo da alma. Esta diferença essencial permitirá a Antígona encontrar paradoxalmente na sua morte solitária o meio de escapar a essa solidão que de Creonte vivo fará presa sua.
Assim, nestas duas personagens, se desenham duas vontades de força igual, mas orientadas para pólos opostos. Duas vontades iguais e de sinal contrário.
Em Antígona há uma alma toda cheia de amor. Antígona. áspera de aparência, tem a doçura íntima de uma natureza de amante, como de amante tem o ardor. É uma ternura profunda, é um amor ardente, quase absurdo, que faz dela o que ela é, que põe nesta garota este furor de sacrifício, esta energia de homem, e a sua dureza e os seus desprezos. Porque a doçura torna-se dureza quando se ama, e o humilde serviço desprezo e desdém por tudo quanto não seja o amado. E o amor se torna ódio. Antígona odeia a quem quer que — sobretudo a terna Ismene, terna como ela — recuse segui-la lá aonde a leva o profundo impulso do seu amor.
Os mortos que ela amou, que ela continua a amar como vivos, viva ela, aqueles a quem incessantemente chama "os meus, meus bem-amados", são os senhores soberanos da sua alma. Entre todos, "o irmão bem-amado", esse irmão negado à paz da terra, negado às suas lágrimas, esse corpo vergonhosamente prometido aos animais, esse "caro tesouro" da sua alma, é o senhor a quem ela se deu toda, capaz só ele de a fazer amar a morte, de fazer-lhe, não aceitar, mas abraçar num movimento de profunda aiegria, de alegria misturada de lágrimas, mas tão intensa que para ela a dor se transforma em canto.
Como toda a paixão, este amor arde nela com uma labareda devoradora. No seu braseiro aniquilam-se enfim todos os seus outros amores, pálidos perante o brilho intenso da chama única. Os mais seguros, os mais experimentados — o de seu pai e o de sua mãe —, os mais desejados — o desse marido que Hémon não será, o dos filhos que ele não lhe dará nunca. Todos esses amores, é necessário que ela os esqueça e que, mesmo quando os chora, quando afirma a necessária ternura deles ao seu coração, chegue a renegá-los, porque um só amor enche todo o campo da sua alma, o amor de seu irmão; é necessário que a esse irmão único, insubstituível, ela leve, ao juntar-se-lhe na morte, a oferenda de um coração que não pode dividir-se. O absoluto da paixão, a sua tirania sem condições, afirma-se numa passagem singular que muitos modernos não compreenderam e cuja paternidade alguns — o próprio Goethe — tentaram ou desejaram retirar a Sófocles. É a passagem em que Antígona declara com veemência que o que fizera por seu irmão, o não faria nem por um marido nem por um filho. Porquê? Porque o irmão, diz ela, uma vez mortos os pais, é o único insubstituível. Detenhamos a nossa atenção. Não há aqui outra coisa que um sofisma do coração, uma dessas costumadas tentativas (muito costumadas no espírito grego) de fundar em razão o que é movimento primeiro da alma. Neste desvario de Antígona afirma-se, com toda a clareza, a extrema violência da paixão que a arrebata ao procedimento normal, que a leva à renegação de tudo quanto não seja o seu único objeto.
O irmão é o seu tudo. Liga-se a ele como a um amor que não pode acabar. Persegue-o na morte. É inseparável da sua duração. "É belo para mim morrer por ele... Repousarei junto de ti, meu bem-amado... Debaixo da terra, ficarei estendida para sempre".
Na verdade, não é nunca o seu cérebro, não é nunca um raciocínio ou um princípio que a conduzem, é sempre ao seu coração que ela segue, é a exaltação do sentimento que a lança na morte. Diz-lhe Ismene desde os primeiros momentos: "Coração que arde pela morte glacial." E ainda:
"Tu vais, querida e louca, fiel ao teu amor".
Mas é a própria Antígona que define mais exatamente a sua natureza no verso cintilante em que proclama a sua recusa de odiar em Polinices o inimigo da sua terra: "Eu não nasci para partilhar o ódio, mas para partilhar o amor".
Pura natureza de amorosa, que não põe ao amor nenhuma condição, nenhuma restrição... Mas a densidade da expressão grega é aqui dificilmente traduzível. "Eu nasci", diz Antígona, "— é a minha natureza, o meu ser... — para partilhar o amor: para o dar e para o receber, para viver na comunhão do amor".
Não nos iludamos. O ato de Antígona é-lhe ordenado pela sua natureza antes mesmo de lhe ser prescrito pelos deuses. Nela, o amor está primeiro, "é de nascença". Se não amasse seu irmão, não descobriria em si essas leis divinas, eternas, não escritas, que lhe ordenam salvá-lo. Essas leis, não as recebeu ela de fora: são as próprias leis do seu coração. Digamos, pelo menos, que é pelo coração, no impulso do amor, que ela acede ao conhecimento da vontade divina, à claridade da exigência espiritual. Amor carnal, no sentido de que se trata do amor de um corpo. É ao amor do corpo fraterno que Antígona vai buscar toda a força de revolta que a levanta contra a vontade dos homens, toda a força de obediência que inteiramente a submete a Deus.
Reconheçamos o amor pelo poder de amplitude, pela sua força fecundante. Se é um Eros que manda Antígona ao suplício, e se este Eros, exclusivo e cioso como todo o Eros, parece fechar esta alma a tudo quanto não seja a salvação fraterna, não é também ele — Eros Gerador — que a fecunda com a mais alta realidade que há no mundo de Sófocles, a Palavra divina? Antígona traz consigo e mostra à luz do dia esta Palavra com uma irradiante segurança. A morte, para ela, nada é, agora que concebeu e amadureceu no amor este fruto esplêndido. Diz Antígona:
"Não são de hoje, nem de ontem, as leis dos deuses, são de sempre... Se eu morrer antes de tempo, sei que a morte é para mim um ganho... um mal que não conta. Desgraça teria sido deixar sem sepultura o filho de minha mãe... O resto é-me indiferente".
Indissolúveis são em Antígona o testemunho prestado à lei divina, o dom da sua vida, o amor de seu irmão.
Tal é o destino de Antígona no amor. Dele assume a vocação mortal e, se dele conhece a cegueira, colhe nele também essa lucidez do olhar que visa o centro do ser, essa autoridade de mensagem que o amor concede às almas mais altas.
Daí esse verso singular, já citado, quase incompreensível: "Eu não nasci para partilhar o ódio, mas para partilhar o amor".
Disse eu, e diz-se à saciedade, que este verso define Antígona, mas é evidente que a define ultrapassando-a. Porque temos também de observar que Antígona nem sempre conforma com ele os seus atos. Ela trai esta palavra quase profética, ao mesmo tempo que lhe permanece fiel. Há ali uma declaração que é arrancada ao devir de Antígona, ao para além de ela própria, pela natureza profunda de Antígona, ou antes, pelo seu devir, dela própria des conhecido. Uma palavra arrancada pela violência do conflito trágico ao próprio poeta. A sua personagem, neste rasgo, ultrapassa-o, ultrapassa também os séculos...
Em Antígona, tudo é amor, ou tudo o será. Em Creonte, tudo é amor-próprio, entendido no sentido clássico: amor de si mesmo.
Sem dúvida, Creonte, de uma certa maneira, ama os seus: sua mulher, seu filho, os seus súbditos. Mas ama-os sobretudo na medida em que eles manitestam e servem a sua força, instrumentos e argumentos do seu Eu. O que significa que os não ama. A infelicidade deles é-lhe indiferente, só a perda deles o fere. O seu ser é-lhe inteiramente inacessível. Não compreende nada nem ninguém fora de si mesmo, esse Si que completamente o ocupa, aliás sem por isso ver mais claro em si.
Todo o amor lhe está fechado. Todo o amor que diante de si se exprime, imediatamente o fecha. O de Ismene pela irmã, o de Hémon por Antígona. Amor não é para ele outra coisa que desrazão — fora da união carnal. Quando lhe perguntam se realmente mandará matar a noiva de seu filho, responde com uma completa grosseria que não é mais que uma total incompreensão do amor: "Ele encontrará outros ventres para lavrar".
Assim ignora o amor, e assim ignora o filho.
Creonte odeia e despreza o amor. Tem medo dele. Teme este dom que o obrigaria a abrir-se a outrem e ao mundo. Porque Creonte — e nisto atinge-nos num dos perigos de nós próprios — alimentou em si o gosto do poderio até ao ponto em que ele se inverte em impotência. Impressiona-nos que com todos os atributos do poder a ação de Creonte acabe por revelar-se pura impotência. Este homem traz em si autênticas verdades: a essencial esterilidade desta natureza rebelde ao amor toma infecundas essas verdades. Ao tomar a defesa da cidade, ameaçada pela traição de Polinices e pela indisciplina de Antígona, Creonte parece por um instante consagrar-se a um objeto que o excede. Na sua luta pela salvaguarda da ordem pública, no seu combate contra aqueles a quem chama. Hémon incluído, os anarquistas, Creonte dispõe, de começo, de todos os argumentos capazes de nos convencerem. Nós sabemos que a comu nidade precisa, num perigo extremo, de ser defendida contra as Antígonas. Sabemos que não há, na profissão de fé política que Creonte faz perante o seu povo, a menor hipocrisia. Mas também não há amor. A natureza de Creonte é, sm seu princípio, infecunda. Toda a verdade, de que ele se apresenta como honesto portador, se revela neste solo ingrato verdade cerebral, semente vazia.
Quando Creonte treme de cólera pela cidade posta em perigo, não será antes de medo que ele treme, de medo por si mesmo? O fundo deste grande rei é o medo. O medo sempre ligado à impotência. Em volta da sua pessoa, cada vez mais entrincheirada no medo. Creonte não vê senão inimigos e conspirações. A cidade fala-lhe claramente pela voz dos velhos: o medo fá-lo atrever-se a enfrentar estas advertências. Os deuses falam-lhe: o medo leva-o a horríveis blasfêmias, porque ele desconfia que os deuses de Tirésias se passaram para o campo dos adversários. À medida que a peça avança, a cortina de idealismo que ele descera entre si próprio e o povo, quando do seu discurso do trono, desvanece-se, frágil. Os acontecimentos obrigam-no a dizer claramente o que a si próprio escondia. Não é já a cidade que reclama o castigo dos traidores, é o terror que cresce e reina no seu Eu. Forçado no retiro onde se esquivava sob o véu de verdades não assumidas no compromisso do amor, o Eu afirma-se diante dos homens e dos deuses na sua medrosa nudez. O homem que se apresentava gloriosamente como defensor exemplar da comunidade não é mais. descoberto aos nossos olhos, que o Indivíduo puro.
Porque não amou senão o seu próprio poder, a sua única personagem, a ideia lisonjeira que de si mesmo fazia — mas seria isso amar? — . Creonte esta finalmente condenado à solidão. Filho, mulher, poder, tudo perde ao mesmo tempo. Ei-lo reduzido a esse pobre invólucro de si mesmo, que em vão inchara de falsa autoridade. Também Antígona — disse-o já — estava só no momento de abandonar a vida. Ninguém, nem sequer o coro, concedia lágrimas à sua sorte, na sua lenta caminhada para o túmulo onde ia ser enterrada viva. Contudo, a solidão patética de Antígona era apenas aparente. Solidão necessária a toda a criatura humana no seu último combate. Mas não solidão da alma. Antígona, mesmo nesse momento, tem consigo os seus mortos, o irmão bem-amado. O amor uniu-a à totalidade divina. Ao passo que Creonte, no centro desse círculo de piedade onde o poeta instala toda a criatura sofredora criada pelo seu gênio, surge reduzido à mais desértica solidão: os deuses que ele pretendia aliciar ferem-no, a cidade abandona-o, e os seus mortos — esse filho e essa mulher monstruosamente sacrificados à hipertrofia do seu Eu —, longe de serem no seu coração quentes presenças, uma vida querida e nutriente, nada mais são aos seus olhos, que procuram ainda apropriar-se deles, que cadáveres.
Contudo, este Creonte, este Creonte assustador e desolado, esta figura do erro humano, coloca-a também o poeta em nós, não apenas como uma advertência, mas como um ser fraterno. Ao longo de todo o drama, e, neste derradeiro minuto, com uma extrema densidade, Creonte viveu em nós como uma parte autêntica da nossa pessoa. Culpado, decerto, ele o é, mas demasia damente próximo dos nossos próprios erros para que pensemos em condená-lo do alio de qualquer princípio abstracto. Creonte faz parte da nossa experiência trágica. A sua maneira, ou no seu lugar, ele tinha razão e era preciso que agisse como agiu para que o poema de Sófocles pusesse em nós o seu fruto, que é o conhecimento integral que tomamos da nossa pessoa divina e do mundo em que é destino dela agir.
Somos, pois, ao mesmo tempo, Antígona e Creonte e o seu conflito. É este um dos rasgos mais claros do génio de Sófocles: fazer-nos participar da vida de cada uma das personagens de maneira tão íntima que a cada uma delas, no momento em que está diante de nós e se exprime, não podemos fazer outra coisa que dar-lhe razão. É que cada uma delas fala e vive em nós: nelas, é a nossa voz que ouvimos, a nossa vida que se descobre.
Sófocles não é um desses escritores que nos dizem grosseiramente: este tem razão, este não tem razão. O seu amor por cada um dos seres nascidos de si é tão forte que cada um deles tem razão no lugar que ocupa no mundo do poeta. A cada um deles aderimos como a um ser verdadeiro, duma verdade por nós próprios experimentada. Até o jovem soldado que. no momento em que fala, está contente por salvar a vida graças à captura de Antígona e se lamenta por entregá-la ao príncipe que a castigará — esse rapaz ingénuo tem razão plena em nós. Razão de salvar a pele e de estar contente por consegui-lo. E nós teríamos feito o que ele fez. Razão de ser fiel à sua natureza, que é uma parte importante de toda a natureza de homem. Razão sobre a terra firme onde todos estamos postos. E a instável Ismene também tem razão de ser simplesmente e puramente, contra a viril Antígona, uma tema natureza de fraca mulher, sábia na sua fraqueza conhecida e consentida e de súbito tão forte como sua irmã, no seu brusco ardor de sacrifício.
E se Antígona tem razão, supremamente razão no zénite da tragédia, a essa altura do heroísmo puro a que a sua natureza lhe permite subir e para que nos convoca, também Creonte contra ela e em nós tem razão, praticamente razão, ao nível necessário da política, no plano constrangedor da cidade em guerra. Mesmo levados pelo desenrolar do drama a não dar razão a Creonte por ter confundido o seu prestígio e o bem do Estado e apenas por isto, não nos desligamos humanamente dele: o se,u erro é por demais natural, por demais inscrito na natureza perigosa da ação política, para que o não confessemos como uma parte de nós próprios. Sabemos, aliás, com Creonte, que tudo é legítimo para o poder, na comunidade posta em perigo pela "anarquia" de uma Antígona que é a do Espírito que sopra perigosamente onde quer. Sabemos também obscuramente e é essa a desgraça das cidades –, que, as mais das vezes, são os Creontes que as defendem. São feitos para esta tarefa. Melhor ou pior, eles a fazem: nela se sujam, nela se perdem, porque poucas tarefas há que exponham mesmo um bom operário a mais ingratos erros. Através destes erros, os Creontes guardam contudo a sua natureza – baixa, porque não se salvam os Estados com nobres pensamentos, mas com atos rudes e grosseiros – uma espécie de fidelidade. Esta ligação, na nossa vida, da ação à baixeza conhecemo-la, como uma necessidade da nossa condição, uma das partes mais pesadas da nossa natureza. Somos feitos do tosco barro de Creonte – para quê contestá-lo? muito antes de sermos animados pela viva labareda de Antígona. A região menos confessada do prazer trágico, aquela que exige da parte do poeta um incrível esforço de arte e de amor, é essa piedade lúcida, essa corajosa confissão de fraternidade que de nós arranca para com os "maus". Seria fácil lançá-los fora de nossa alma. Mas a verdade da arte e o nosso prazer são a este preço: é preciso que as confessemos.
Assim Sófocles acorda as figuras adormecidas do nosso ser. Faz falar as nossas vozes mudas. Traz à claridade da consciência a nossa secreta complexidade. Tudo o que se procurava em nós e se estreitava envergonhadamente na escuridão, agora se conhece e combate a rosto descoberto. O conflito das personagens é o nosso e põe-nos em perigo. O desenlace faz-nos tremer. Mas também trememos de alegria, deslumbrados de prazer por ver assim postas a luz do dia as riquezas inexploradas da nossa vida possível. Pois é bem o tesouro do nosso possível que o poeta desdobra do combate. Mas o poeta trágico instala em plena luz esta desordem da nossa vida interior e do mundo precisamente para dela tirar a ordem. Do conflito trágico propõe-se ele tirr um prazer mais alto que a simples enumeração das nossas riquezas: o da sua disposiçnao e da sua valorização. Chocando um contra o outro os temas trágicos que nos dilaceram, e sem nada deixar perder das nossas riquezas recuperadas, compõe finalmente, para nossa sedução, a magia de uma música que, exprimindo-nos inteiramente, nos forma e nos arrasta para novos combates.
A tragédia Antígona visa pois a ordenar as figuras do nosso ser em um equilíbrio em que o nosso mundo interior, espelho do conjunto das coisas, se continua e se explica. A operação trágica e o prazer que ela nos dá resolvem em harmonia os valores antagonistas que as personagens nos propõem. Valores de um certo ângulo, mais largo ou mais estreito, todos válidos, mas que a arte do poeta, depois de os ter feito jogar um contra o outro, experimentar um pelo outro, coloca e hierarquiza um em relação ao outro. Assim teremos um após outro, ou antes, um no outro, o prazer da complexidade da vida, da riqueza do nosso ser e o da sua unidade, do seu "sentido". O prazer de possuir toda a nossa vida na profusão das suas tendências e o de escolher a sua "direcção".
Valores, pois. modos de vida válidos se propõem e parecem tatear-se um ao outro, até que encontrem em nós o seu movente equilíbrio. Creonte e Antígona são como duas zonas da vida humana que se buscam para se apoiarem uma na outra e que finalmente se graduam.
Em Creonte é-nos proposta uma ordem em que o Estado se situaria no cume do pensamento e dirigiria toda a ação. Para Creonte, a cidade impõe aos vivos o seu serviço e é a sua conduta cívica que regula a sorte dos mortos. Honrar Polinices. diz Creonte. seria ultrajar Etéocles. Creonte crê nos deuses, mas os seus deuses vergam-se estritamente a esta ordem cujo pólo é cívico: estão, como os homens, comprometidos no serviço do Estado. Creonte está fechado a deuses que não tenham por primeira função assegurar a estabilidade do Estado e por consequência punir os rebeldes. Quando Tirésias lhe faz entender a linguagem dos deuses, que são outra coisa que não isto, blasfema. Deuses e sacerdotes são funcionários, ou não o são. Os deuses estão nacionalizados (como tantos outros na história). Defendem fronteiras. Honram o soldado que cai ao defender as mesmas fronteiras que eles. Castigam quem quer que, fora ou dentro — Polinices ou Antígona — . se recuse a conhecer a ordem estabelecida e garantida por eles, a autoridade suprema do Estado...
O limite da ordem de Creonte é o fascismo.
Frente a este mundo de Creonte, em que tudo está no Estado, eis, mais vasto, o cosmos de Antígona. Ao passo que Creonte submete o homem e os deuses, e todo o valor espiritual, à ordem política e nacional, Antígona, sem negar os direitos do Estado, limita-os. Os decretos de um homem, diz ela, desse homem que fala em nome do Estado, não podem prevalecer sobre as leis eternas de que a consciência é depositária. Antígona não contesta a lei dos homens, mas afirma a existência duma realidade superior que, a ela, lhe foi revelada no amor que dedicava a seu irmão. A esta realidade imediatamente mscrita na sua consciência, sem livro nem sacerdote — "lei não escrita", precisa — , considera Antígona que deve submeter-se a ordem política, pelo menos nesta circunstância precisa que foi para ela a ocasião desta tomada de consciência.
Este dado da consciência é um absoluto: a distinção entre o bem e o mal. tal como a define a ordem política, apaga-se diante dele. A Creonte que se indigna: "Mas deverá o homem de bem ter a mesma sorte que o criminoso?" Antígona responde claramente: "Quem sabe se as vossas fronteiras têm sentido entre os mortos?" Verdadeiramente. Antígona — e é muito importante notá-lo — não contesta a Creonte o direito de a condenar à morte. Limita-se a manifestar, pela sua morte livremente escolhida, o primado da ordem espiritual, que ela encarna, sobre a ordem política. Nada mais, mas nada menos também. Na sua alma aprendeu ela uma realidade: ao morrer, testemunha que esse bem é superior à vida.
Assim, enquanto a ordem de Creonte tende a negar Antígona e se esforça por aniquilá-la, Antígona, em contrapartida, não nega Creonte e, se Creonte é o Estado, não contesta a legitimidade da sua existência. Antígona não nos tira esse Creonte que nós reconhecemos como parte do nosso ser. Não o aniquila, antes o coloca no seu lugar, o classifica. Grande é o nosso prazer ao sentirmos que nada do que na nossa natureza pede para viver é abafado ou mutilado pelo desenvolvimento e desenlace do conflito trágico, mas antes ajustado e harmonizado. Este conflito Antígona-Creonte, apoiado pela presença de valores secundários, mas todos autênticos e preciosos, que as outras personagens propunham, não se resolve, com efeito — apesar do sangue dos suicídios e dos gritos do desespero — , em destruição dos laços que possuíamos em cada um desses seres opostos: todas as personagens permanecem vivas e princípios de vida nesta harmonização recíproca a que as vergam o génio do poeta e a soberania da sua criatura eleita — Antígona. Porque esta Antígona, repudiada por todos ou separada de todos, é finalmente por todos confessada como rainha e senhora de suprema verdade.
Nesta harmonia que a tragédia faz nascer em nós, nada nos enche de mais profunda alegria que o triunfo de Antígona sobre Creonte, que a certeza da verdade de Antígona em relação a Creonte.
Antígona é liberdade, Creonte é fatalidade: é aqui que está o sentido do drama e o eixo do nosso prazer.
Antígona é o penhor do primado da alma livre sobre as forças de servidão que a cercam.
Antígona é uma alma livre que recebeu o dom da liberdade no comprome timento do amor. Em todos os momentos do drama acompanhamos o seu irresistível impulso para um infinito de liberdade. Na sua essência, ela parece anárquica. Ela o é, e nisso Creonte não se engana — pelo menos numa sociedade em que o poder não conhece o seu domínio e o seu limite. O que é o mesmo que dizer que Antígona é «anarquista» numa sociedade anárquica. De resto, em todas as sociedades históricas, a liberdade da pessoa chocou sempre, até aqui, com a autoridade do Estado. Existe uma necessidade da comunidade, existe uma fatalidade da sociedade. Creonte recorda-o com rigor. Ele próprio é a expressão dela, no que essa ordem pública tem de necessário, de rigoroso e, por vezes, de ofensivo.
Na sociedade histórica em que Antígona nasceu, e na nossa ainda. Antígona tem de morrer. Mas a alegria que por esta morte experimentamos seria comple tamente inexplicável se ela não significasse que a exigência fundamental de liberdade que ela manifesta está em acordo, como Antígona o declara, com as leis secretas que regem o universo. A sua morte não é mais que um modo da sua existência transferida em nós. Ela é o princípio da nossa libertação em relação à ordem de fatalidade que ela combateu. A sua morte condena a ordem de Creonte. Não a ordem de todo o Estado, mas todo o Estado cuja ordem ofusque a livre respiração da nossa pessoa. Graças a Creonte, sabemos, melhor ou pior, que o cidadão é solidário da sorte da comunidade, que esta tem direitos sobre ele, que ele deve defendê-la, se ela merece ser defendida, e que a sua vida — não a sua alma — lhe pertence em caso de necessidade. Mas sabemos também, graças a Antígona, que num Estado que falta à sua tarefa, o indivíduo dispõe duma força revolucionária ilimitada, à qual vem associar-se o jogo das leis secretas do universo. Se, por outro lado, a força explosiva da alma, reprimida no impulso da sua liberdade, tende à destruição das fatalidades que a oprimem, a sua acção, longe de ser puramente destrutiva, é geradora de um mundo novo. Se a sociedade, tal como está feita, ainda entregue à pressão das forças trágicas, não pode deixar de esmagar as Antígonas, a existência das Antígonas constitui precisamente a promessa e a exigência duma sociedade nova, refeita à medida da liberdade do homem, uma sociedade em que o Estado, reconduzido ao seu justo papel, não será mais que o garante das liberdades desabrochadas, uma sociedade em que Creonte e Antígona, reconciliados na história como o estão já no nosso coração, assegurarão pelo seu equilíbrio o livre florescimento da nossa pessoa no seio duma comunidade razoável e justa.
É numa tal promessa que se enraíza profundamente o prazer trágico. As mais altas tragédias a contêm e a explicitam. Entre todas, Antígona.
O prazer que a tragédia nos dispensa não é pois somente repouso em nós de um conflito de tendências contrárias, postas à luz pelo espectáculo, conflito saneado e apaziguado pela claridade salubre da consciência. É também tensão nova: estas forças vitais que se contrariavam em nós. passa o prazer a conjugá-las num feixe de energias tendidas para a conquista e o gozo desse mundo novo prometido pelo poeta.
E já nessa terrível narrativa em que conhecemos a morte de Antígona, nesse supremo minuto do drama em que Creonte cai sobre o corpo do filho, se a atroz visão da rapariga enforcada, se a nudez do desespero de Creonte nos inundam de alegria, é porque uma certeza nos trespassa, é porque uma violenta confiança em nós próprios nos levanta frente ao destino: sabemos que nesse minuto da tragédia um mundo humano começou a nascer, um mundo onde nenhuma Antígona será jamais condenada ao suplício, nenhum Creonte mergulhará no embrutecimento da dor, porque o homem, empunhando a espada que o dividia e agora igual à fatalidade, terá vencido as forças trágicas.

Entre as criações do povo grego, a tragédia é talvez a mais alta e a mais ousada. Produziu ela algumas obras-primas inigualadas, cujo fundo, enraizado no medo das nossas entranhas, mas também florescendo na esperança do nosso coração, se exprime em uma beleza perfeita e convincente. O nascimento da tragédia, por meados do século V - no limiar da época clássica , está ligado a condições históricas que convirá recordar, embora de maneira breve, se quisermos apreender o sentido da orientação deste gênero novo. Por um lado, a tragédia grega retoma e prossegue o esforço da poesia anterior para por de acordo o mundo divino com a sociedade dos homens, humanizando ainda mais os deuses. Apesar do desmentido que lhe da a realidade quotidiana e a despeito da tradição do mito, a tragédia grega exige com veemência que os deuses sejam justos e façam triunfar a justiça neste mundo. Por outro lado, é também em nome da justiça que o povo dos Atenienses continua a travar uma luta duríssima, no plano da vida politica e no plano da vida social, contra os possidentes que são também os seus dirigentes, para lhes arrancar enfim a plena igualdade de direitos entre cidadãos - aquilo a que chamará regime democrático. É no decurso do ultimo período destas lutas que a tragédia surge. Pisistrato, levado ao poder pela massa dos camponeses mais pobres, é que ajuda o povo na conquista da terra, institui nas festas em honra de Dioniso concursos de tragédia destinados ao prazer e a formação do povo dos cidadãos.
Passava-se isto uma geração antes de Esquilo. Essa tragédia primitiva, ainda pouco dramática, ao que parece, e indecisa entre o riso lascivo dos sátiros e o prazer das lagrimas, encontra em um acontecimento imprevisto a sua escolha, a escolha da gravidade é aceita corajosamente o peso dessa gravidade, que doravante a define: escolhe como seu objeto próprio o encontro do herói e do destino, com os riscos e os ensinamentos que ele implica. Esse acontecimento que deu a tragédia o tom "grave", tom que não era o da poesia ática imediatamente anterior, foi a guerra persa, a guerra de independência que o povo ateniense sustentou por duas vezes contra o invasor persa. O combatente de Maratona e de Salamina, Esquilo, sucede a Anacreonte, espirito conceituoso e poeta de corte.
Esquilo é um combatente, refunda a tragédia, tal como a conhecemos, senhora dos seus meios de expressão. Mas funda-a como um combate. Todo o espetáculo trágico é, com efeito, o espetáculo de um conflito. Um "drama" , dizem os Gregos, uma ação. Um conflito cortado de cantos de angustia, de esperança ou de sabedoria, por vezes de triunfo, mas sempre, é ate nos seus cantos líricos, uma ação que nos deixa ofegantes, porque nela participamos, nós, espectadores, suspensos entre o temor e a esperança, como se se tratasse da nossa própria sorte: o choque de um homem de quatro côvados (de dois metros), diz Aristófanes, de um herói contra um obstáculo dado como intransponível, e que o é, a luta de um campeão que parece ser o campeão do homem, o nosso campeão, contra uma força envolvida de mistério - uma força que quase sempre, com ou sem razão, esmaga o lutador.
Os homens que conduzem esta ação não são "santos", embora ponham o seu recurso em um deus justo. Cometem erros, a paixão perde-os. São arrebatados e violentos. Mas tem, todos eles, algumas grandes virtudes humanas.
Todos, a coragem; alguns o amor da terra, o amor dos homens; muitos, o amor da justiça e a vontade de a fazer triunfar. Todos, ainda, estão possuídos de grandeza.
Não são santos, não são justos: são heróis, isto é, homens que, no ponto mais avançado da humanidade, ilustram, pela sua luta, ilustram em atos, o incrível poder do homem de resistir a adversidade, de transformar o infortúnio em grandeza humana e em alegria - para os outros homens, e antes de mais para os homens do seu povo.
Há neles qualquer coisa que exalta em cada um dos espectadores a quem o poeta se dirige, que exalta ainda em nós o orgulho de ser homem, a vontade e a esperança de o ser cada vez mais, alargando a brecha aberta por estes ousados campeões da nossa espécie no espago murado das nossas servidões.
"A atmosfera trágica", escreve um critico, "existe sempre que eu me identifico com a personagem, sempre que a ação da peça se torna a minha ação, quer dizer, sempre que eu me sinto comprometido na aventura que se joga... Se digo 'eu', é o meu ser inteiro, o meu destino inteiro que entra em jogo".
Contra quem se bate afinal o herói trágico? Bate-se contra os diversos obstáculos com os quais esbarram os homens na sua atividade, os obstáculos que dificultam a livre florescência da sua pessoa. Bate-se para que não se de uma injustiça, para que não se de uma morte, para que o crime seja punido, para que a lei de um tribunal vença o linchamento, para que os inimigos vencidos nos inspirem fratemidade, para que as liberdades dos deuses, se tem de ser incompreensível para nós, não ofenda ao menos a nossa liberdade. Simplifiquemos: o herói trágico bate-se para que o mundo seja melhor ou, se o mundo tem de continuar a ser o que é, para que os homens tenham mais coragem e serenidade para viver nele.
E ainda mais: o herói trágico bate-se com o sentimento paradoxal de que os obstáculos que encontra na sua ação, sendo intransponíveis, tem de ser transpostos, pelo menos se quiser alcançar a sua própria totalidade, realizar essa perigosa vocação de grandeza que traz em si, isto sem ofender o que subsiste ainda no mundo divino de crume (nemesis), sem cometer o erro da desmedida (hybris).
O conflito trágico é pois uma luta travada contra o fatal, cabendo ao herói afirmar e mostrar em ato que o fatal não o é ou não o será sempre. O obstáculo a vencer é posto no seu caminho por uma força desconhecida sobre a qual não tem domínio e a que, desde então, chama divina. O nome mais temível que dá a esta força é o de Destino.
A luta do herói trágico é dura. Por mais dura que seja, e ainda que de antemão pareça condenado o esforço do herói, lança-se nela - e nós, publico ateniense, espectador moderno, estamos com ele. É significativo que este herói condenado pelos deuses não seja humanamente condenado, quer dizer, condenado pela multidão dos homens que assistem ao espetáculo. A grandeza do herói trágico é uma grandeza ferida: quase sempre ele morre. Mas essa morte, em vez de nos desesperar, como esperaríamos, para além do horror que nos inspira, enche-nos de alegria. Assim acontece com a morte de Antígona, de Alcestes, de Hipolito, e de muitos outros. Ao longo do conflito trágico, participamos da luta do herói com um sentimento de admiração e, mais, de estreita fratemidade. Esta participação, esta alegria, só podem significar uma coisa - uma vez que somos homens: e que a luta do herói contém, até na morte-testemunho, uma promessa, a promessa de que a ação do herói contribui para nos libertar do Destino. A não ser assim, o prazer trágico, espetáculo do nosso infortúnio, seria incompreensível.
A tragédia emprega pois a linguagem do mito e esta linguagem não é simbólica. Toda a época dos dois primeiros poetas trágicos, Esquilo e Sófocles, é profundamente religiosa. Crê na verdade dos mitos. Crê que no mundo divino que apresenta ao povo subsistem forças opressivas que parecem votar a vida humana ao aniquilamento. O destino, por exemplo, como disse. Mas em outras lendas é o próprio Zeus, representado como tirano brutal, déspota hostil à humanidade, que desejaria destruir a espécie humana.
Estes mitos, e outros, muito anteriores ao nascimento da tragédia, é dever do poeta interpretá-los e faze-lo em termos de moral humana. Essa é a função social do poeta quando fala, nas Dionísias, ao seu povo de Atenas. Aristófanes, à sua maneira, confirma-o pela voz de dois grandes poetas trágicos, Eurípedes e Esquilo, a quem põe em cena, e que, adversários na sua comedia, se entendem pelo menos na definição do poeta trágico e no objetivo que ele se deve propor. Em que deve ser admirado um poeta?... No fato de tornarmos melhores os homens nas cidades.,, (E a palavra " melhores" significa mais fortes, mais adaptados ao combate da vida.) A tragédia afirma a sua missão educadora.
Na época de Esquilo, o poeta trágico não considera ter o direito de corrigir os mitos, menos ainda reinventá-los à sua vontade. Mas estes mitos são contados com numerosas variantes. Entre essas variantes da tradição popular ou da tradição dos santuários, Esquilo escolhe. Esta escolha tem de ser feita no sentido da justiça, e ele assim o faz. Razão porque o poeta educador do seu povo escolhe as lendas de mais difícil interpretação, aquelas que parecem trazer mais claro desmentido a Justiça divina. São essas, com efeito, que mais o perturbam e que perturbam a consciência do seu povo. São as lendas trágicas, aquelas que fariam desesperar de viver, se o trágico não pudesse ser, no fim de contas, resolvido em justa harmonia.
Mas porque essa exigência, sempre dificilmente satisfeita, de justiça divina? Porque o povo ateniense traz na sua carne as feridas do combate que sustentou, que ainda sustenta pela justiça humana.
Se, como muitos o pensam hoje, a criação poética, a literatura não são outra coisa que o reflexo da realidade social (pode o poeta ignora-lo, mas não é isso que importa), a luta do herói trágico contra o Destino não é mais que a luta, exprimida na linguagem do mito, conduzida pelo povo, do século VII ao século V, para se libertar das violências sociais que o oprimem ainda no momento em que a tragédia nasce, no momento também em que Esquilo é o seu segundo e antético fundador.
É no decurso desta luta secular do povo ateniense pela igualdade politica e pela justiça social que se instala, na festa mais popular de Atenas, a representação dessa outra luta do herói contra o Destino, que constitui o espetáculo trágico.
Na primeira destas lutas, de um lado está o poderio de uma classe nobre ou rica, em todo o caso impiedosa, que possui ao mesmo tempo a terra e o dinheiro e que conduz a miséria o povo dos pequenos camponeses e dos artífices, que ameaça enfim desagregar a própria existência da comunidade. Frente a ela, a poderosa vitalidade de um povo que quer viver, que exige que a justiça seja igual para todos, que o direito seja o novo laço que assegurara a vida de cada homem e a existência da cidade.
A segunda luta, imagem da primeira, e a de um Destino brutal, arbitrário e assassino e de um herói maior que nós, mais forte e mais corajoso que nós, que bate para que haja entre os homens mais justiça e humana bondade, e para ele a gloria.
Há um ponto do espaço e do tempo em que estas lutas paralelas convergem e se reforçam. O momento é o das duas festas primaveris de Dioniso; o lugar o teatro do deus, no flanco da acrópole da cidade. Ai o povo inteiro se reúne para ouvir a voz dos seus poetas, que, ao mesmo tempo que lhe explicam os mitos do passado, considerados historia, o ajudam na luta para continuarem a fazer historia, a longa luta da sua emancipação. O povo sabe que os poetas dizem a verdade: e a sua função própria instrui-lo nela.
No começo do século v - principio da era clássica - a tragédia apresenta-se ao mesmo tempo como uma arte conservadora da ordem social e como uma arte revolucionaria. Uma arte conservadora da ordem social no sentido de que permite a todos os cidadãos da cidade resolver em harmonia, no mundo fictício para onde os conduz, os sofrimentos e os combates da vida quotidiana de cada homem do povo. Conservadora, mas não mistificadora.
Mas este mundo imaginário é a imagem do mundo real. A tragédia só dá a harmonia despertando os sofrimentos e as revoltas que apazigua. Faz mais do que dá-la, no prazer, ao espectador, enquanto o espetáculo dura, promete-a ao devir da comunidade, intensificando em cada homem a recusa de aceitar a injustiça, intensificando a vontade de lutar contra ela. No povo que a escuta com um coração unanime, a tragédia reúne todas as energias de luta que ele traz em si. Neste sentido, a tragédia não é já conservadora, mas ação revolucionária.
Apresentamos alguns exemplos concretos.
Eis a violenta luta de Prometeu Agrilhoado, tragédia de Esquilo, de data desconhecida (entre 460 e 450). Esquilo crê na Justiça divina, crê em um Zeus justo. De uma justiça que é, muitas vezes, obscura. O poeta escreve, em uma tragédia anterior a Prometeu:
"Não é fácil conhecer o desígnio de Zeus. Mas eis que em todos os lugares Ele flameja de súbito no meio das trevas... Os caminhos do pensamento divino seguem para o seu destino por entre espessas sombras que nenhum olhar poderia penetrar".
É preciso que Esquilo explique ao seu povo como, na obscuridade do mito de Prometeu, "flameja de súbito, a justiça de Zeus".
Prometeu é um deus cheio de bondade para com os homens. Muito popular na Ática, e, com Hefesto, o padroeiro dos pequenos artífices, nomeadamente desses oleiros do Cerâmico que faziam em parte a riqueza de Atenas. Não só dera aos homens o fogo, como inventara para eles os ofícios e as artes. Em honra deste deus venerado pelos Atenienses, a cidade celebrava uma festa na qual era disputada uma corrida de estafetas, por grupos, servindo de testemunho um archote.
Ora, é a este "benfeitor dos homens", a este deus "Amigo dos Homens", que Zeus pune pelo beneficio de que ele foi autor. Fá-lo agrilhoar por Hefesto, compadecido mas vigiado pelos servidores de Zeus, Poder e Violência, cuja linguagem cínica corresponde a horrenda figura que tem. O Titã é cravado a uma muralha de rochedos no deserto de Citia, longe das terras habitadas, e assim ficará até que se resigne a reconhecer a "tirania" de Zeus. É esta a cena impressionante que abre a tragédia. Prometeu não pronuncia uma única palavra na presença dos seus carrascos.
Como é isto possível? Sem duvida Esquilo não ignora que, "roubando o fogo", privilegio dos deuses, Prometeu se tornou culpado de uma falta grave. Mas desta falta nasceu para os homens o alivio da sua miséria. Um tal mito enche Esquilo de angustia trágica. Sente amagada a sua fé em um Zeus justo - Zeus, senhor e sustentáculo da ordem do mundo. Mas não foge a nenhuma das dificuldades do assunto que decidiu olhar em frente. E, assim, escreve toda a sua tragédia contra Zeus.
O Amigo dos Homens (o 'Filantropo', como diz Esquilo, inventando uma palavra em que se exprime, na sua novidade verbal, o amor de Prometeu pela humanidade) é pois abandonado à solidão, em um deserto onde não ouvira "voz humana" nem verá "rosto de homem", nunca mais.
Mas estará realmente sozinho? Repudiado pelos deuses, inacessível aos homens, ele está no seio da natureza, de que é filho. Sua mãe chama-se ao mesmo tempo Terra e Justiça. É a esta natureza, em que os Gregos sempre sentiram a presença escondida de uma vida poderosa, que Prometeu se dirige, em um canto lírico em uma poesia esplendorosa e intraduzível. Ele diz:
"Espaços celestes, rápida corrida dos ventos, Fontes dos rios, riso inumerável, Das vagas marinhas, Terra, mãe comum, Eu vos invoco, invoco a Roda do Sol, Olhar do mundo, apelo para que vejam O que sofro dos deuses - eu, deus...".
Mais adiante, diz a razão do seu suplicio:
"Se, misero, estou ligado a este jugo de necessidade, Foi porque aos mortais fiz o dom mais precioso. Na haste oca do nartecio Escondi o produto da minha caçada, A fonte do Fogo, a Centelha, O Fogo que para os homens se revelou Senhor de todas as artes, Estrada sem fim...".
Neste momento, ergue-se uma musica: a natureza invocada responde ao apelo de Prometeu. É como se o céu se pusesse a cantar. O Titã vê aproximar-se pelos ares o coro das doze filhas do Oceano. Do fundo das aguas, ouviram o lamento de Prometeu e vem compadecer-se da sua miséria. Abre-se um dialogo entre a piedade e a raiva. As Oceanidas trazem as suas lagrimas e os seus tímidos conselhos de submissão à lei do mais forte. Prometeu recusa submeter-se à injustiça. Revela outras iniquidades do senhor do mundo. Zeus, que fora ajudado pelo Titã na luta para conquistar o trono do céu, só ingratidão manifestou a Prometeu. Quanto aos mortais, Zeus pensava exterminar-lhes a raça, "para fabricar uma outra, nova", se o Amigo dos Homens não se tivesse oposto ao projeto. E o amor que manifesta para com o povo mortal que hoje lhe vale o suplicio. Prometeu sabia-o: conhecendo as consequências, aceitando de antemão o castigo, deliberou cometer a falta.
Contudo, nesta tragédia que parece, pelo seu terra e pelo seu herói preso ao rochedo, inteiramente votada ao patético, Esquilo achou maneira de introduzir uma ação, um elemento dramático: deu a Prometeu uma arma contra Zeus. Esta arma é um segredo que ele recebeu de sua mãe, e esse segredo interessa à segurança do senhor do mundo. Prometeu só entregara o segredo em troca da promessa da sua libertação. Entregá-lo-á ou não? Zeus obrigá-lo-á a isso ou não? Tal é o nó da ação dramática. Como, por outro lado, Zeus não pôde aparecer em cena, o que diminuiria a sua grandeza, o combate de Prometeu contra ele trava-se através dos espaços celestes. Do alto do céu, Zeus ouve as ameaças de Prometeu contra o seu poder: treme. As ameaças tornam-se mais claras com algumas palavras que Prometeu deixa voluntariamente escapar, aflorando o seu segredo. Ira Zeus desferir o raio? Ao longo de todo o drama, a sua presença é-nos sensível. Por outro lado, passam diante do rochedo de Prometeu personagens que mantem com Zeus relações de amizade, de ódio ou de servilidade e que, depois dos lacaios Força e Poder do começo, acabam de no-lo dar a conhecer na sua perfídia e na sua crueldade.
No centro da tragédia, em uma cena capital já conhecida do leitor desta, cena que precisa e alarga o alcance do conflito, Prometeu enumera invenções de que fez beneficiar os homens. Não é Já aqui, como o era no mito primitivo que o poeta herdou, apenas o roubador do fogo, e o gênio criador da civilização nascente, confunde-se com o próprio gênio do homem ao inventar as ciências e as artes, ao ampliar o seu domínio sobre o mundo. O conflito Zeus-Prometeu toma um sentido novo: significa a luta do homem contra as forças naturais que ameaçam esmagá-lo. Conhecem-se essas conquistas da civilização primitiva: as casas, a domesticação dos animais, o trabalho dos metais, a astronomia, as matemáticas, a escrita, a medicina.
Prometeu revelou ao homem o seu próprio gênio.
Ainda aqui a peça é escrita contra Zeus: os homens - por eles entendo sempre os espectadores, que e missão do poeta educar - não podem renegar o benfeitor e dar razão a Zeus, sem renegar a sua própria humanidade. A simpatia do poeta pelo Titã não cede. O orgulho de Prometeu por ter levantado o homem da ignorância das leis do mundo ao conhecimento delas e a razão, é partilhado por Esquilo. Sente-se orgulhoso por ser da raça dos homens e, pelo poder da poesia, comunica-nos esse sentimento.
Entre as figuras que desfilam diante do rochedo de Prometeu, escolherei apenas a da infeliz lo, imagem cruel e tocante. Seduzida por capricho amoroso do senhor do céu, depois covardemente abandonada e entregue ao suplicio mais atroz, Io delirante é a vitima exemplar do amor de Zeus, como Prometeu era a vitima do seu ódio. O espetáculo do sofrimento imerecido de lo, em vez de levar Prometeu a temer a cólera de Zeus, só serve para exasperar a sua raiva.
É então que, brandindo mais abertamente como uma arma o segredo de que é senhor e atacando Zeus, lança o seu desafio através do espago:
"A vez de Zeus chegará!
Orgulhoso como é hoje,
Um dia se tornara humilde.
A união que se prepara para celebrar
O deitara abaixo do trono
E o fará desaparecer do mundo.
A maldição de que Crono, seu pai,
O amaldiçoou, no dia em que foi expulso
Da antiga realeza do ceu...
So eu sei o seu futuro, só eu posso ainda conjura-lo.
Que se recoste por agora no seu trono,
Confiante no estrondo do trovão,
Brandindo na mão o dardo de fogo.
Nada o impedira de cair de vergonhosa queda,
Tão poderoso será o adversário que ele se prepara para engendrar,
Ele contra si mesmo,
Gigante invencível, Inventor de um raio mais poderoso que o seu E
de um fragor que cobrirá o do seu trovão...
No dia em que a desgraça o atingir,
Saberá então qual a distancia
Que separa a realeza da escravatura."
Mas Prometeu só descobriu uma parte do seu jogo. O nome da mulher perigosa para Zeus (e Zeus não costuma privar-se de seduzir os mortais), guarda-o ele para si.
O golpe de Prometeu atinge o alvo. Zeus tem medo e riposta. Envia o seu mensageiro, Hermes, a intimar Prometeu que lhe de o nome. Se o não fizer, piores castigos o esperam. O Titã troça de Hermes, chama-lhe macaco e lacaio, recusa entregar o seu segredo. Hermes anuncia-lhe então a sentença de Zeus. Prometeu espera com altivez a catástrofe que irá traga-lo no desastre do universo.
Então o mundo começa a vacilar, e Prometeu responde:
"Eis finalmente os atos, não já palavras.
A terra dança debaixo dos meus pés.
O fogo subterrâneo uiva nas profundidades.
Em sulcos abrasados cai o raio deslumbrante.
Um ciclone levanta a poeira em turbilhoes.
O furor dos ventos divididos lança-os uns contra os outros.
O céu e o mar confundem-se.
Eis o cataclismo que Zeus,
Para me amedrontar, lança contra mim!
O Majestade de minha mãe,
E vos, espaços celestes, que rolais em volta do mundo
A luz, tesouro comum de todos os seres,
Vede as iniquidades que Prometeu suporta".
Prometeu está derrubado, mas não vencido. Amamo-lo ate ao fim, não só pelo amor que nos manifesta, mas pela resistência que opõe a Zeus.
A religião de Esquilo não é uma piedade feita de hábitos passivamente aceitos: não é naturalmente submissa. A condição miserável do homem revolta o poeta crente contra a injustiça dos deuses. O infortúnio da humanidade primitiva torna-lhe plausível que Zeus, que o permitiu, tenha concebido o pensamento de aniquilar a espécie humana. Sentimentos de revolta e de ódio contra as leis da vida existem em toda a personalidade forte. Esquilo liberta magnificamente estes sentimentos, em deslumbrante poesia, na pessoa de Prometeu com a sua própria revolta contra a vida.
Mas a revolta é apenas um instante do pensamento de Esquilo. Uma outra exigência, igualmente imperiosa, existe nele, uma necessidade de ordem e de harmonia. Esquilo sentiu o mundo não como um jogo de forças anárquicas, mas como uma ordem que compete ao homem, ajudado pelos deuses, compreender e regular.
Por isso, depois da peça da revolta, Esquilo escreveu para o mesmo espetáculo a peça da reconciliação, o Prometeu Libertado. O Prometeu Agrilhoado fazia parte, com efeito, daquilo a que os Gregos chamavam trilogia ligada, isto é, um conjunto de três tragédias ligadas por uma unidade de pensamento e de composição. As duas outras peças da trilogia perderam-se. Sabemos apenas que ao Prometeu Agrilhoado se sucedia imediatamente o Prometeu Libertado. (Da terceira parte, que abria ou acabava a trilogia, nada sabemos de seguro.) Acerca do Prometeu Libertado possuímos algumas informações indiretas. Temos também alguns fragmentos isolados.
O suficiente para admitir que Zeus aceitava renunciar ao capricho pela mulher cujo nome Prometeu possuía. Fazia este ato de renuncia para não lançar o mundo em novas desordens. Tornava-se por isso digno de continuar a ser senhor e guardião do universo.
Desta primeira vitória, alcançada sobre si próprio, resultava uma outra: Zeus renunciava à sua cólera contra Prometeu, dando assim satisfação a Justiça. Prometeu fazia, por seu lado, ato de submissão e, arrependendo-se sem duvida da parte de erro e de orgulho que havia na sua revolta, inclinava-se perante o senhor dos deuses, agora digno de o ser. Assim, os dois adversários, vencendo-se a si próprios interiormente, consentiam em uma limitação das suas paixões anárquicas, com vista a servir um objetivo supremo, a ordem do mundo.
O intervalo de trinta séculos que separava a ação das duas tragédias em questão tornava mais verosímil este devir do divino.
Por outros termos: as forças misteriosas que Esquilo admite presidirem ao destino, a evolução do mundo - forças, na origem, puramente arbitrárias e fatais - acedem lentamente ao plano moral. O deus supremo do universo, tal como o poeta o concebe através dos milênios que o precederam, é um ser em devir. O seu devir, exatamente como o das sociedades humanas, de que esta imagem da divindade procede, é a Justiça.
*
A Orestia de Esquilo, trilogia ligada que conservamos integralmente, representada nas Dionisias de 458, constitui a última tentativa do poeta para por de acordo, na sua consciência e perante o seu povo, o Destino e a Justiça divina.
A primeira das três tragédias de Orestia e Agamemnon, cujo assunto é o assassínio de Agamemnon por Clitemnestra, sua mulher, no seu regresso vitorioso de Troia. A segunda intitula-se Coeforas, o que quer dizer Portadoras de oferendas. Mostra como Orestes, filho de Agamemnon, vinga a morte do pai em Clitemnestra, sua própria mãe, que ele mata, expondo-se assim, por sua vez, ao castigo dos deuses. Na terceira, Eumenides, vê-se Orestes perseguido por Erinias, que são as divindades da vingança, levado a um tribunal de juízes atenienses - tribunal fundado nessa ocasião e presidido por Atena em pessoa - e finalmente absolvido, reconciliado com os homens e com os deuses. As próprias Erinias se tornam divindades benéficas, e é isso mesmo que significa o seu novo nome de Eumenides.
A primeira tragédia é a do assassínio; a segunda, da vingança; a terceira, do julgamento e do perdão. O conjunto da trilogia manifesta a ação divina exercendo-se no seio de uma família de reis criminosos, os Atridas. E, no entanto, este destino não é mais que obra dos próprios homens; não existiria, ou não teria força, se os homens o não alimentassem com os seus próprios erros, com os seus próprios crimes, que se vão engendrando uns aos outros. Este destino exerce-se com rigor, mas encontra fim e apaziguamento no julgamento de Orestes, na reconciliação do último dos Átridas com a Justiça e a Bondade divinas.
Tal é o sentido geral da obra, tal é a sua beleza, tal é a sua promessa. Por mais temível que seja, a Justiça divina deixa ao homem uma saída, uma parte de liberdade que lhe permite, guiado por divindades benévolas, Apolo e Atena, encontrar o caminho da salvação. É o que acontece a Orestes, através duma dura provação, a morte de sua mãe, e a provação terrível da loucura em que se afunda durante algum tempo: Orestes é, no entanto, salvo. A Oréstia é um ato de fé na bondade duma divindade severa, bondade difícil de conquistar, mas bondade que não falta.
Leiamos de mais perto, para tentarmos apreender essa força do destino, primeiro concebida como inumana, depois convertida em Justiça, para tentarmos também entrever a extraordinária beleza da obra.
A ação da Oréstia liga-se e desenvolve-se sempre, ao mesmo tempo, no plano das paixões humanas e no plano divino. Parece mesmo, por instantes mas trata-se apenas de aparência), que a estória de Agamémnon e de Clitemnestra poderia ser contada como a estória de um marido e de uma mulher quaisquer, que têm sólidas razões para se detestarem, tão sólidas, em Clitemnestra, que a levam ao crime. Este aspecto brutalmente humano é acentuado pelo poeta com uma crueza realista.
Clitemnestra é desenhada como uma terrível figura do ódio conjugal. Esta mulher nunca esqueceu, e é natural que não tenha podido esquecer, durante os dez anos de ausência do marido, que Agamémnon, ao partir para Tróia, não temeu — para garantir o êxito dessa guerra absurda que não tinha outro fim senão restituir a Menelau uma bela adúltera — degolar, à fé de um oráculo, sua filha Ifigênia. Clitemnestra ruminou, durante esses dez anos, o seu rancor, à espera da hora saborosa da vingança. "Pronto a levantar-se um dia, terrível, um intendente pérfido guarda a casa: é o Ódio que não esquece, a mãe que quer vingar o seu filho." Assim a descreve o coro no princípio do Agamémnon.
Mas Clitemnestra tem outras razões para odiar e matar, que vai buscar aos seus próprios erros. Na ausência do marido, instalou no leito real "um leão, mas um leão covarde" que, enquanto os soldados se batem, fica em casa, "à espera, espojado no leito, que do combate volte o senhor".
Clitemnestra, com efeito, tomou por amante Egisto, desprezível e brutal, que se embusca com ela, espiando o regresso do vencedor. Serão dois a feri-lo. A rainha ama com paixão este poltrão insolente a quem domina: proclamá-lo-á depois do crime, impudicamente, gloriosamente, frente ao coro. Egisto é a sua desforra: Agamémnon, "diante de Ilion, deliciava-se com as Criseidas", e agora fez-lhe a afronta de trazer para o lar e recomendar aos seus cuidados a bela cativa que ele prefere, Cassandra, filha de Príamo, Cassandra, a profetisa — ofensa que exacerba ainda mais o velho ódio da rainha e leva ao extremo a sua vontade de matar o rei. A morte de Cassandra "avivará a volúpia da sua vingança".
Clitemnestra é uma mulher de cabeça, "uma mulher com vontade de homem", diz o poeta. Montou uma armadilha engenhosa e joga um jogo infernal. Para ser avisada sem demora do regresso do marido, instalou, de Tróia a Micenas, através das ilhas do Egeu e nas costas da Grécia, uma cadeia de sinais luminosos que, em uma só noite, lhe transmitirá a notícia da tomada de ílion. Assim, preparada para os acontecimentos, apresenta-se, perante o coro dos principais da cidade, como esposa amante e fiel, cheia de alegria por ver voltar o marido. Desembarcado Agamémnon, repete diante do rei e diante do povo a mesma comédia hipócrita e convida o esposo a entrar no palácio onde o espera o banho da hospitalidade — essa banheira onde o assassinará, desarmado, ao sair dela, com os braços embaraçados no lençol que lhe entrega. "Banho de astúcia e de sangue", em que ela o mata a golpes de machado.
Eis o drama, humano, da morte de Agamémnon — visto deste lado conjugal. Este drama é atroz: revela na alma roída pelo ódio de Clitemnestra, sob a máscara dificilmente sustentada, horríveis negridões. Executado o crime, a máscara cairá: a rainha defenderá o seu ato sem corar, justificá-lo-á, glorificar-se-á dele com um triunfal encarniçamento.
No entanto, este drama de paixões humanas, de paixões baixamente humanas, enraíza-se, na pessoa de Agamémnon, que é nele o herói trágico, num outro drama de mais vasta envergadura, um drama onde os deuses estão presentes. Se o ódio de Clitemnestra é perigoso para Agamémnon, é apenas porque, no seio do mundo divino, e de há muito tempo, nasceu e cresceu uma pesada ameaça contra a grandeza e contra a vida do rei.
Existe nos deuses, e porque os deuses são o que são, isto é, justos, um destino de Agamémnon. Como se constituiu essa ameaça? Que destino é esse, esse peso de fatalidade que acabará por esmagar um rei que procura grandeza para si próprio e para o seu povo? Não é fácil compreender logo de entrada a justiça dos deuses de Esquilo. No entanto este destino não é mais que a soma das faltas cometidas na família dos Átridas de que Agamémnon é descendente, faltas ancestrais a que vêm juntar-se as da sua própria vida. O destino é o conjunto das faltas que exigem reparação e que se voltam contra Agamémnon para o ferir.
Agamémnon é descendente de uma raça adúltera e fratricida. É filho desse Atreu que, tendo convidado seu irmão para um repasto de paz, lhe deu a comer os membros dos filhos, que degolara. Agamémnon traz o peso desses crimes execráveis e de outros ainda. Porquê? Porque, para Ésquilo, é lei dura mas certa da vida que nenhum de nós está sozinho no mundo, na sua responsabilidade intacta, que existem faltas de que somos solidários como parte de uma linhagem ou de uma comunidade. Ésquilo, embora o exprima diferentemente, tem a profunda intuição de que somos cúmplices das faltas de outrem, porque a nossa alma as não repeliu com vigor. Ésquilo tem a coragem de olhar de frente essa velha crença, mas também velha lei da vida, que quer que os erros dos pais caiam sobre os filhos e constituam para eles um destino.
No entanto, toda a sua peça diz também que este destino herdado não poderia ferir Agamémnon; só o fere porque Agamémnon cometeu, ele próprio, as mais graves faltas. É, enfim, a sua própria vida de erros e de crimes que abre caminho a esse aspecto vingador do divino que espreitava nele o descendente dos Atridas.
Em mais de uma circunstância, com efeito — os coros da primeira parte do Agamémnon o recordam em cantos esplêndidos — , os deuses permitiram a Agamémnon, submetendo-o a uma tentação, escapar à influência do destino, salvar a sua existência e a sua alma recusando-se a fazer o mal. Mas Agamémnon sucumbiu. De cada uma das suas quedas, saiu mais diminuída a sua liberdade em relação ao destino.
O seu erro mais grave é o sacrifício de Ifigênia. O oráculo que o prescrevia era uma prova em que o amor paterno do rei deveria ter triunfado da sua ambição ou do seu dever de general. Tanto mais que este dever era um falso dever, uma vez que Agamémnon empenhara o seu povo numa guerra sem justiça, uma guerra em que os homens iam para a morte por causa de uma mulher adúltera. Assim os erros se engendram uns aos outros na vida difícil de Agamémnon. Quando os deuses decidem recusar à frota o caminho de Tróia se ele não verter o sangue de sua filha, abrem no seu coração um doloroso debate.
Agamémnon tem de escolher e é preciso que escolha claramente o bem no fundo da sua alma já escurecida pelas faltas anteriores. Ao escolher o sacrifício de Ifigênia, Agamémnon entrega-se ao destino.
Eis como a poesia de Ésquilo apresenta este debate:
Outrora, o mais velho dos chefes da frota aqueia,
Próximo das águas de Aulis, brancas de remoinhos,
Quando as velas ferradas, os paióis vazios
Fizeram murmurar o rumor dos soldados,
Rei dócil ao adivinho, dócil aos golpes da sorte,
Ele mesmo, Agamémnon, se fez cúmplice do destino.
Os ventos sopravam do Entrímnis.
Ventos contrários, de fome e de ruína,
Ventos de equipagens debandadas,
Ventos de cabos apodrecidos e de avarias,
E o tempo dobrando a sua ação.
Cardava a flor dos Argivos.
E quando, mascarando-se sob o nome de Ártemis,
O sacerdote revelou o único remédio,
Cura mais amarga que a tempestade e o naufrágio,
De tal modo que o bastão dos Atridas batia o solo
E as lágrimas corriam dos olhos deles,
Então o mais velho dos reis disse em voz alta:
"A sorte esmaga-me se eu desobedeço.
Esmaga-me se eu sacrificar a minha filha,
Se eu firo e despedaço a alegria da minha casa,
Se eu maculo do sangue de uma adolescente degolada
As minhas mãos de pai junto do altar.
"De um lado e doutro só para mim desgraça.
Rei desertor, terei de abandonar a frota,
Deixar assim os meus companheiros de armas?
Terei de escolher o sacrifício, acalmar os ventos,
Escolher e desejar o sangue vertido,
Desejá-lo com fervor, com furor?...
Não o permitiram os deuses?...
Que assim seja, pois, e que esse sangue nos salve!"
Agora o destino está pousado na sua nuca,
Lentamente nele cravando um pensamento
De impiedade, de impureza, de sacrilégio.
Escolheu o crime e a sua alma mudou de sentido.
E o vento da cega loucura leva-o a tudo ousar,
Leva-o a erguer o punhal
Do sacrifício de sua filha. — Para quê?
Para a conquista de uma mulher,
Para a guerra de represálias,
E para abrir aos seus barcos
O mar.
O sangue de Ifigênia era, aliás, apenas o primeiro sangue de um crime maior. Agamémnon decidira derramar o sangue do seu povo numa guerra injusta. Isto ele o pagará também, e justamente. Ao longo desta guerra sem fim, a cólera popular subia, antecipando-se ao regresso do rei. A dor, o luto do seu povo, mutilado na perda da sua juventude, juntam-se à cólera dos deuses e, com ela, entregam-no ao Destino.
Mais uma vez a poesia de Ésquilo exprime em imagens cintilantes o crime da guerra injusta. (Cito apenas o fim deste coro).
É bem pesada a glória dos reis
Carregada da maldição dos povos.
Pesado o renome que fica a dever ao ódio.
A angústia oprime hoje o meu coração; pressinto
Qualquer golpe tenebroso da Sorte. Porque
Os reis que chacinam os soldados
Fazem recair sobre si o olhar dos deuses.
E o voo das negras Erínias
Plana por sobre as instáveis fortunas
Que não ganharam raizes na justiça.
Não há recurso contra o julgamento do Céu.
O raio de Zeus fere os cumes mais altos.
Uma última vez, no decorrer do drama, os deuses oferecem a Agamémnon a possibilidade de restaurar a sua liberdade prestando-lhes homenagem. É a cena do tapete de púrpura. Nela vemos juntarem-se o drama das paixões humanas e o drama da ação divina. É a terrível Clitemnestra que tem a ideia desta última armadilha. Ela crê na existência e no poder dos deuses, mas tem, em relação a eles, um cálculo sacrílego: tenta metê-los no seu jogo. Prepara ao orgulho do vencedor de Tróia uma tentação, que os deuses permitem. O que para ela é armadilha, é para eles prova, última possibilidade de salvação. Quando o carro do rei pára diante do palácio, Clitemnestra ordena às servas que estendam um tapete de púrpura sobre o solo, que o pé vencedor não deve pisar. Porque esta honra é reservada aos deuses nas procissões onde se transporta a sua imagem. Se Agamémnon se iguala aos deuses, expõe-se aos seus golpes, entrega-se uma vez mais ao destino que o espreita. Vêmo-lo resistir primeiro à tentação, depois sucumbir. Caminha sobre o tapete de púrpura. Clitemnestra triunfa: pensa poder agora ferir impunemente, uma vez que o seu braço passará a ser a arma de que os deuses se servem para ferir. Engana-se: podem os deuses escolher o seu braço, que nem por isso ela será menos criminosa. Só eles têm o direito de ferir, só eles são puros e justos.
As portas do palácio fecham-se atrás do casal inimigo, o machado está pronto.
Agamémnon vai morrer. Não o julguemos. Conhecemos a sua grandeza, e sabemos que ele não era mais que um homem sujeito a errar.
Para fazer ressoar em nós esta morte, digna de piedade, do vencedor de Tróia, Esquilo inventa uma cena de rara força dramática e poética. Em vez de fazer que a morte nos seja contada depois, por um servidor saído do palácio, faz com que a vivamos antes que ela se dê, evocando-a através do delírio de Cassandra, a profetisa ligada a Agamémnon pelos laços da carne apaixonada. Cassandra, até aí calada, no seu carro, insensível à presença daqueles que a rodeiam, é bruscamente presa de um arrebatamento delirante.
Apolo, o deus profeta, está nela: mostra-lhe o assassínio de Agamémnon que se prepara, mostra-lhe a sua própria morte que seguirá a dele. Mas é por fragmentos que o futuro e também o passado sangrento da casa dos Átridas se descobrem na sua visão interior. Tudo isto na presença do coro que troça dela ou renuncia a compreender. Mas o espectador, esse, sabe e compreende... Assim são as estrofes de Cassandra:
Ah! maldita! Eis o que perpetraste.
Preparas a alegria do banho
Ao esposo, com quem te deitas...
Como dizer agora o que se passa?
Ela aproxima-se. A mão
Se levantou para ferir, uma outra mão implora...
Oh! oh!... Oh! oh!... Horror...
O horror aparece, a rede, vejo-a...
Não será ela a rede do Inferno?...
Ah! aí está ela, a verdadeira rede, o engenho...
A cúmplice do leito, a cúmplice do crime...
Acorrei, Erínias insaciáveis, bando maldito!
Vingai o crime, atirai pedras
E gritai e feri...
Ah! ah! Vê, cuidado!
Afasta o touro da vaca.
Ela envolve-o num pano. Fere
Com o corno negro da sua armadilha.
Fere. Ele cai na banheira cheia...
Tem cuidado com o golpe traiçoeiro da cuva assassina.
Aterrorizada Cassandra entra no palácio, onde viu a degolação que a espera no cepo.
Finalmente, as portas abrem-se. Os cadáveres de Agamémnon e de Cassandra são apresentados ao povo de Micenas. Clitemnestra, de machado na mão, o pé sobre a sua vítima, triunfa "como um corvo de morte". Egisto está a seu lado. O ódio criminoso do par adúltero terá a última palavra? O coro dos velhos de Micenas enfrenta, como pode, o júbilo da rainha. Lança-lhe à cara o único nome que a pode perturbar, o nome de seu filho exilado, Orestes — esse filho que, segundo o direito e a religião do tempo, é o vingador designado do pai assassinado.
As Coéforas são o drama da vingança, vingança difícil, perigosa. No centro do drama está Orestes, o filho que deve matar a mãe, porque os deuses o ordenam. Recebeu ordem de Apolo. E, contudo, horrível crime é esse, mergulhar a espada no seio da sua própria mãe, um crime que, entre todos, ofende os deuses e os homens. Este crime ordenado por um deus em nome da justiça, porque o filho deve vingar o pai e porque não existe outro direito que permita castigar Clitemnestra, fora desse direito familiar, esse crime será, também em nome da justiça, perseguido pelas divindades da vingança, as Erínias, que reclamarão a morte de Orestes. Assim a cadeia de crimes e vinganças corre o risco de não ter fim.
Orestes, o herói trágico, é apanhado, e de antemão o sabe, entre duas exigências do divino: matar e ser punido por ter matado. A armadilha parece não ter saída para uma consciência reta, pois é o mundo dos deuses, a que é preciso obedecer, que parece dividido contra si mesmo.
No entanto, Orestes, nesta terrível conjuntura, não está sozinho. Quando, no princípio das Coéforas, chega com Pílades a Micenas, onde não passou a sua juventude, encontra junto do túmulo do pai — que é um montículo erguido no centro da cena — sua irmã mais velha, Electra, que vive à espera do seu regresso há longos anos, apaixonadamente fiel à recordação do pai assassinado, odiando a mãe, tratada por ela e por Egisto como serva — alma solitária que não tem outras confidentes além das servas do palácio, as Coéforas, mas alma que permanece viva porque uma imensa esperança habita nela, a esperança de que Orestes, seu caro irmão, voltará, de que ele matará a mãe abominável e o seu cúmplice, de que ele restaurará a honra da casa.
A cena do reconhecimento do irmão e da irmã diante do túmulo do pai é de uma maravilhosa frescura. Depois das cenas atrozes do Agamémnon, essa tragédia em que o nosso universo lentamente se intoxicava de paixões baixas, a hipocrisia da rainha, as covardias do rei e o ódio que ganhava tudo, e, para terminar cinicamente, se patenteava em júbilo de triunfo, depois dessa tragédia que nos asfixiava, respiramos finalmente, com a alegria do encontro dos dois irmãos, uma lufada de ar puro. O túmulo de Agamémnon está ali. O próprio Agamémnon ali está, cego e mudo na sua tumba. Agamémnon invingado, cuja cólera é preciso acordar, a fim de que Orestes, incapaz ainda de detestar sua mãe, a quem não conhece, se encha do furor do pai, faça reviver em si seu pai, até que possa ir buscar a essa estreita ligação que une o filho ao pai, a essa continuidade do sangue que nele corre, a força de ferir sua mãe.
A cena principal do drama — e a mais bela também, poeticamente — é a longa encantação em que, voltados para o túmulo do rei, sucessivamente o coro, Electra e Orestes procuram juntar-se-lhe no silêncio da tumba, no mundo obscuro onde repousam os mortos, recordá-lo, fazê-lo falar por eles, despertá-lo neles.
Mais adiante vem a cena da morte. Orestes começou por matar Egisto. Aqui, nada de difícil. Uma ratoeira, um animal imundo. Nada mais. Agora Orestes vai ser colocado diante de sua mãe. Até aqui apresentara-se diante dela como um estrangeiro, encarregado de lhe trazer uma mensagem, a da morte de Orestes. E nós vimos em Clitemnestra, após o breve estremecimento da ternura maternal, a horrível alegria que encontra na morte do filho, esse vingador que sempre temeu, o único vingador a temer. No entanto, ainda está desconfiada. Não esquece um sonho terrível que teve na noite anterior, no qual uma serpente que ela alimentava com o seu leite a mordia, e do seu seio fazia correr o sangue com o leite.
Assassinado Egisto, um servo vai bater à porta das mulheres, para anunciar o crime a Clitemnestra. A rainha sai, esbarra com o filho, de espada ensanguentada na mão, e com Pílades... Compreende subitamente, num grito de amor por Egisto. Suplica, implora, descobre ao filho o seio onde ele mamou o leite nutriente. Orestes tem um momento de desfalecimento, parece cambalear perante o horror da coisa impossível, volta-se para o amigo: "Pílades, que farei? Poderei matar minha mãe?" Pílades responde: "E que fazes tu da ordem de Apolo e da tua Lealdade? Mais vale ter contra si todos os homens que os deuses."
Orestes arrasta sua mãe e mata-a.
E de novo, como no fim do Agamémnon, as portas do palácio se abrem e, no lugar onde repousavam Agamémnon e Cassandra, jazem agora Clitemnestra e Egisto: Orestes apresenta os cadáveres ao povo e justifica o seu crime.
Orestes está inocente, uma vez que obedeceu à ordem de um deus. Mas pode alguém assassinar a sua própria mãe e ficar inocente? Através da sua justificação, sentimos subir dentro dele o horror. Grita o seu direito e a justiça da sua causa. O coro procura tranquilizá-lo: "Nada fizeste de mal." Mas a angústia não pára de crescer na sua alma, e é a sua própria razão que começa a vacilar. De súbito, erguem-se diante dele as deusas terríveis, as Erínias, vê-as. Nós não as vemos ainda, são apenas aspectos do seu delírio. E no entanto têm uma assustadora realidade. Que vão elas fazer de Orestes? Não o sabemos. O drama das Coéforas, que se abrira num sopro de juventude, num impulso de libertação, numa corajosa ofensiva contra o sinistro destino dos Atridas, ofensiva conduzida pelo filho, o único filho inocente da raça, esse drama aberto na esperança, acaba mais baixo que o desespero: acaba na loucura.
As Coéforas mostraram o fracasso do esforço humano na luta contra o destino, o fracasso de um homem que, não obstante, obedecia à ordem de um deus, na sua empresa de pôr fim à engrenagem de crime e de vingança que parecem engendrar-se um ao outro, até ao infinito, na raça maldita dos Átridas. Mas a razão deste fracasso é clara. Se o homem não pode já restaurar a sua liberdade, diminuída pelas faltas ancestrais, se não pode, mesmo apoiado na autoridade de Apolo, estendendo as suas mãos para o céu, encontrar os braços dos deuses, é porque o mundo divino aparece ainda aos homens como tragicamente dividido contra si mesmo.
Esquilo, no entanto, crê com toda a sua alma na ordem e na unidade do mundo divino. O que ele mostra no terceiro drama da Oréstia, as Euménides, é como um homem de boa vontade e de fé, tão inocente de intenção quanto um homem o pode ser, pôde, graças a um julgamento a que de antemão se submetia, lavar-se do crime imposto pela fatalidade, reencontrar uma liberdade nova e finalmente reconciliar-se com o mundo divino. Mas foi preciso para tal que, no mesmo movimento, o mundo divino operasse a sua própria reconciliação consigo mesmo, e pudesse surgir doravante ao homem como uma ordem harmoniosa, toda penetrada de justiça e de bondade.
Não entro nos pormenores da ação. A cena principal é a do julgamento de Orestes. Coloca-se ela — por uma audácia rara na história da tragédia – a alguns passos dos espectadores, na Acrópole, diante de um velho templo de Atena. Foi ali que Orestes, perseguido pelas Erínias, que querem a sua cabeça e beber o seu sangue, se refugiou. Ajoelhado, rodeia com os braços a velha estátua de madeira de Atena, outrora caída do céu e que todos os Atenienses conhecem bem. Ora em silêncio, e depois, em voz alta, suplica à deusa. Mas as Erimas seguiram-lhe a pista e cercam-no na sua roda infernal. Assim como diz o poeta, "o odor do sangue humano sorri-lhes".
Entretanto, Atena a jovem Atena, sensata e justa — aparece ao lado da sua estátua. Para decidir da sorte de Orestes, funda um tribunal, e esse tribunal é composto de juizes humanos, de cidadãos atenienses. Vemos aqui o mundo divino aproximar-se dos homens e encamar-se na mais necessária das instituições humanas, o tribunal. Perante este tribunal, as Erínias acusam. Declaram que ao sangue derramado deve forçosamente responder o sangue derramado.
É a lei de talião. Apolo desempenha o papel da defesa. Recorda as circunstâncias atrozes da morte de Agamémnon. Pede a absolvição de Orestes. Os votos dos jurados dividem-se igualmente entre a condenação e a absolvição.
Mas Atena junta o seu sufrágio àqueles que absolvem Orestes. Orestes está salvo.
Doravante, crimes como os que se cometeram na família dos Atridas não relevarão mais da vingança pessoal, mas deste tribunal fundado por uma deusa, onde homens decidirão da sorte dos inocentes e dos culpados, em consciência.
O Destino fez-se Justiça, no sentido mais concreto da palavra.
Finalmente, a última parte da tragédia dá às Erínias, frustradas da vítima que esperavam, uma espécie de compensação que não é outra coisa senão uma modificação da sua natureza íntima. De futuro, as Erínias, agora Eunémides, não serão ávidas e cegas exigidoras de vingança: o seu poder temível é, de súbito, graças à ação de Atena, "polarizado para o bem", como o disse um crítico. Serão uma fonte de bênçãos para aqueles que o mereçam: velarão pelo respeito da santidade das leis do casamento, pela concórdia entre os cidadãos. São elas que preservarão o rapaz de uma morte prematura, que darão à moça o esposo que ela ama.
No fim da Oréstia, o aspecto vingador e fatal do divino penetra-se de benevolência; o Destino, não contente de confundir-se com a Justiça divina, inclina-se para a bondade e torna-se Providência.
Assim a poesia de Ésquilo, sempre corajosa em alimentar a arte dramática com os conflitos mais temíveis que podem opor os homens ao mundo de que fazem parte, vai buscar esta coragem renovada à fé profunda do poeta na existência de uma ordem harmoniosa na qual colaborem enfim os homens e os deuses.
Neste momento histórico em que a cidade de Atenas esboçava uma primeira forma de soberania popular — essa forma de vida em sociedade que, com o tempo, merecerá o nome de democracia — , a poesia de Ésquilo tenta instalar firmemente a justiça no coração do mundo divino. Por aí, exprime o amor do povo de Atenas pela justiça, o seu respeito pelo direito, a sua fé no progresso.
Eis, no fim da Oréstia, Atena rogando pela sua cidade:
Que todas as bênçãos de uma vitória que nada macule
Lhe sejam dadas!
Que os ventos propícios que se levantam da terra, Aqueles que voltejam nos espaços marinhos,
Aqueles também que descem das nuvens como o hálito do sol Regozigem a minha terra!
Que os frutos dos campos e dos rebanhos
Não cessem de abundar em alimento
Para os meus concidadãos!
Que apenas os maus sejam mondados sem piedade!
O meu coração é o de um bom hortelão.
Compraz-me em ver crescer os justos ao abrigo do joio.

A democracia ateniense é uma sociedade rigorosamente, intratavelmente masculina. Sofre, em relação às mulheres, como em relação aos escravos, de uma grave ,discriminação, que, não sendo racial, não deixa de ter os efeitos deformantes de um racismo. Nem sempre fora assim. Na sociedade grega primitiva, a mulher era altamente venerada. Ao passo que o homem se entregava à caça, a mulher não soóeducava as crianças, esses "rebentos" do homem, de crescimento tão lento, como domesticava os animais selvagens, recolhia as ervas salubres, velava pelas preciosas reservas do lar. Em contato estreito com a vida da natureza, era ela que detinha os primeiros segredos que lhe eram arrancados, ela também que fixava os tabus que a tribo devia respeitar para viver. Tudo isto anteriormente mesmo à instalação do povo grego na região que tomou o seu nome. A mulher, no casal, tinha a igualdade e mesmo a primazia. Aliás, nem sequer se pode falar de casal: não havia então casamento monogâmico, mas uniões sucessivas e temporárias, nas quais era a mulher que escolhia aquele que lhe daria um filho.
Quando os Gregos invadiram, em vagas, o sul da península dos Balcãs e a costa asiática do Egeu, encontraram populações que viviam, na maior parte, sob o regime do matriarcado. O chefe de família era a mãe - a mater familias - e os parentes contavam-se segundo a linha feminina. As maiores divindades eram divindades femininas, que presidiam a fecundidade. Os Gregos adotaram duas delas, pelo menos: a Grande Mãe, ou Cibele, e Demeter, cujo nome significa Terra Mãe ou Mãe das Searas. A importância do culto destas duas deusas, na época clássica, lembra a preeminência da mulher na sociedade grega primitiva.
Os povos chamados Egeus, os Pelasgos, os Lídios, e muitos outros, conservavam ou o regime matriarcal ou usos matriarcais. Estes povos eram pacíficos: não há fortificações no palácio de Knossos. Eram agrícolas. Foram as mulheres que, inaugurando a agricultura, trouxeram a humanidade à vida sedentária, fase essencial da sua evolução. As mulheres gozavam de grande prestigio entre os povos cretenses e dominavam ainda a comunidade.
A literatura grega conserva um grande numero de lendas em que a mulher é pintada com as mais belas cores. Sobretudo a literatura mais antiga. Andromaca e Hecuba na Ilíada, Penélope na Odisseia, sem esquecer Nausica nem Arete, rainha dos Feaces, irmã do rei seu marido e soberana das suas decisões, mulheres que se encontram com os homens em pé de perfeita igualdade e que por vezes conduzem o jogo, que surgem como inspiradoras, como reguladoras da vida dos homens. Em certas regiões gregas, como a Eolida de Safo, a mulher conservou durante muito tempo este papel eminente na sociedade.
Tudo é diferente na democracia ateniense e, de um modo geral, na região jônia. É verdade que a literatura guarda a imagem de belas figuras femininas, mas os cidadãos atenienses só aplaudem Antígona e Ifigênia no teatro. Um divorcio profundo se instalou, neste ponto, entre a literatura e os costumes. Antigona está reclusa no gineceu ou no opistodomo do Partenon. Só a autorizam a sair na festa das Panateneias, onde figura no cortejo que leva a deusa Atena o seu novo véu, que ela bordou, com as suas companheiras, durante longos meses de clausura.
Entretanto, juntamente com estas imagens de mulheres ideais, a literatura começa a apresentar uma imagem deformada da mulher. Um veio de misogenia atravessa a poesia grega. Remonta longe, a Hesíodo, quase contemporâneo do poeta da Odisseia. Hesíodo, o velho camponês resmungão, conta como Zeus, para castigar os homens de terem recebido de Prometeu o fogo que lhe roubara, ordena aos deuses que se juntem para fabricar de argila húmida, de doloroso desejo, de astucia e de impudência esse belo monstro, a mulher - armadilha - precipício de paredes abruptas e sem saída. É a mulher que o homem deve todas as desgraças da sua condição de animal assustado. Hesíodo é inesgotável no tema da astucia, da garridice e da sensualidade femininas.
Não menos que o poeta Simonides de Amorgos que, num poema tristemente celebre, injuria grosseiramente as mulheres, a quem classifica pedantemente em dez categorias, usando de comparações animais e outras.
"Há a mulher que vem da porca: Tudo é desordem na sua casa, tudo rola de mistura no chiqueiro, ela própria não se lava, traz as roupas sujas e, sentada no seu próprio esterco, engorda" Há a mulher-raposa, toda manigâncias, a mulher tagarela e coscuvilheira que, filha da cadela, ladra sem parar e a quem o marido não pode fazer calar, mesmo partindo-lhe os dentes a pedrada. Há a mulher preguiçosa, tão lenta a mexer-se como a terra donde provém; e a filha da água, leviana e caprichosa, ora furiosa e arrebatada, ora meiga e risonha como o mar num dia de Verão. A mulher-burra, teimosa, glutona e debochada; a mulher-doninha, maligna e ladra. Há a mulher-egua: demasiado orgulhosa para sujeitar-se a qualquer trabalho, recusa-se a deitar às varreduras para fora de casa; vaidosa da sua beleza, banha-se duas ou três vezes por dia, inunda-se de perfumes, enfia flores nos cabelos, admirável espetáculo para os outras homens, flagelo para o seu marido. Há a mulher-macaca, de fealdade tão repelente que temos de lamentar ,o desgraçado marido que a aperta nos seus braços".
De tantas mulheres detestáveis, a ultima, que é a mulher-abelha, não nos consola.
Esta poesia, brutalmente anti-feminina, reflete a mudança profunda que, dos tempos primitivos aos séculos históricos, se realizou na condição da mulher.
O casamento monogâmico, ao instalar-se, não favoreceu a mulher. O homem é agora o senhor. A mulher nunca escolheu e a maior parte das vezes não viu sequer nunca o futuro marido. O homem casa-se apenas para a procriação de filhos legítimos. O casamento de amor não existe. O homem tem trinta anos, pelo menos; a mulher, que tem quinze, consagra a sua boneca a Artemis na véspera das bodas. O casamento é um contrato que obriga apenas uma das partes. O marido pode repudiar a mulher e ficar com os filhos, sem outra formalidade senão uma declaração perante testemunhas, com a condição de restituir o dote ou de pagar os respectivos juros. O divorcio pedido pela mulher muito raramente resulta, e só em virtude de uma decisão judicial motivada por sevicias graves ou infidelidade notória. Mas esta infidelidade esta nos costumes. O marido não se priva de concubinas nem de cortesãs. Um discurso atribuído a Demostenes declara:
"Nós temos cortesãs para o prazer, concubinas para sermos bem tratados e esposas para nos darem filhos legítimos".
A mulher legitima devia ser filha de cidadão. Foi criada, ingênua e simples, nesse gineceu que é o seu domínio é quase a sua prisão. Menor do nascimento até a morte, muda de tutor ao casar-se. Se enviúva, passa a estar sob a autoridade do filho mais velho. Não deixa o gineceu onde vigia o trabalho das escravas, no qual participa. Quando muito, sai para uma visita aos pais, ou para ir ao banho, sempre sob a apertada vigilância de uma escrava. Por vezes, em companhia do seu senhor e dono. Não vai sequer ao mercado. Não conhece os amigos do marido, não o acompanha a esses banquetes onde ele os encontra e aos quais acontece levar as concubinas. A sua única ocupação e dar ao marido os filhos que ele deseja, cria-los até a idade de sete anos, idade em que lhe são tirados. Fica com as filhas e educa-as, no gineceu, para a vida que ela própria levou, para a triste condição de reprodutora. A mulher de um cidadão ateniense não é mais que um oikurema, um "objeto (a palavra é neutra) feito para os cuidados da casa". Para o ateniense, e a primeira das suas servas.
O concubinato desenvolveu-se muito nos séculos clássicos de Atenas. É uma espécie de semi-casamento e de semi-prostituição. Neste terreno, não reconhecido mas tolerado é favorecido pelo Estado, cresceram as únicas personalidades femininas atenienses cuja lembrança chegou ate nos. A bela e brilhante Aspasia, cintilante de todas as seduções do espirito e do saber, perita, diz-se, na nova arte da sofistica, era filha de um Milesio. Pericles instalou-a na sua própria casa, depois de ter repudiado a sua nobre mulher legitima. Ai abriu salão, e o seu pseudo-marido soube, apesar de uma campanha de injurias, impô-la a sociedade ateniense. Ele que, num discurso oficial, declarava, segundo Tucidides, que o melhor que as mulheres poderiam, era fazer com que os homens falassem delas o menos possível, para bem como para mal, exibia o seu comercio com esta "hetaira", (a palavra significa simplesmente "amiga") de alto coturno. Assim, o caso de Aspesia e de outras mostra que uma mulher tinha de começar por se tornar meio cortesã para adquirir uma personalidade. Este fato é a condenação mais severa que pode fazer-se da família ateniense.
O concubinato é tolerado por Platão no seu Estado ideal, sob condição de que os homens escondam as suas "amigas" e elas não causem escândalo. E não falamos das prostitutas de baixo nível - escravas em grande parte, mas não todas - que enchiam os bordeis de Atenas e do Pireu e de que os rapazes podiam usufruir por um óbolo. Prostituição oficial nessas casas de que Solon fora o fundador, para assegurar a boa ordem e a moralidade publica. Mas, afinal, como e em que momento se operara uma revolução tão completa na condição da mulher? Como se tornaram as Andromacas e as Alcestes da lenda nas Aspesias da realidade ou nas esposas e concubinas de nomes desconhecidos, simples escravas do prazer do homem ou instrumentos de reprodução? Um fato é certo: houve um momento em que o sexo feminino sofreu a sua mais grave derrota. Senhora da comunidade familiar nos tempos matriarcais, a mulher dos séculos da Grécia clássica caiu na mais humilhante condição. Quando se produziu esta "grande derrota histórica da mulher"? Neste ponto estamos reduzidos a suposições. A mais verossímil é a de que ela esteja ligada à descoberta dos metais e ao desenvolvimento da guerra em indústria de grande rendimento.
Os homens descobrem o cobre e, ligando-o ao estanho, fabricam as primeiras armas de bronze. Depois descobrem o ferro, de que fazem armas novas, temíveis para o tempo. Na posse destas armas, fazem da guerra um negocio que vem a dar lucro imenso. Os saqueadores aqueus enchiam de ouro os túmulos dos reis de Micenas. Os Dórios destroem os restos da pacifica civilização dos Egeus. Tudo isto se passa no principio dos tempos históricos.
Com a civilização egeia desaba, ao mesmo tempo, o primado da mulher e instala-se o pretenso casamento monogâmico. E que o homem, senhor da guerra, quer poder transmitir às riquezas que ela lhe proporciona a filhos de quem tenha a certeza de ser pai. Dai o casamento monogâmico que faz da mulher legitima um instrumento de procriação, das outras um objeto de divertimento ou de prazer.
Os restos do matriarcado desapareceram, aliás, lentamente. Sem falar das lendas que os veiculam, pela poesia trágica, ate ao coração da época clássica, a mulher conservou durante muito tempo direitos que depois veio a perder e que ainda hoje nem em toda a parte recuperou. É o caso do direito de voto, que as Atenienses possuíam ainda, segundo um sábio helenista inglês, na época de Cecrops (que deve situar-se a volta do seculo X).
O cumulo é que o poeta trágico Euripedes, quando se pôs a tratar a tragédia com realismo, a pintar as mulheres, ou com os seus reais defeitos que as pressões sociais que sofriam lhes haviam inculcado, ou então, na mais verdadeira maneira nobre, tais como a lenda as apresentava, mas tão próximas, tão familiares que elas se tornavam realmente as esposas, as irmãs e as filhas dos espectadores - Euripedes provocou altos gritos em toda a Atenas, e foi acusado de misógino. Eurípedes pagou muito caro, junto dos seus contemporâneos, o não ter respeitado a imperiosa ordem de Péricles: Silêncio acerca das mulheres, silencio sobre as suas virtudes, silencio sobre a sua desgraça. Mas ele amava-as demasiado para se calar...
Mas a desnaturação da mulher teve uma consequência social muito mais grave. Sabe-se, com efeito, que perversão se introduziu no sentimento do amor. Incapaz, no homem, de tomar por objeto um ser tão degradado socialmente como a mulher, tornou-se aquilo a que se chama "amor grego" - essa pederastia de que a literatura antiga está cheia. A literatura, a mitologia - e a vida.
A condição da mulher é, pois, na sociedade antiga, uma chaga tão grave como a escravatura. A mulher excluída da vida cívica invoca, como o escravo, uma sociedade, uma civilização que lhe restitua a igualdade dos direitos com o outro sexo, que lhe restitua a sua dignidade e a sua humanidade.
E eis também porque foi entre as mulheres - já o disse -, tanto como entre os escravos, que o cristianismo se espalhou. Mas as promessas do cristianismo primitivo - promessas de libertação da mulher e do escravo - só imperfeitamente foram cumpridas. Pelo menos neste mundo terrestre em que vivemos.
Quantas revoluções não foram precisas, quantas não o serão ainda, para retirar a mulher do abismo onde a mergulhou a sua grande derrota histórica?
Assim de degradou a democracia ateniense. Reduzida aos cidadãos maiores do sexo masculino, era tão pouco o " poder popular" que o seu nome significava, que podemos avaliar em trinta mil homens, para uma população de quatrocentos mil habitantes, o número de cidadãos que a compunham.
Tenue película de solo nutriente, que uma tempestade arrastará para o mar. Se os Gregos inventaram a democracia, foi da maneira como uma criança tem a sua primeira dentição. É preciso que estes dentes cresçam e depois é preciso que caiam. Eles tornando a nascer.

Que é afinal a civilização? A palavra civilizado é, em grego, a mesma que significa domado, cultivado, enxertado. O homem civilizado é o homem enxertado, aquele que a si mesmo se enxerta para produzir frutos mais nutritivos e saborosos. A civilização é o conjunto das invenções e descobertas feitas para proteger a vida do homem, para a tornar mais independente em relação às forças naturais, para a consolidar num universo físico cujas leis (que no estado de ignorância da vida primitiva forçosamente o ferem), mais bem conhecidas, se tornem instrumentos da sua contra-ofensiva. Proteger a vida humana, sim, mas também torná-la mais bela, aumentar a alegria de viver numa sociedade onde se estabelecem lentamente, entre os homens, relações mais equitativas. Finalmente, fazê-la desabrochar na prática das artes que as coletividades apreciam em comum, aumentar a humanidade do homem nesse mundo ao mesmo tempo real e imaginário que é o mundo da cultura, mundo refeito e repensado da ciência e das artes, por sua vez fonte inesgotável de criações novas.
Múltiplas invenções-descobertas-conquistas. Eis algumas delas, à maneira de índice ainda nebuloso.
Vindos dos Bálcãs, em vagas sucessivas, os povos helênicos faziam a vida dos povos nômades. Tendas, armas de madeira, de cobre depois, caça e cabras. O cavalo estava já domesticado, rápido entre todos os animais conquistados pelo homem. Este povo selvagem vivia principalmente da caça. Fixado na península que tomou o nome de Hélade, deitou-se a cultivar rijamente o solo ingrato. Será para sempre mais camponês que citadino: é um povo de aldeões. A própria Atenas, na época da sua grandeza, não é ainda, e em primeiro lugar, sendo o mercado da campina atica. Os Gregos cultivam desde então os cereais, a oliveira, a figueira, a vinha. Rapidamente aprendem a trocar o azeite e o vinho pelos tecidos que os seus vizinhos asiáticos fabricavam. Ou aventuram-se a ganhar o mar para oferecer os seus produtos, em belas cerâmicas pintadas, aos indígenas do norte do mar Negro, em troca da cevada e do frumento indispensáveis à população cada vez maior das cidades que nasciam. Pelo desenvolvimento de uma agricultura especializada, que substituía a caça primitiva e que o levava a trocar o seu regime alimentar cárneo por um regime mais vegetariano, conforme com o clima do seu novo habitat, pelo desenvolvimento das sues relações comerciais, o povo grego conquistou maior bem-estar, ao mesmo tempo que entrou em contato, ele, povo ainda mal delineado, com povos de mais antiga civilização.
Mas, para isso, teve de fazer ousadamente, medrosamente, inabilmente, uma outra conquista: a do mar. O povo grego chegou à sua terra por caminhos terrestres e pelo norte. Errara durante tanto tempo pelas estepes da Ásia e da Rússia, caçando ou empurrando diante de si o seu magro gado, que esquecera o nome da extensão marinha, designada por palavras semelhantes em que quase todos os povos indo-europeus, seus parentes. A essa planura liquida que o latim e as línguas que dele derivam chamam mare, mer, etc., as línguas germânicas Meer, See, sea, etc., e as línguas eslavas more, morze, etc., não tinham já os Gregos nome para lhe dar. Foram obrigados a ir buscar uma palavra às populações que encontravam no solo que ia ser a sua terra: e disseram thalassa. Foi com estas populações, bem mais civilizadas do que eles eram, que aprenderam a construir barcos. A principio cheios de terror diante do elemento pérfido, arriscaram-se, apertados pela, dura pobreza... a fome amarga... e a necessidade do ventre vazio, dizem os velhos poetas, a enfrentar o reino das vagas e dos ventos, a conduzir os barcos carregados de mercadorias por sobre as profundezas abissais. Neste ofício se tornam, não sem trabalho e dano, o mais empreendedor povo marinheiro da antiguidade, destronando os próprios Fenícios.
Povo de camponeses, povo de marinheiros, tais são os primeiros passos da civilização dos Gregos.
Depressa vieram outras conquistas. O povo grego ganha o domínio da expressão poética; explora, arroteia os campos de imensos domínios que se tornarão aquilo a que chamamos gêneros literários. A língua grega não tem, ao principio, nome para isto: contenta-se com florir em obras-primas, numa exuberância sem par. Língua tão viva como a erva e a fonte, flexível na expressão dos cambiantes mais sutis do pensamento, em mostrar a luz do dia os mais secretos movimentos do coração. Musica forte e suave, órgão poderoso, flauta aguda, rústico pífaro.
Todos os povos primitivos tem canções e usam a linguagem ritmada para acompanhar e aliviar certos movimentos do trabalho. Os poetas gregos desenvolvem com uma grande fecundidade os ritmos, a maior parte dos quais lhes vem dum longínquo passado popular. Manejam primeiro o grande verso épico que lhes serve para celebrar, em cadencias nobres mas variáveis, as proezas dos heróis do passado. Imensos poemas, primeiro meio improvisados, - se transmitem de geração em geração. São recitados, com um acompanhamento muito simples de lira, e, pelo prazer compartilhado que neles encontram os assistentes, contribuem para formar a consciência das coletividades nas virtudes empreendedoras e corajosas. Estes poemas flutuantes fixam-se com o tempo: vão rematar nas duas obras mestras que nós lemos ainda, a Ilíada e a Odisséia, bíblias do povo grego.
Outros poetas, unindo mais estreitamente a poesia a musica, ao canto e a dança, e colhendo a sua inspiração na vida quotidiana dos indivíduos e das cidades, troçando e exaltando, encantando e instruindo, inventam o lirismo, ora satírico, ora amoroso, ora cívico. Outros ainda inventam o teatro, tragédia e comedia, ao mesmo tempo imitação e criarão nova da vida. Os poetas dramáticos são os educadores do povo grego.
Ao mesmo tempo que inventavam com as palavras encantadas da língua, com a memória do passado, com os trabalhos e as esperanças do presente, com os sonhos e as miragens da imaginação, os três grandes gêneros poéticos de todos os tempos - epopéia, lirismo e drama -, ao mesmo tempo que isto faziam, enfrentavam com o cinzel, depois da madeira, as mais esplendidas matérias que existem para esculpir, o calcário duro e o mármore, ou fundiam o bronze, e tiravam de uns e do outro a representação do corpo humano, esse corpo de uma beleza sem igual que é também o corpo dos deuses. Porque a estes deuses que povoam o mundo, mistério maligno, era preciso conquistá-los a todo o custo, era preciso amansá-los. Dar-lhes a bela e visível forma do homem e da mulher, era a melhor maneira de os humanizar, de os civilizar. A estes deuses levantam templos esplendidos, nos quais encerram a sua imagem, mas é ao ar livre que os festejam. Estas gloriosas casas votadas a divindade falam também da grandeza das cidades que as constroem. Se, durante séculos, e os maiores, a escultura e a arquitetura dos Gregos são todas consagradas aos habitantes do céu, estas artes, que os Gregos tomam dos povos vizinhos, nem por isso afirmam menos o poder dos homens de fazer beleza com a pedra esculpida ou ajuntada, ou com o metal.
E depois - e sempre ao mesmo tempo, o tempo do grande impulso que o leva, nos séculos VII e VI antes da nossa era, a conquista de todos os bens - o povo grego tenta desenredar as primeiras leis da ciência. Procura compreender o mundo em que vive, dizer de que ele feito, como se fez, procura conhecer-lhe as leis, que quer vergar ao seu próprio uso. Inventa as matemáticas, a astronomia, lança os fundamentos da física, da medicina.
E para quem são todas estas invenções e descobertas? Para os outros homens, para interesse e prazer deles. Mas não ainda para todos os homens. Em primeiro lugar, para os homens da cidade, termo pelo qual devemos entender a comunidade dos cidadãos que habitam um mesmo cantão (campo e povoação) da terra grega. Neste ainda apertado quadro, os Gregos procuram pelo menos construir uma sociedade que se quer livre e que dela fazem parte a igualdade dos direitos políticos. Esta sociedade é, nas cidades gregas mais avançadas, fundada sobre o principio da soberania popular. Os Gregos conquistaram pois uma primeira forma - ainda muito imperfeita - de democracia.
Tais são as mais importantes conquistas cujo conjunto define a civilização grega. Todas elas tendem ao mesmo fim: aumentar o poder do homem sobre a natureza, aumentar a sua própria humanidade. Eis porque tantas vezes se chama a civilização grega um humanismo. Há motivo para o fazer. Foi ao homem e a vida humana que o povo grego se esforçou por tornar melhores. Como este desígnio é ainda o nosso, o exemplo dos Gregos, que o deixaram inacabado, o seu fracasso até, devem ser meditados pelos homens de hoje.
Desta longa caminhada do povo grego, da selvajaria à civilização, enumera o poeta Esquilo, na sua tragédia de Prometeu, algumas jornadas. É certo que ele não sabe nem o porquê nem o como desta acessão dos seus antepassados incultos e miseráveis ao primeiro patamar do conhecimento que os libertou. Partilha ainda com eles algumas das suas superstições; crê nos oráculos, como um selvagem nos feiticeiros. E a Prometeu, ao deus a quem chama Filantropo, que ele atribui todas as invenções que o labor humano arrancou à natureza.
No entanto, votando o Benfeitor dos Homens, e os homens com ele, ao ódio de Zeus, tirano- do céu e da terra, que se propunha aniquilar sem razão a orgulhosa espécie humana, se Prometeu disso o não impedisse, ele faz do Amigo dos Homens, atuante e pensante, a audaciosa testemunha da energia da razão humana na luta que nós travamos desde o fundo das idades contra a miséria e a nudez da nossa condição.
Fala Prometeu:
"Ouvide as misérias dos mortais, sabei o que eu fiz por essas crianças débeis que conduzi à razão, à força do pensamento... Antigamente, os homens tinham olhos para não ver, eram surdos à voz das coisas, e, semelhantes às formas dos sonhos, agitavam ao acaso à duração da sua existência na desordem do mundo.
Eles não construíam casas ao sol, desconheciam o tijolo, as traves e as tábuas, e, como formigas, açoitavam-se no solo, metiam-se na escuridão das cavernas.
Não previam o retorno das estações, pois não sabiam ler no céu os sinais do Inverno, da Primavera florida, do Estio que amadurece os frutos. Faziam tudo sem nada conhecerem.
Até ao momento em que eu inventei para eles a ciência difícil do levantar e do por dos astros. Depois veio a dos números, rainha de todo o conhecimento. É a das letras que se juntam, memória do universo, obreira do labor humano, mãe das artes.
Depois, para os aliviar dos trabalhos mais pesados, ensinei-os a ligar ao arnês os animais selvagens. O boi vergou a cerviz. O cavalo tornou-se dócil ao cavaleiro. Puxou o carro. Foi o orgulho dos reis. E, para correrem os mares, dei-lhes a barca de asas de pano...
E ainda outras maravilhas. Contra a doença, os homens nada tinham, a morte apenas. Misturei filtros, preparei bálsamos: a vida deles extinguia-se, ela se tornou firme e continuou... Finalmente, abri para eles os tesouros da terra: tiveram o ouro e a prata, tiveram o bronze, tiveram o ferro... Tiveram a industria e as artes..."
Entremos na Grécia com o povo grego
Este povo — que a si mesmo se chamava os Helenos — fazia parte, pela língua (não nos arrisquemos a falar da raça), da grande família dos povos a que chamamos indo-europeus. A língua grega, com efeito, pelo seu vocabulário, pelas suas conjugações e declinações, pela sua sintaxe, é próxima das línguas faladas antigamente e hoje na índia e da maior parte das que se falam actualmente na Europa (excepções: basco, húngaro, finlandês, turco). O evidente parentesco dum grande número de palavras de todas estas línguas basta para o provar. Assim, père diz-se em grego e em latim pater, em alemão Vater, em inglês father. Frère: em latim frater (e phrater aplica-se em grego aos membros de uma família numerosa), em alemão Bruder, em inglês brother, brat em eslavo, brâtâ em sânscrito, bhrâtar em zend, língua da Pérsia antiga.
E assim por aí fora. Este parentesco da linguagem implica que os grupos humanos que povoaram depois a índia, a Pérsia, a Europa, começaram por viver juntos e falar uma língua comum. Admite-se que estes povos não estavam ainda separados por altura do ano 3000 e viviam em estado nómade entre o Ural (ou para além dele) e os Cárpatos.
Por volta da ano 2000, o povo grego, doravante desligado da comunidade primeira e ocupando a planície do Danúbio, começa a infiltrar-se nas terras que o Mediterrâneo oriental banha, quer na costa asiática, quer nas ilhas do Egeu, quer na Grécia propriamente dita. O mundo grego antigo compreende, pois, desde a origem, as duas margens do Egeu, e, no caminho da civilização, a Grécia da Ásia precede de muito a da Europa. (De resto, só muito recentemente os Gregos da Ásia foram expulsos pelos Turcos — em 1922 — dessa velha e gloriosa terra helênica que ocupavam há perto de quatro mil anos.)
Ao começarem a fixar-se no seu novo habitat, as tribos gregas aprenderam a agricultura com um povo muito mais avançado que elas e que ocupava todas essas regiões. Ignoramos o verdadeiro nome desse povo, a que os antigos chamavam algumas vezes Pelasgos. Chamamos-lhes, segundo o nome do mar em cujas margens viviam e cujas margens ocupavam, os Egeus. Ou ainda os Cretenses, porque o centro da sua civilização era em Creta. Este povo egeu sabia escrever: nos locais onde se fizeram pesquisas encontrou-se grande número de tabuinhas de argila cobertas de caracteres de escrita. Só muito recentemente esta escrita começou a ser decifrada. Com geral surpresa dos sábios — que há cinquenta anos ensinavam o contrário — , a língua das tabuinhas egeias revelou-se como grego, transcrito em caracteres silábicos não gregos. Como interpretar esta descoberta, é cedo ainda para o dizer.
Seja como for, se os invasores gregos transmitiram aos Egeus a sua língua, não lhes transmitiram a escrita, que ignoravam. O que aqui importa é determinar os bens que os Gregos primitivos receberam dos Egeus civilizados. Foram muitos e preciosos.
Os Cretenses praticavam há muito tempo a cultura da vinha, da oliveira, dos cereais. Criavam gado miúdo e grande. Conheciam numerosos metais, o ouro, o cobre e o estanho. Fabricavam armas de bronze. Ignoravam o ferro.
Os arqueólogos trouxeram à luz do dia, em Creta, nos princípios do século XX, os restos de vastos palácios dos príncipes egeus. Estes palácios compreendiam uma rede de compartimentos e de salas numerosas, dispostos à maneira de um labirinto e agrupados à volta de um largo pátio. O de Knossos, em Creta, cobre um espaço edificado de cento e cinquenta metros por cem. Tinha pelo menos dois andares. Ali se vêem salas de recepção com frescos nas paredes representando animais ou flores, cortejos de mulheres vestidas luxuosamente, corridas de touros. Ainda que o nível de civilização não seja acima de tudo uma questão de salas da banho ou de W. C., é curioso notar que no palácio de Knossos não faltavam banheiras nem gabinetes com autoclismo.
Mais digno de ser salientado, é o facto de a mulher gozar, nos tempos cretenses, de uma liberdade e de uma consideração muito superiores às da mulher grega do século V. As mulheres parecem ter exercido, em Creta, os mesteres mais diversos. Recentes pesquisas mostraram, aliás, que houve, em tempos muito recuados, nas margens do Egeu, vários povos em que era muito alta a condição da mulher. Alguns desses povos conheceram o matriarcado. Os filhos usavam o nome da mãe e o parentesco contava-se seguindo a descendência feminina. As mulheres escolhiam sucessivamente vários maridos e domina vam a comunidade.
Não parece que os povos egeus tenham sido belicosos. Os palácios e os restos das cidades não apresentam qualquer sinal de fortificação.
Assim, os Gregos, ao invadirem estas regiões entre o ano 2000 e o ano 1500, encontravam ali um povo já civilizado. Começaram a submeter-se ao prestígio e ao domínio dos Egeus: pagavam-lhes tributos. Depois revoltaram-se e, por volta de 1400, incendiaram o palácio de Knossos.
A partir de então, os povos gregos, ao mesmo tempo que herdam alguns dos deuses e dos mitos dos Egeus, e algumas das suas técnicas, seguem o seu próprio caminho. Nem a bela pintura cretense, toda inspirada na natureza — flores e folhas, aves, peixes e crustáceos — , parece ter deixado traços na arte grega, nem a língua parece ter depositado outra coisa que alguns nomes de lugares, a palavra labirinto (com Minos, o rei-touro que nele habitava), o novo nome do mar (thalassa), um reduzido número de outros.
A civilização das primeiras tribos gregas, os Aqueus, conserva ainda uma herança mais definida da época anterior. Dos Cretenses, o povo helénico recebeu dois dons, exactamente aqueles que fizeram dele o povo camponês e marinheiro que foi sempre: a agricultura e a navegação. Oliveiras, vinha e barcos: atributos gregos, e que o serão por muito tempo. Os homens vivem-nos, cantam-nos os poetas.
Mas as tribos gregas eram muito mais guerreiras que os seus predecessores desconhecidos. Depois de destruírem e reconstruírem um tanto o palácio de Knossos, transportaram o centro do jovem mundo grego para o Peloponeso. Os reis ergueram aí as temíveis cidadelas de Micenas e de Tirinte, cujas muralhas ciclópicas não desabaram ainda. Estes Aqueus, pouco dados às civilizações egeias, não foram mais que detestáveis ladrões.
Os seus palácios e os seus túmulos regurgitam de ouro roubado.
Sobre o mar, os Gregos começaram por mostrar-se marinheiros muito mais tímidos que os Egeus, que tinham chegado à Sicília. Os barcos dos Gregos de Micenas não se aventuram para fora do Egeu. A navegação dos Aqueus é muito mais pirataria do que comércio. Os senhores de Micenas empreendem com os seus soldados vastas operações de banditismo. Fizeram-no no Delta, fizeram-no na Ásia Menor: daí haver ouro nos túmulos reais, jóias diversas, taças, delgadas folhas de ouro aplicadas em máscara sobre o rosto dos mortos e, sobretudo, inúmeras placas de ouro cinzeladas com arte.
A última das expedições guerreiras dos príncipes aqueus, que levaram consigo os seus numerosos vassalos, foi a não lendária mas histórica guerra de Troia. A cidade de Troia-Ilion, que era também uma cidade helénica, situada a pequena distância dos Dardanelos, enriquecera cobrando direitos aos mercadores que, para passar o mar Negro, tomavam o caminho de terra, ao longo do estreito, a fim de evitar as correntes, levando aos ombros barcos e mercadorias. Os Troianos espoliavam-nos largamente à passagem. Estes ratoneiros foram pilhados por seu turno. ílion foi tomada e incendiada após um longo cerco, no princípio do século XII (cerca de 1180). Numerosas lendas, aliás belas, mascaravam as razões verdadeiras, que eram razões económicas não heróicas, desta rivalidade de salteadores. A Ilíada dá-nos algumas. Os arqueólogos que fizeram escavações em Tróia, no século passado, encontraram, nos restos duma cidade que mostra sinais de incêndio e que a terra duma colina recobria há mais de três mil anos, objectos da mesma época que os encontrados em Micenas. Os ladrões não escapam aos pacientes inquéritos dos arqueólogos-polícias.
Entretanto, novas tribos helénicas — Eólios, Jónios, por fim, Dórios – invadiram, depois dos Aqueus, o solo da Grécia. A invasão dos Dórios os últimos a chegar, situa-se por volta de 1100. Enquanto que os Aqueus se tinham civilizado um pouco em contacto com os Cretenses, os Dórios continuavam a ser muito primitivos. Contudo, conheciam o uso do ferro: com este metal tinham feito diversas armas. Entre os Aqueus, o ferro era ainda tão raro que o consideravam um metal tão precioso como o ouro e a prata.
Foi com estas armas novas, mais resistentes e sobretudo mais longas (espadas de ferro contra punhais de bronze), que os Dórios invadiram a Grécia como uma tempestade. Micenas e Tirinte são por sua vez destruídas e saqueadas. A civilizaçao aqueia, inspirada na dos Egeus, afunda-se no esquecimento.
Torna-se por muito tempo uma terra meio fabulosa da história. A Grécia, rasgada pela invasão dória, está povoada agora unicamente de tribos gregas. A historia grega pode começar. Ela começa na noite dos séculos XI, X e IX. Mas o dia está perto.
*
Que terra era esta que iria tornar-se a Hélada? Que recursos primeiros, que obstáculos oferecia a um povo primitivo para uma longa duração histórica, uma marcha tacteante para a civilização?
Dois caracteres importa revelar: a montanha e o mar.
A Grécia é um país muito montanhoso, embora os seus pontos mais altos não atinjam nunca três mil metros. Mas a montanha está por toda a parte, corre e trepa em todas as direcções, por vezes muito abrupta. Os antigos marinhavam-na por carreiros que subiam a direito, sem se dar ao trabalho de zigue zaguear. Degraus talhados na rocha, no mais escarpado da encosta. Esta montanha anárquica dava um país dividido numa multidão de pequenos cantões, a maior parte dos quais, aliás, tocavam o mar. Daqui resultava uma compartimentação favorável à forma política a que os Gregos chamam cidade.
Forma cantonal do Estado. Pequeno território fácil de defender. Natural de amar. Nenhuma necessidade de ideologia para isto nem de carta geográfica. Subindo a uma elevação, cada qual abraça, com um olhar, o seu país inteiro. No pé das encostas ou na planície, algumas aldeias. Uma povoação construída sobre uma acrópole, eis a capital. Ao mesmo tempo, fortaleza onde se refugiam os camponeses em caso de agressão, e, nos tempos de paz, que pouco dura entre tantas cidades, praça de mercado. Esta acrópole fortificada é o núcleo da cidade quando nasce o regime urbano. A cidade não é construída à beira-mar — cuidado com os piratas! — , suficientemente próxima dele, no entanto, para instalar um porto.
As aldeias e os seus campos, uma povoação fortificada, meio citadina, eis os membros esparsos e juntos de um Estado grego. A cidade de Atenas não é menos a campina e as suas lavouras que a cidade e as suas lojas, o porto e os seus barcos, é todo o povo dos Atenienses atrás do seu muro de montanhas, com a sua janela largamente aberta para o mar: é o cantão a que se chama Ática.
Outras cidades, às dúzias, noutras molduras semelhantes. Entre estas cidades numerosas, múltiplas rivalidades: políticas, económicas e a guerra ao cabo delas. Nunca se assinam tratados de paz entre cidades gregas, apenas tréguas: contratos a curto prazo, cinco anos, dez, trinta anos, o máximo. Mas antes de passado o prazo já a guerra recomeçou. As guerras de trinta anos e mais são mais numerosas na história grega que as pazes de trinta anos.
Mas a eterna rivalidade grega merece por vezes um nome mais belo: emulação. Emulação desportiva, cultural. O concurso é uma das formas preferidas da actividade grega. Os grandes concursos desportivos de Olímpia e outros santuários fazem largar as armas das mãos dos beligerantes. Durante estes dias de festa, os embaixadores, os atletas, as multidões circulam livremente por todas as estradas da Grécia. Há também em todas as cidades formas múltiplas de concursos entre os cidadãos. Em Atenas, concursos de tragédtas de comedias, de poesia linca. A recompensa é insignificante: uma coroa de hera para os poetas ou um cesto de figos, mas a glória é grande. Por vezes um monumento a consagra. Após a Amígom, Sofocles foi eleito general. E saiu-se com honra de operações que teve de conduzir. Em Delfos, sob o signo de Apolo ou de Dioniso, concursos de canto acompanhado de lira ou de flauta Anas militares, cantos de luto ou de bodas. Em Esparta e em toda a parte concursos de dança. Em Atenas e noutros lugares, concursos de beleza entre homens ou entre mulheres, conforme os sítios. O vencedor do concurso de beleza masculina recebe, em Atenas, um escudo.
A gloria das vitórias desportivas alcançadas nos grandes concursos nacionais não pertence somente à nação: é a glória da cidade do vencedor. Os maiores poetas — Píndaro e Simónides — celebram essas vitórias em esplêndidas arquitecturas líricas onde a música e a dança se juntam à poesia para dizerem ao povo a grandeza da comunidade dos cidadãos de que o atleta vencedor não e mais que delegado. Acontece o vencedor receber a mais alta recompensa que pode honrar um benfeitor da pátria: ser pensionado - alimentado instalado - no pritaneu, que é a câmara municipal da cidade.
Tal como os exércitos, enquanto duram os jogos nacionais, os tribunais folgam, adiam-se execuções capitais. Tréguas que não duram mais de alguns dias, por vezes trinta.
A guerra crônica das cidades é um maI que acabará por ser mortal ao povo grego. Os Gregos nunca foram além - quando muito, em imaginação - da
forma do Estado cidade-cantão. A linha do horizonte das colinas que limitam e defendem a cidade parece limitar, ao mesmo tempo que a visão, a vontade de cada povo de ser grego antes de ser ateniense, tebano ou espartano. As ligas alianças ou confederações de cidades são precárias, prontas a desfazer-se, à desagregar-se por dentro, mais do que a sucumbir aos golpes de fora. A cidade forte que que constitui o núcleo dessas alianças não leva muito tempo a tratar domo súditos aqueles a quem continua a chamar, por cortesia, aliados: faz da liga um impérioo cujo jugo pesa muito em contribuições militares e em tributos, no entanto, não há uma cidade grega que não tenha a consciência vivíssima de pertencer a comunidade helênica. Da Sicília à Ásia, das cidades da costa africana às que ficam para lá do Bosforo, até a Criméia e ao Cáucaso. «o corpo helênico é do mesmo sangue», escreve Heródoto, «fala a mesma língua tem os mesmos deuses, os mesmos templos, os mesmos sacrifícios, os mesmos usos, os mesmos costumes». Fazer aliança com o Bárbaro, contra outros Gregos, é trair.
O Bárbaro, termo não pejorativo, é simplesmente o estrangeiro, é o não-Grego, aquele que fala essas línguas que soam bar-bar-bar, tão estranhas que parecem línguas de aves. A andorinha também fala bárbaro. O Grego não despreza os Bárbaros, admira a civilização dos Egípcios, dos Caldeus e de muitos outros: sente-se diferente deles porque tem a paixão da liberdade e não quer ser «escravo de ninguém». «O Bárbaro nasceu para a escravatura, o Grego para a liberdade»: por isto mesmo morreu Ifigênia. (Pontinha de racismo).
Perante a agressão bárbara, os Gregos unem-se. Não todos, nem por muito tempo: Salamina e Plateias, Grécia unida por um ano, não mais. Tema oratório, não realidade viva. Em Plateias, o exército grego combate, ao mesmo tempo que aos Persas, numerosos contingentes doutras cidades gregas que se deixaram alistar pelo invasor. A grande guerra da independência nacional é ainda uma guerra intestina. Mais tarde, as divergências das cidades abrirão a porta à Macedônia, aos Romanos.
*
A montanha protege e separa, o mar amedronta mas une. Os Gregos não estavam encerrados nos seus compartimentos montanhosos. O mar envolvia todo o país, penetrava profundamente nele. Havia pouquíssimos cantões, mesmo recuados, que o mar não atingisse.
Mar temível, mas tentador e mais aliciante que qualquer outro. Sob um céu claro, na atmosfera límpida, o olhar do nauta descobre a terra duma ilha montanhosa a cento e cinquenta quilómetros de distância. Vê-a como «um escudo pousado sobre o mar».
As costas do mar grego oferecem portos numerosos, ora praias de declive suave, para onde os marinheiros podem à noite puxar os seus leves barcos, ora portos de água profunda, protegidos por paredes rochosas, onde as grandes naves de comércio e os navios de guerra podem ancorar ao abrigo dos ventos.
Um dos nomes que o mar toma em grego significa estrada. Ir pelo mar, e ir pela estrada. O mar Egeu é uma estrada que, de ilha em ilha, conduz o marinheiro da Europa à Ásia sem que ele perca nunca a terra de vista. Estas cadeias de ilhotas parecem calhaus lançados por garotos num regato para o atravessarem, saltando de um para outro.
Não há um cantão grego donde não se distinga, subindo a qualquer elevação, uma toalha de agua que reflecte no horizonte. Nem um ponto do Egeu que esteja a mais de sessenta quilômetros de terra. Nem um ponto da terra grega a mais de noventa quilómetros do mar.
As viagens são baratas. Algumas dracmas e estamos no cabo do mundo conhecido. Alguns séculos de desconfiança e pirataria, e os Gregos, mercadores ou poetas, por vezes uma coisa e outra, tomam contacto amigável com as velhas civilizações que os precederam. As viagens de Racine e de La Fontaine não vão além de Ferté-Milon ou Château-Thierry. As viagens de Sólon, de Ésquilo, de Herodoto e de Platão chegam ao Egipto, à Ásia Menor e Babilónia, a irenaica e a Sicília. Não há um Grego que não saiba que os Bárbaros são civilizados há milhares de anos e que têm muito para ensinar ao povo do «Nós-Gregos-somos-crianças». O mar grego não é a pesca do atum e da sardinha e a via das permutas com os outros homens, a viagem ao país das grandes obras de arte e das invenções surpreendentes, do trigo que cresce vasto nas vastas planícies, do ouro que se esconde na terra e nos rios, a viagem ao pais das maravilhas, tendo por única bússola a carta noturna das estrelas Para além do mar, há uma grande abundância de terra desconhecida para descobrir cultivar e povoar. Todas as grandes cidades, a partir do século VIII, vão plantar rebentos nas cidades novas em terra nova. Os marinheiros de Mileto fundam noventa cidades nas margens do mar Negro. E de caminho fundam também a astronomia.
Concluindo: o Mediterrâneo é um lago grego de caminhos familiares. As cidades instalam-se nas margens dele «como rãs ao redor de um charco», diz Platão. Evoe ou coaxo! O mar civilizou os Gregos. Aliás foi só à força que o povo grego se tornou um povo de marinheiros, o grito do ventre faminto que arma os barcos e os lança ao mar. A Grécia era um pais pobre. «A Grécia foi criada na escola da pobreza.» (Outra vez Heródoto.) O solo é pobre, e ingrato. Nas encostas é, muitas vezes, pedregoso. O clima é seco demais. Após uma primavera precoce e efêmera, com uma magnifica e brusca floração das árvores e dos prados, o sol não se cobre nunca mais. O Verão instala-se como rei e queima tudo. As cigarras zangarreiam na
poeira. Durante meses, nem uma nuvem no céu. Muitas vezes, nem uma gota de água cai em Atenas de meados de Maio ao fim de Setembro. Com o Outono vem a chuva, e no Inverno rebentam as tempestades. Borrascas de neve, mas que não se aguentam dois dias. A chuva cai em grossas pancadas, em tromba. Há sítios em que a oitava parte ou mesmo a quarta parte da chuva de um ano, cai em um só dia. Os rios, meio secos, tornam-se correntes temerosas, água rugidora e devoradora que come a delgada camada de terra das encostas calvas e a arrasta para o mar. A desejada água torna-se um flagelo. Em certos vales fechados, as chuvas formam baixos pantanosos. Deste modo, o camponês tinha que lutar, ao mesmo tempo, contra a seca que queimava os centeios e contra a inundação que lhe afogava os prados. E mal o podia fazer. Construía os seus campos nas encostas, em terraços, e transportava em cestos, de um muro para outro, a terra que resvalara do seu bocado. Tentava irrigar os campos, drenar os fundos pantanosos e limpar as bocas por onde havia de escoar-se a água dos lagos. Todo este trabalho, feito com ferramentas de hotentote, era duríssimo e insuficiente. Teria sido preciso repovoar de árvores a montanha nua, mas isso não sabia ele. Ao princípio, a montanha grega era bastante arborizada. Pinheiros e plátanos, ulmeiros e carvalhos coroavam-na de bosques centenários. A caça pululava. Mas desde os tempos primitivos os Gregos derrubaram árvores, fosse para construir aldeias, fosse para fazer carvão. A floresta perdeu-se. No século V, colinas e picos perfilavam já contra o céu as mesmas arestas secas de hoje. A Grécia ignorante entregou-se ao sol, à água desregrada, à pedra.
Lutava-se «pela sombra de um burro».
Sobre este solo duro, sobre este céu caprichosamente implacável, davam-se bem oliveiras e vinhas, menos bem os cereais, cuja raiz não pode ir buscar a humidade suficientemente fundo. Não falemos das charruas, ramos em forquilha ou grosseiros arados de madeira que mal arranhavam a terra. Abandonando os cereais, os Gregos vão buscar o trigo às terras mais afortunadas da Sicília ou das regiões a que hoje chamamos Ucrânia e Romênia. Toda a política imperialista de Atenas grande cidade, no século V, é, antes de mais, política do trigo. Para alimentar o seu povo, Atenas tem de se manter senhora dos caminhos do mar, em particular dos estreitos que são a chave do mar Negro.
O azeite e os vinhos são a moeda de troca e o orgulho da filha deserdada do mundo antigo. O produto precioso da oliveira cinzenta, dom de Atena, responde às necessidades alimentares da vida quotidiana: cozinham com azeite, alumiam-se com azeite, à falta de água lavam-se com azeite, esfregam-se, alimentam de azeite a pele sempre seca.
Quanto ao vinho, maravilhoso presente de Dioniso, só nos dias de festa o bebem, ou à noite, entre amigos, e sempre cortado com água. «Bebamos, para que esperar a luz da lâmpada? só resta da luz do dia um quase nada. Traz para baixo, menino, as grandes taças coloridas. O vinho foi dado aos homens pelo filho de Zeus e de Sêmele para que esqueçam as suas penas. Enche-as até à borda com uma parte de vinho e duas partes de água, e que uma taça empurre a outra.» (O Ramuz! Não, Alceu.) «Não plantes nenhuma outra árvore antes de teres plantado vinha.» (Outra vez o velho Alceu de Lesbos, antes de Horácio.) O vinho, espelho da verdade, «fresta por onde se vê o homem por dentro!»
A vinha, amparada em tanchões, ocupa as encostas, arquitectadas em terraços, da terra grega. Na planície plantam-na entre as árvores dos pomares, empada de uma para outra.
O Grego é sóbrio. O clima assim o exige, repetem os livros. Sem dúvida, mas a pobreza não o exige menos. O Grego vive de pão de cevada e de
centeio, amassado em bolos chatos, de legumes, de peixe, de frutos, de queijo e de leite de cabra. E muito alho.
Carne caça, criação, cordeiro e porco — , só nos dias de festa, como o vinho, não falando dos senhores (os «gordos», como se diz). Desta pobreza de regime e de vida (é claro, esta gente do Meio-dia é preguiçosa, vive de coisa nenhuma, regalada de bom sol), a causa não está apenas no solo ingrato ou mesmo nos processos elementares de cultura. Acima de tudo, resulta da desigual repartição da terra pelos seus habitantes.
No começo, as tribos que ocupavam a região tinham feito da terra uma propriedade colectiva do clã. Cada aldeia tinha o seu chefe de clã, responsável pela cultura do solo do distrito, pelo trabalho de cada um e pela distribuição dos produtos da terra. O clã agrupa um certo número de famílias — no sentido amplo de gente duma casa — , cada uma das quais recebe uma extensão de terra para cultivar. Não há, nesses tempos primitivos, propriedade privada: a terra devoluta não pode ser vendida ou comprada, e não se reparte por morte do chefe de família. É inalienável. Em compensação, o parcelamento pode ser refeito, a terra outra vez distribuída, segundo as necessidades de cada família.
Esta terra comum é cultivada em comum pelos membros da casa. Os frutos da cultura são repartidos sob a garantia de uma divindade que se chama Moira, cujo nome quer dizer parte e sorte, e que presidira iguaimente à repartição, por sorteio, dos lotes de terra. Entretanto, uma parte do domínio, mais ou menos metade, é sempre posta de pousio: é preciso deixar repousar a terra, não se pratica ainda, dum ano para outro, a cultura alternada de produtos diferentes. O rendimento é pois muito baixo.
Mas as coisas não ficam por aqui. O antigo comunismo rural, forma de propriedade própria do estádio da vida primitiva (ver os Batongas da África do Sul, ou certos povos de Bengala), começa a desagregar-se a partir da época dos salteadores aqueus. A monarquia de Micenas era militar. A guerra exige um comando unificado. Após uma campanha proveitosa, o rei dos reis e os reis subalternos, seus vassalos, talhavam para si a parte de leão, na partilha do saque como na redistribuição da terra. Ou então certos chefes apropriam-se simplesmente das terras de que apenas eram administradores. O edifício da sociedade comunitária, onde se introduzem graves desigualdades, destrói-se pelo topo. A propriedade privada cria-se em benefício dos grandes.
Instala-se também por outra maneira, sinal de progresso... Alguns indivíduos podem ser, por razões diversas, excluídos dos clãs. Podem também sair deles de sua própria vontade. O espírito de aventura leva muitos a tomar o caminho do mar. Outros ocupam, fora dos limites do domínio do clã, terras que haviam sido julgadas demasiado medíocres para ser cultivadas. Forma-se uma classe de pequenos proprietários à margem dos clãs: a propriedade deixa de ser comunal, torna-se, por fases, individual. Esta classe é pobríssima, mas muito activa. Quebrou os laços com o clã: rompe-os por vezes com a terra. Estes homens formam guildas de artífices: oferecem aos clãs as ferramentas que fabricam, ou simplesmente trabalho artesanal como carpinteiros, ferreiros, etc. Entre estes «artífices», não esqueçamos nem os médicos nem os poetas.
Agrupados em corporações, os médicos têm regras, receitas, bálsamos e remédios que vão propondo de aldeia em aldeia: estas receitas são sua exclusiva propriedade. Do mesmo modo, as belas narrativas em verso, improvisadas e transmitidas por tradição oral nas corporações de poetas, são propriedade dessas corporações.
Todos estes novos grupos sociais nascem e se desenvolvem no quadro da cidade. E aqui temos as cidades divididas em duas metades de força desigual: os grandes proprietários rurais, por um lado, e, por outro, uma classe de pequenos proprietários mal favorecidos, de artífices, de simples trabalhadores do campo, de marinheiros — tudo gente de ofício, «demiurgos», diz o Grego, turba miserável ao princípio.
Todo o drama da história grega, toda a sua grandeza futura se enraíza no aparecimento e no progresso destes novos grupos sociais. Nasceu uma nova classe que vai tentar arrancar aos «grandes» os privilégios que fazem deles os senhores da cidade. É que só estes proprietários nobres são magistrados, sacerdotes, juizes e generais. Mas a turba popular depressa tem por seu lado o número. Quer refundar a cidade na igualdade dos direitos de todos. Mete-se na luta, abre o caminho para a soberania popular. Aparentemente desarmada, marcha à conquista da democracia. O poder e os deuses são contra ela. Mesmo assim, a vitória será sua.
*
Eis, sumariamente indicadas, algumas das circunstâncias cuja ação conjunta permite e condiciona o nascimento da civilização grega. Repare-se que não foram somente as condições naturais (clima, solo e mar), como o não foi o momento histórico (herança de civilizações anteriores), nem as simples condições sociais (conflito dos pobres e dos ricos, o «motor» da história), mas sim a convergência de todos estes elementos, tomados no seu conjunto, que constituíram uma conjuntura favorável ao nascimento da civilização grega.
E então o «milagre grego»? — perguntarão certos sábios ou assim chamados. Não há «milagre grego». A noção de milagre é fundamentalmente anti- científica, e é também não-helênica. O milagre não explica nada: substitui uma explicação por pontos de exclamação.
O povo grego não faz mais que desenvolver, nas condições em que se encontra, com os meios que tem à mão, e sem que seja necessário apelar para dons particulares de que o Céu lhe teria feito dom, uma evolução começada antes dele e que permite à espécie humana viver e melhorar a sua vida.
Um exemplo só. Os Gregos parecem ter inventado, como que por milagre, a ciência. Inventam-na, com efeito, no sentido moderno da palavra: inventam o método científico. Mas se o fazem é porque, antes deles, os Caldeus, os Egípcios, outros ainda, tinham reunido numerosas observações dos astros ou sobre as figuras geométricas, observações que permitiam, por exemplo, aos marinheiros, dirigirem-se no mar, aos camponeses medir os seus campos, fixar a data dos seus trabalhos.
Os Gregos aparecem no momento em que, destas observações sobre as propriedades das figuras e o curso regular dos astros, se tornava possível extrair leis, formular uma explicação dos fenômenos. Fazem-no, enganam-se muitas vezes, recomeçam. Não há nada aqui de miraculoso, mas apenas um novo passo do lento progresso da humanidade.
Tirar-se-iam outros exemplos, e com abundância, dos outros domínios da atividade humana.
Toda a civilização grega tem o homem como ponto de partida e como objeto. Procede das suas necessidades, procura a sua utilidade e o seu progresso. Para aí chegar, desbrava ao mesmo tempo o mundo e o homem, e um pelo outro. O homem e o mundo são, para ela, espelhos um do outro, espelhos que se defrontam e se lêem mutuamente.
A civilização grega articula um no outro o mundo e o homem. Casa-os na luta e no combate, numa fecunda amizade, que tem por nome Harmonia.

Como os astecas concebiam o surgimento da vida? E o destino do homem após a morte? Existem várias interpretações, segundo a escatologia asteca. Para Alfredo López Austin, a geografia do mundo asteca está dividida em três planos - subterrâneo, terreno e celestial -, todos ligados pela árvore cósmica de Tamoanchán, chamada Xochtlicacín (De Onde Brotam as Flores). O plano subterrâneo, onde estão fincadas as raízes da árvore, se chama Chicnauhmictlín (O Nono Lugar do Inframundo). O plano terrestre, ocupado pelo tronco da árvore, se chama, por sua vez, Tlalticpac (A Superfície da Terra), e se compõe de quatro planos. E, finalmente, onde estão esparramados os galhos mais altos, situa-se o Chicnauhtopin (Os Nove Lugares Celestiais).
No começo dos tempos, por dentro do tronco, fluíam as energias do céu e do inframundo, enroscadas, mas não misturadas. Com o pecado dos deuses, entretanto, rompeu-se o tronco e as duas seivas, superior e inferior ou "quente e fria”, segundo a terminologia mítica -, misturaram-se, dando origem ao caos mortífero da vida terrena.
Mas de onde se origina a vida do homem?
Seu ponto de partida se dá sob a forma simbólica de uma “semente” (ochlachtli) originária do nível mais inferior do inframundo. Essa semente - às vezes chamada de “coração” -, desprovida de qualquer pecado ou impureza, é colocada no Tlalocan, o paraíso do deus Tlaloc, onde aguarda o chamado da vida. Quando as duas forças, superior e inferior, se conjugam na semente, ela é trazida, então, à vida no Tlalticpac terreno, onde nasce sob a forma de uma criança.
Ao ingressar na Terra, contudo, a criança é envolvida pelas energias inferiores do inframundo, tais como a morte, o sexo e o pecado, o que a obriga a ser submetida, logo após o nascimento, a um ritual de purificação, semelhante ao do batismo cristão. Com o passar dos anos, dependendo da pessoa e dos seus esforços, pode acontecer de ela conseguir eliminar quase que totalmente estas “forças frias”, a ponto de se tornar algo semelhante a um iogue ou um santo cristão. (Esse processo de aquisição de forças divinas, adverte López Austin, ocasiona a perda da sexualidade, o que representa um bem, já que o sexo é visto no esoterismo asteca como um dos elos da cadeia nefasta que conduz à degeneração e à morte.)
Finalmente, quando o homem morre, o seu “coração” ou “semente” é recambiado de volta para o nível mais profundo do inframundo, sofrendo no caminho um demorado processo de "eliminação das impurezas”. (Esse processo estaria retratado na árdua viagem de quatro anos que os “mortos comuns” devem empreender antes de alcançar o último nível do inframundo).
Mas, e depois dessa purificação, o que acontece ao morto?
Na hipótese mais conhecida, o morto simplesmente desaparece após uma estadia de quatro anos no último nível do Mictlán. (O que não deixa de ser um contrassenso: se o destino é desaparecer para sempre, para que esta “prorrogação” da vida, trabalhosa e absolutamente inútil?)
Numa segunda hipótese, quase tão aflitiva quanto a primeira, o morto, transformado novamente em semente “limpa" e completamente despersonalizada, fica pronto para retornar ao Tlalticpac (a Terra), numa espécie de "reencarnação asteca”. (Matos Moctezuma compara a descida aos nove níveis do inframundo como uma gestação às avessas, na qual o morto retrocede à condição de semente, estando pronto para recomeçar o ciclo de uma nova vida terrena.) López Austin acrescenta que um dos termos aplicados ao inframundo -Ximoayan -, que deriva do verbo “polir”, pode ser uma indicação de que o inframundo é o local onde se procede à “purificação” da semente para uma posterior reutilização.
Finalmente, numa terceira e última hipótese, o morto deve executar algum tipo de trabalho retributivo no Além, celestial ou subterrâneo - conforme tenham predominado em seu coração as energias do “alto” ou de “baixo” antes de ir gozar (presume-se que para sempre) das delícias da Árvore Celestial.

Com base no que os primeiros arqueólogos sabiam pelas escavações e pelas fontes escritas, procurou-se o centro do império hitita na vasta área entre o Mediterrâneo e a Mesopotâmia, ao longo do Tigre e Eufrates, ou seja, na outra vertente da grande cadeia montanhosa do Touro. Então encontrara-se, ao invés, a capital hitita atrás dessa cadeia, na zona entre o mar Negro e o Mediterrâneo, que os gregos chamaram simplesmente Anatólia, quer dizer Oriente. A Anatólia - hoje parte asiática da Turquia - tem aproximadamente duas vezes o tamanho da Itália, e é cercada de cada lado por cadeias montanhosas que protegem o território inteiro.
Na Anatólia meridional estende-se, da Lícia a oeste ao Eufrates a Leste; o Touro, que separa a região costeira mediterrânea do planalto anatólico. Com os seus montes que ultrapassam os 4.000 metros e elevam-se Íngremes sobre o mar, o Touro representa uma barreira quase intransponível que apenas poucos conseguiram penetrar. Assim, não existe praticamente nenhuma ligação entre o Mediterrâneo meridional e a Anatólia.
Mais a leste, no ponto de encontro entre a Anatólia e a Síria, a cadeia do Touro é atingível apenas onde os rios tem escavado o seu leito no passar de milênios. Uma dessas passagens é a famosa Porta de Cilícia, de apenas dez metros de largura em seu ponto mais estreito, pela qual transitou o exército de Alexandre Magno em marcha para Índia.
Ao norte, a Anatólia é separada do Mar Negro por uma outra barreira montanhosa, os Montes do Ponto, de 1.100 quilômetros de comprimento por 150 quilômetros de largura, enquanto a oeste, é separado Egeu apenas um umbral montanhoso menor.
A leste, os Montes do Ponto e o Touro formam, encontrando-se, um planalto em ascensão progressiva, que atinge, em largos trechos, alturas superiores a 4.000 metros, e fica parcialmente coberto de neve ou gelado durante todo o ano. Dos trinta e um picos que ali se encontram nas proximidades do lago de Van, apenas seis estão abaixo dos 3.000 metros. Trata-se, em parte, de vulcões extintos. O mais imponentes desses cones vulcânicos é o Agri Dagi (cheio de fendas) com os seus 5.167 metros, conhecido na bíblia com o nome de Ararat.
Nessa gigantesca bacia circundada por montes encontra-se o planalto anatólico, que no ponto mais baixo está a 500 metros do nível do mar, mas sai em amplas planícies a mil e mais metros, e é atravessado novamente por cadeias de colinas, montes e montanhas.
Os planaltos que se encontram no meio têm nascentes e rios, mas nenhuma queda d'água, por isso nasceram uma série de lagos que, como o Van, perdem bastante água por evaporação durante os verões tórridos e se acham portanto com uma salinidade tal, que impedem a vida íctica.
O Tuz Golu por exemplo, o grande lago salgado no "coração morro da Anatólia" tem, com seus 34%, uma salinidade superior à do Mar Morto e pertence, portanto, às águas mais salgadas do mundo. E um lago de apenas dois ou três metros de profundidade, porém em seu nível máximo chega a cobrir uma superfície de cerca de três vezes o lago de Constanza (Bodensee) com uma superfície de 538 quilômetros quadrados. No verão, a água se evapora quase totalmente, de modo que no outono o lago apresenta um campo de neve esbranquiçado, como resultado das camadas salinas de vários metros de espessura.
Existem poucos dos que chegam ao mar, na Anatólia, e nenhum deles é navegável: o Meandro, este campeão que com todos os seus aqui e ali e adiante e atrás não consegue avançar, toma o seu nome de rio Anatólio ocidental Menderes, que na antiguidade se chamava exatamente Meandro.
A maior parte dos rios que são forçados a escavar seu percurso nos montes levam atrás de si enormes massas de terra aluvionar, que colorem suas águas. Eis por que um deles se chama "Pintado de Vermelho".
Trata-se do Kizil Irmak, que nasce nos montes do Ponto, dobra primeiro para o sul e depois volta em amplo arco ao norte, para desembocar no Mar Negro. Na antiguidade se chamava Halys, e é o rio que Creso atravessou, confiando no oráculo de Delfos, para destruir um grande império que não imaginava que se tomaria seu. - Entre o arco do Halys, mais próxima do Mar Negro do que do Mediterrâneo, está exatamente Hattusa, encostada ao sul contra uma montanha, em um vale profundo que se abre para o norte.
A posição e a direção do olhar não fariam supor inicialmente que os hititas estenderiam seu império sobretudo a sul e sudeste além das cadeias do Touro até a Babilônia e na Palestina, tanto mais que os moines anatólicos dobram também para o interior predominantemente na direção oeste-leste, tornando difícil a estrada do sul devido aos contínuos desbarrancamentos de montanhas.
Tanto maior portanto a maravilha da descoberta do império hitita na Anatólia setentrional, em uma zona que já na antiguidade não se enumerava entre os centros da civilização.
Seriam os hititas então um povo montanhês da Anatólia? As escavações haviam revelado a existência de relações originais entre diversas culturas. Foram desenterrados conjuntos arquitetônicos cujas plantas podiam ser substituídas pelas do labirinto de Creta (e semelhantes as encontradas mais tarde na Índia), comprovou-se que algumas divindades provinham da Mesopotâmia; soube-se que os hititas escreviam em caracteres cuneiformes babilônicos arcádicos e conheciam o babilônico, mas que tinham uma língua própria, sem qualquer relação com as línguas conhecidas.
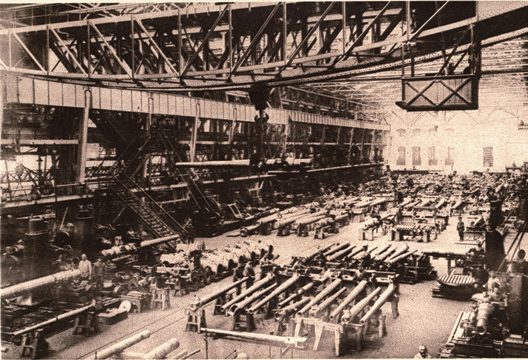
O historiador estadunidense Laurence Lafore (1917-85) caracterizou a Europa no período pré-guerra como um “barril de pólvora” de tensões, das quais a mais complicada era a ameaça sérvia ao Império Austro-Húngaro. Havia a Alsácia-Lorena: caso se iniciasse uma guerra entre Alemanha e França, esta só aceitaria a paz se a Alsácia-Lorena fosse devolvida [...] [e] a Alemanha jamais admitiria a perda das províncias. Havia a rivalidade naval anglo-germânica: declarada a guerra, a Grã-Bretanha não aceitaria a paz, a menos que a ameaça de uma marinha alemã poderosa fosse permanentemente extirpada. Havia Constantinopla: depois de deflagrada a guerra, o governo russo não aceitaria a paz antes de [...] satisfazer a ambição que há séculos tinha por Constantinopla. Havia o cerco à Alemanha: iniciada a guerra, o país só acataria [...] a paz se o cerco fosse rompido, o que implicava o esmagamento da França e da Rússia [...]. Mas [...] havia um problema inegociável e incontrolável, suscitado por ameaças à integridade do Império Austro-Húngaro. A composição da monarquia dos Habsburgos a deixava em posição mortalmente vulnerável às atividades dos sérvios; ao mesmo tempo, dificultava a eliminação dessas atividades por meio de ação rápida e resoluta [...]. Foi esse problema o causador daquela que veio a ser a Primeira Guerra Mundial.
Fritz Fischer (1908-99) notabilizou-se como o primeiro acadêmico alemão importante a atribuir à Alemanha a culpa pela eclosão da guerra, e também como estudioso socialista defensor da primazia das considerações internas nas decisões de política externa, particularmente as da Alemanha pré-guerra: O objetivo [alemão] era consolidar a posição das classes dominantes com uma bem-sucedida política externa imperialista; na verdade, esperava-se que uma guerra resolvesse as crescentes tensões sociais. Ao envolver as massas no grande conflito, as partes da nação que até então se mantinham apartadas seriam integradas ao Estado monárquico. Em 1912, em todo caso, a crise interna era evidente [...]. O dinamismo com que, aliada a componentes internos, a liderança imperial tinha iniciado em 1897 uma “política mundial” vigorou sem interrupção até 1914, já que a esperança de então era de uma “Grande Alemanha” e a preservação do sistema conservador. As ilusões criadas em 1897 levaram às ilusões de 1914
Perspectivas: as origens da guerra
Tão logo os canhões silenciaram em novembro de 1918, teve início a batalha a respeito das origens da Primeira Guerra Mundial. Governos ávidos por defender as decisões que tinham tomado no verão de 1914 publicaram compilações de documentos oficiais, editados de modo a apresentar suas ações sob a luz mais favorável possível, ao passo que historiadores de todos os países lançaram-se à tarefa de explicar as causas do conflito. A decisão dos vitoriosos de incluir no Tratado de Versalhes uma “cláusula de culpa” refletia a convicção, unânime em 1919, de que a Alemanha tinha sido responsável pela guerra. Esse veredicto foi rejeitado por praticamente todos os acadêmicos alemães e, durante a década de 1920, por um amplo espectro de historiadores revisionistas que eximiram a Alemanha e culparam o sistema de alianças e as outras grandes potências, consideradas em conjunto ou individualmente. Se o “antirrevisionismo” da década de 1950 voltou a imputar aos alemães a maior parcela de responsabilidade, os estudiosos das décadas seguintes exploraram mais a fundo o papel de cada um dos beligerantes, suas políticas internas, alinhamentos diplomáticos e objetivos de guerra em 1914. Fatores gerais como nacionalismo e outras ideologias, a crença que os militares depositavam na guerra de ofensiva e as corridas armamentistas pré-guerra, também foram alvo de escrutínio mais detalhado.
A crise que resultou na eclosão da Primeira Guerra Mundial ocorreu no âmbito de um sistema de relações internacionais cujas raízes remontavam à Paz de Westfália (1648), ao final da Guerra dos Trinta Anos. O grupo de quatro a seis países mais poderosos da Europa afirmava ou rompia alianças em busca de seus próprios interesses, no âmbito de um equilíbrio geral de poder, mas, em períodos de paz, esses países raramente se dividiam em campos armados hostis entre si. Isso mudou na década anterior à deflagração da Primeira Guerra Mundial, quando Grã-Bretanha, França e Rússia formaram a Tríplice Entente, como resposta à Tríplice Aliança firmada entre Alemanha, Império Austro-Húngaro (ou Áustria-Hungria) e Itália. A Tríplice Aliança, acordo militar estabelecido em 1882, figurava em 1914 como a mais longeva aliança multilateral em tempos de paz na história da Europa, perdurando apesar da vigorosa e recíproca animosidade entre Áustria-Hungria e Itália, porque ambas consideravam indispensável a amizade com a Alemanha – no caso da primeira, contra a Rússia; para a última, contra a França. A Tríplice Entente, em contraste, tinha sido formada por três acordos separados – a convenção militar e Aliança Franco-Russa (1892-94), a Entente Cordiale Anglo-Francesa (1904) e a Entente Anglo-Russa (1907) – todas motivadas pelo temor em relação ao crescente poderio alemão.
A tríplice aliança: Alemanha, império austro-húngaro e Itália
A Alemanha alcançou a unificação política sob os auspícios da Prússia graças à liderança de Otto von Bismarck, cujas vitoriosas guerras contra Dinamarca (1864), Áustria (1866) e França (1870-71) levaram à criação do Segundo Reich, tendo como imperador o rei prussiano Guilherme I. Se por um lado anexou territórios da Dinamarca (Schleswig-Holstein) e da França (Alsácia-Lorena), Bismarck fez da Áustria (a partir de 1867, Áustria-Hungria) o aliado mais próximo da Alemanha e o alicerce de um sistema de alianças pós-1871 cujo propósito era manter a França isolada.
A constituição da Alemanha Imperial dava sustentação a um chanceler forte, que prestava contas ao imperador, e não a uma maioria legislativa.
Bismarck criou o cargo para si mesmo e nele se manteve de 1871 a 1890; ao longo dos 28 anos seguintes, a função foi exercida por sete homens menos competentes, dos quais os mais notáveis foram Bernhard von Bülow (1900-9), que antes de se tornar chanceler atuou como ministro do Exterior e Theobald von Bethmann Hollweg (1909-17). O Reichstag avaliava projetos de lei apresentados pelo chanceler por meio da Bundesrat, câmara superior composta por representantes nomeados pelos governos dos estados germânicos, mas não podia legislar. Equilibrando esses aspectos autoritários, a Constituição de 1871 fez da Alemanha a segunda potência europeia depois da França a realizar eleições com base no sufrágio universal masculino. Uma vibrante cultura política incluía seis grandes partidos, dos quais o Partido Social Democrata (SPD, na sigla em inglês) e o Partido Católico de Centro, precursor da União Democrata Cristã (CDU, na sigla em inglês) pós-Segunda Guerra Mundial, teriam importância duradoura. Entre 1890 e 1913, a população alemã aumentou de 49 milhões para 67 milhões de habitantes e as áreas urbanas duplicaram de tamanho. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita ficava atrás apenas de Estados Unidos, Grã-Bretanha e domínios britânicos e a produção industrial do país ultrapassava a da Grã-Bretanha. Do ponto de vista político, essas mudanças fortaleceram o SPD, partido da predileção da maior parte da crescente classe operária do país, que ganhou força ainda que a constituição de Bismarck não tenha promovido uma nova divisão distrital para dar conta das mudanças na população. Na eleição de 1912, o SPD obteve 35% do voto popular – duas vezes mais que qualquer outro partido – e assegurou 27% das cadeiras do Reichstag. A ascensão do SPD preocupava o imperador Guilherme II e os líderes conservadores, porque o partido apoiava reformas que fariam da Alemanha uma verdadeira monarquia constitucional e também se opunha à agressiva política externa do país, votando sistematicamente contra o investimento de recursos no exército mais poderoso e na segunda maior frota naval da Europa. A esquadra mais prejudicou do que beneficiou os interesses estratégicos da Alemanha, impelindo a Grã-Bretanha a se bandear para o lado de seus tradicionais rivais, França e Rússia, além de consumir mais de um terço do orçamento destinado à defesa nacional. Somente em 1913, o Reichstag reverteu essa tendência, aprovando um aumento de 18% do contingente em períodos de paz do exército alemão, que agora passava a contar com 890 mil homens.
Depois que a derrota para a Prússia em 1866 deu fim a seu papel tradicional nas questões alemãs, o Império Austríaco transformou-se na Monarquia Dual da Áustria-Hungria. Daí por diante, Francisco José (imperador desde 1848) comandou um Estado de estrutura singular, com política externa comum e exército e marinha únicos, mas com dois primeiros-ministros e gabinetes separados, com parlamentos em Viena e Budapeste. Áustria e Hungria mantinham suas próprias leis, cidadania e militares da reserva independentes, e renegociavam suas relações econômicas a cada dez anos. Esse “compromisso de 1867” tinha como intuito fomentar a paz interna no multinacional domínio habsburgo, ao elevar os húngaros étnicos (magiares) a um status de igualdade com os austríacos alemães tradicionalmente dominantes; porém, uma vez que estes últimos compunham apenas 25% dos súditos de Francisco José e os magiares respondiam por 20% da população, a medida mais excluía do que incluía. Para a Áustria-Hungria, mais do que para qualquer outra potência europeia, política interna e política externa eram inextricavelmente indissociáveis. O PIB per capita da Monarquia Dual ficava atrás de todas as potências europeias a não ser a Rússia, e metade de suas transações econômicas era realizada com a Alemanha, o que deixava a Áustria-Hungria na desconfortável posição de aliado dependente. Mas ambas as nacionalidades dominantes apoiavam os laços estreitos com o Segundo Reich (o que os austríacos alemães viam como algo quase tão bom quanto fazer parte da Alemanha; já para os magiares era a melhor garantia contra uma invasão russa a partir do leste). O movimento paneslavista, apoiado pela Rússia, desfrutava de grande simpatia junto à intelligentsia das nacionalidades eslavas que compunham quase metade da população total de 52 milhões de habitantes (em 1913), e a presença de milhões de italianos, romenos e sérvios no Império afetava suas relações com esses países vizinhos. Cada uma das metades do Império encarava à sua própria maneira o problema da nacionalidade, mas nem uma nem outra era capaz de oferecer muita esperança para o futuro. A Áustria dava a todas as suas nacionalidades acesso ao Parlamento via sufrágio universal masculino, instaurado em 1907, mas acabou tendo 22 partidos no Reichsrat de 1911, o que impossibilitava os primeiros-ministros de formarem uma maioria para governar. Em contraste, a política húngara de restrição ao voto mantinha o poder nas mãos dos magiares e, exceto por um número fixo de assentos reservados aos croatas, o restante da população não contava com representação política. Francisco Ferdinando, sobrinho e herdeiro do já idoso Francisco José, esperava reduzir a dependência da Áustria-Hungria em relação à Alemanha e reorganizar o Império para dar poderes aos eslavos do sul como terceira força política.
Essas ideias granjearam-lhe a inimizade de muitos austríacos alemães, de quase todos os magiares e daqueles eslavos (especialmente os sérvios) que temiam uma revitalização do Império. O exército austro-húngaro não tinha muita popularidade junto ao público e nem entre os políticos, e, como resultado, a Monarquia Dual tinha o menor exército per capita entre as potências europeias – um contingente em tempos de paz de apenas 400 mil homens. Por outro lado, uma marinha de guerra pequena, mas respeitável – uma das instituições verdadeiramente integradas do Império – desfrutava de melhor reputação e, por volta de 1912, recebia mais de 20% do total do orçamento destinado à defesa.
A Itália alcançou a unidade nacional na mesma década que a Alemanha; o reino da Sardenha-Piemonte desempenhou o mesmo papel da Prússia e o monarca sardo-piemontês Vítor Emanuel II tornou-se rei. As semelhanças acabam aí. O correspondente italiano de Bismarck, Camilo Benso di Cavour, contou com a França na guerra de 1859 para expulsar a Áustria de boa parte dos territórios do norte da Itália e com os revolucionários de Giuseppe Garibaldi para assegurar, no sul, o controle de Nápoles e da Sicília. Quando Cavour morreu, pouco depois da proclamação da Unificação em 1861, Veneza ainda estava em mãos austríacas e o papa ainda reinava em Roma. Seus sucessores adquiriram Veneza aliando-se à Prússia contra a Áustria em 1866 – a despeito da derrota para a Áustria em terra e mar – e anexaram Roma após a derrota do protetor do papa, Napoleão III, para a Prússia, em 1870. Depois disso, os italianos ficaram pouco à vontade com relação a sua nada gloriosa unificação. Até sua morte, em 1882, o republicano Garibaldi foi o mais idolatrado dos heróis do país, mas, felizmente para a monarquia, participou apenas por um breve período do cenário político italiano, em meados da década de 1870, apesar de ter sido eleito para o Parlamento por eleitores de diversos distritos. O Partido Liberal, centrista, dominou o Parlamento de 1870 a 1914; a maior parte dos republicanos, caso de Garibaldi, aceitou com relutância a monarquia constitucional italiana ao estilo britânico, ao passo que muitos católicos conservadores deram ouvidos ao apelo do papa Pio IX para protestar contra a anexação de Roma, boicotando totalmente a política italiana. A questão do status do papa vis-à-vis o Estado italiano – impasse que durou até que o Tratado de Latrão de Mussolini estabelecesse a Cidade do Vaticano – também afetava o reino em termos internacionais. Visitantes oficiais de países com população católica numerosa, incluindo aliados da própria Itália, Alemanha e Áustria-Hungria, tinham de ser hospedados em outras cidades que não Roma. Políticos italianos ambiciosos, que viam a França como o principal rival de seu país, defenderam a Tríplice Aliança e, depois de 1882, formularam políticas navais e coloniais que dependiam do apoio diplomático alemão, aceitando como parte da barganha a aliança com os austríacos e que a Áustria mantivesse a posse de territórios italianos étnicos nos Alpes (o Tirol do Sul ou Trentino) e no mar Adriático. O norte industrializado da Itália impulsionou o PIB per capita a um nível significativamente mais alto do que o da Áustria-Hungria, mas o país era o menos populoso entre as grandes potências (35 milhões de habitantes em 1913) e o de menor poderio bélico. Na verdade, com apenas 250 mil homens, o contingente italiano era o menor entre as grandes potências da Europa à exceção da Grã-Bretanha, e todas as outras, a não ser a Áustria-Hungria, tinham marinhas de guerra mais fortes. A Itália perdeu a fé na Tríplice Aliança depois de 1900, quando a deterioração das relações anglogermânicas fez pairar o espectro da guerra com o Império Britânico, mas, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Guerra Ítalo-Turca (1911- 1912) prejudicou as relações da Itália com os três membros da Tríplice Entente e resultou na renovação da Tríplice Aliança em 1912.
A Tríplice entente: Grã-bretanha, França e Rússia
Sob a Pax Britannica da Era Vitoriana, a Grã-Bretanha atuara como potência hegemônica global, afirmando a posse de um quarto da superfície terrestre do planeta, preponderando nos oceanos com a maior frota naval do mundo e dominando a economia com um setor industrial cuja produção superou, durante anos, a de todos os outros países combinados. Confiante em seu “isolamento esplêndido”, a Grã-Bretanha também exercia em larga medida o que os especialistas em relações internacionais chamam de soft power, ou “poder suave”, não apenas por conta de seu sistema parlamentar muito admirado e seus conceitos de direitos individuais, mas também graças a uma tremenda influência sobre a cultura mundial, tanto no nível de elite como em suas formas mais populares. Essas conquistas, tomadas em conjunto, suscitaram uma reação internacional que incluía uma complexa mistura de admiração, inveja e, em alguns casos, franca e total hostilidade. No plano internacional, a Guerra Anglo-Bôer (1899-1902) salientou o isolamento da Grã-Bretanha, para desconforto dos líderes britânicos, que, depois disso, rapidamente se mobilizaram para estabelecer uma aliança com o Japão (1902), a Entente Cordiale com a França e a reaproximação com a Rússia (1907) – estes dois últimos acordos lançaram as bases para a Tríplice Entente. O PIB per capita da Grã-Bretanha continuava sendo o maior da Europa, mas tinha ficado para trás na comparação com os Estados Unidos, e sua envelhecida base industrial tinha sido sobrepujada pela Alemanha em áreas fundamentais como a produção de aço. Contudo, inovações da Marinha Real como o navio de guerra HMS Dreadnought (couraçado) (1906) e modelos de cruzadores de batalha permitiram que a Grã-Bretanha enfrentasse com êxito a ameaça naval alemã. O governo liberal de Herbert Asquith (primeiro-ministro de 1908 a 1916) financiou a expansão naval e um ambicioso programa de bem-estar social. Em 1909, o então chanceler do Tesouro (cargo equivalente ao de ministro das Finanças) David Lloyd George introduziu o “Orçamento do Povo”, que propunha uma inédita cobrança de impostos dos ricos. A medida não foi aprovada pela Câmara dos Lordes, majoritariamente conservadora, e os liberais revidaram com a Lei Parlamentar de 1911, eliminando o poder de veto dos lordes. A partir daí, todo e qualquer projeto de lei que fosse aprovado pela Câmara dos Comuns em três sessões consecutivas tornava-se lei, o que abriu caminho para a resolução da velha questão do Home Rule (governo autônomo) da Irlanda (onde viviam quase 5 milhões do total de 46 milhões de habitantes da Grã-Bretanha pré-guerra), que os liberais havia muito defendiam e ao qual os conservadores se opunham. O Partido Trabalhista, terceira força emergente na política britânica, apoiou os liberais nas questões da reforma e da Irlanda, mas nenhum dos três partidos teve a coragem de encampar o sufrágio feminino, cujos proponentes passaram, depois de 1910, a adotar táticas cada vez mais violentas. Às vésperas da guerra, o governo autônomo foi finalmente aprovado em forma de lei e entrou em vigor em setembro de 1914. Mas com a eclosão da guerra, os trâmites foram suspensos por Asquith enquanto durasse o conflito, medida que enfureceu a maioria católica da Irlanda e fortaleceu os revolucionários dentro dela. A fim de vencer a corrida naval com a Alemanha, entre 1907 e 1913 a Grã-Bretanha aumentou em 57% os gastos com a marinha de guerra; no mesmo período, os gastos com o exército de 200 mil voluntários subiram apenas 6%. O relativo declínio da Grã-Bretanha na Europa aumentou a importância estratégica de seu império.
Em 1914, a França era provavelmente a mais vulnerável das grandes potências – exceção feita à Áustria-Hungria –, mas sua parceria cada vez mais intensa com a Grã-Bretanha sob a Entente Cordiale, a rápida recuperação da Rússia após a derrota na Guerra Russo-Japonesa e a reaproximação anglo-russa de 1907 tinham melhorado em muito sua situação estratégica. O isolamento que a França enfrentara durante a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) e a oficialização da Convenção Militar Franco-Russa (1892) eram coisa do passado. A Terceira República, estabelecida após a derrota de Napoleão III em Sedan, em 1870, contava com uma legislatura forte e um presidente fraco e eleito por via indireta, sacrificando a estabilidade para se poupar do destino das duas repúblicas francesas anteriores (que deram lugar às monarquias napoleônicas em 1804 e 1852). Entre 1871 e 1914, o cargo de primeiro-ministro mudou de mãos 49 vezes. Na política externa, a Terceira República foi revolucionária, pelo menos no sentido revisionista, no que tangia ao seu posicionamento acerca da Alsácia-Lorena. Nenhum político francês que admitisse publicamente aceitar a anexação das províncias por Bismarck tinha chance de ser eleito. O conservador exército francês estava profundamente abalado pelo Caso Dreyfus (1894-1906), em que o capitão Alfred Dreyfus, o único oficial judeu do exército, foi acusado de repassar segredos aos alemães. O caso revelou um profundo abismo político e social entre católicos conservadores e secularistas liberais; estes, triunfantes após a exoneração e prisão de Dreyfus, jogaram no lixo a Concordata de Napoleão de 1801, obtendo assim a separação entre Igreja e Estado, e fizeram pressões exigindo um exército mais igualitário, com dois anos de serviço militar obrigatório. Essas medidas ajudaram a provocar uma reação conservadora nas eleições legislativas de 1910, e a crise franco-germânica em função do Marrocos, no ano seguinte, prenunciou um “renascimento nacionalista”. Voltou ao primeiro plano a questão da Alsácia-Lorena, personificada por Raymond Poincaré (presidente de 1913 a 1920), nascido na Lorena e para quem o destino das duas províncias perdidas era a base de um antigermanismo visceral. Entre as potências europeias, a França tinha o terceiro maior PIB per capita, pouca coisa atrás da Alemanha, mas, por conta de tendências demográficas, os franceses não estavam em posição de lutar sozinhos contra os alemães, em parte porque a França foi o primeiro país cuja população tinha praticado em ampla escala o controle de natalidade. No final do século XIX, a França tinha a menor taxa de natalidade da Europa e, em 1913, sua população estava na casa dos 40 milhões de habitantes, apenas dois milhões a mais do que em 1890. Um ano antes da eclosão da guerra, a França aumentou seu contingente de tempos de paz para 700 mil homens (a Alemanha tinha 890 mil), mas recorrendo a um período de serviço militar obrigatório de três anos (na Alemanha, eram dois) e aumentando os gastos com a defesa para 36% do orçamento nacional (na Alemanha, eram 20%). Os aliados da França não apoiariam uma tentativa de recuperar a Alsácia-Lorena por meio de uma guerra violenta, mas, em caso de conflito generalizado, nem a França nem seus aliados aceitariam a paz se as províncias continuassem em mãos alemãs.
A Rússia czarista e a França republicana, em termos ideológicos os mais improváveis dos parceiros, às vésperas da Primeira Guerra Mundial tinham a aliança mais firme e os laços mais estreitos. A Rússia entrou no século XX como a última monarquia absolutista do continente, bem como a mais atrasada economia europeia. O país estava se industrializando rapidamente, graças, em parte, a empréstimos da França, mas 40% de seu comércio exterior era realizado com a Alemanha, o maior importador dos grãos russos. Em termos de PIB per capita, a Rússia ficava atrás até mesmo – e por ampla margem – da Áustria-Hungria, e apenas 7% dos 175 milhões de súditos do czar Nicolau II viviam em áreas urbanas. Poucos camponeses tinham prosperado após a abolição da servidão em 1861, e o descontentamento do campesinato, somado ao desagrado da pequena e sobrecarregada classe operária do país, levou a uma revolução contra Nicolau em 1905, durante a guerra perdida contra o Japão. O czar salvou o trono aceitando uma monarquia constitucional limitada. O primeiro-ministro russo (como o chanceler alemão) só precisava responder por suas ações ao monarca; já o Parlamento, ou Duma, convocado pela primeira vez em 1906, foi eleito com tantas restrições de poder e limitações de autoridade que deixava sem representação a maioria dos camponeses e dos operários. Nicolau encontrou seu homem forte em Piotr Stolypin (primeiro-ministro de 1906 a 1911), cujo assassinato em 1911 deixou um vácuo jamais preenchido. Em 1907, a Rússia deu fim à sua longeva rivalidade com a Grã-Bretanha em um acordo que delineava suas respectivas esferas de interesse desde a Pérsia, passando pela Ásia Central até o Extremo Oriente. Na esteira da sua derrota para o Japão, a entente russa com a Grã-Bretanha deixava apenas os Bálcãs como rota para futura expansão. O pan-eslavismo russo despertou sentimentos nas nações eslavas emergentes dos Bálcãs – Sérvia, Montenegro e Bulgária –, que tinham em comum a religião Ortodoxa Oriental russa. A Rússia também tinha amigos na Romênia e na Grécia, nações ortodoxas, mas não eslavas, e toda a região a admirava por seu papel histórico como principal inimiga da Turquia otomana. Os pan-eslavistas russos também instigaram revolucionários entre as nacionalidades eslavas que viviam na Áustria-Hungria. A Monarquia Dual retaliou oferecendo refúgio e apoio aos revolucionários russos, incluindo Lenin, Trotski, Stalin e boa parte dos líderes bolcheviques de 1917, todos eles vivendo no Império Austro-Húngaro em 1914, bem como o socialista polonês Józef Pilsudski, que comandou uma legião polonesa ao lado das tropas austro-húngaras na fronteira com a Rússia pouco depois do início da guerra. O exército russo de 1,3 milhão de homens, o maior do mundo, tinha sido destroçado por motins durante a guerra com o Japão, e a maior parte das embarcações de guerra tinha sido afundada. Exército e marinha se recuperaram em pouco tempo, embora o país ainda não dispusesse da base industrial para mantê-los adequadamente. Em 1914, o grau em que Alemanha e Império Austro-Húngaro subestimavam a Rússia talvez tenha sido o maior trunfo estratégico russo.
O Império Otomano e as guerras nos Bálcãs
Desde que os turcos otomanos tomaram Constantinopla e derrubaram o Império Bizantino, em 1453, a região sudeste da Europa conhecida como Bálcãs (o termo faz referência à cordilheira dos Bálcãs no leste da Sérvia e Bulgária) passou a servir como ponte entre a Europa e o Oriente Médio muçulmano. Após seu apogeu de poder em 1683, quando os exércitos do sultão cercaram Viena, os turcos foram progressivamente perdendo força e território: para os austríacos nos Bálcãs ocidentais, para os russos no Cáucaso e em torno do mar Negro e, por fim, para movimentos nacionalistas ou autonomistas locais [às vezes apoiados por várias combinações de grandes potências) no sul e no leste dos Bálcãs e no norte da África. Não sem justificativa, os políticos do século xix apelidaram o Império Otomano de "o doente da Europa”.
Durante o século xix, o Império Otomano buscou se modernizar, mas, sem sua própria revolução industrial, dependia da Europa para obter armas, produtos manufaturados e o conhecimento técnico especializado para a construção de ferrovias e a exploração de suas matérias-primas. Os turcos (como fariam mais tarde chineses e japoneses) concederam humilhantes privilégios extraterritoriais aos especialistas estrangeiros que gerenciavam esses projetos; em 1882, depois que o sultão não conseguiu honrar seus empréstimos, a dívida do Estado otomano passou a ser gerida por europeus. Uma série de sultões usou seus poderes absolutos para reorganizar, nos moldes europeus, suas forças armadas, a burocracia, as escolas e o sistema jurídico. Essas medidas granjearam-lhes a inimizade de poderosos e nobres locais e regionais, líderes islâmicos e devotos muçulmanos em geral, e, em certo sentido, prenunciaram o árduo esforço de alguns governantes do século xx na tentativa de estabelecer Estados mais seculares. A secularização colocou particularmente em risco a lealdade da população muçulmana não turca do Império - de maioria árabe e sunita -, porque, durante séculos, os sultões turcos também tinham sido reconhecidos como califas (sucessores do profeta Maomé) pela maioria sunita dos muçulmanos do mundo. Ironicamente, os otomanos sucumbiram não aos adversários da reforma, mas a defensores frustrados de reformas mais amplas. 0 movimento dos Jovens Turcos, iniciado em 1889, buscou reduzir o sultão a uma figura decorativa e revitalizar o Império como um Estado nacional turco constitucional e secular. Infiltrando-se aos poucos entre os oficiais do exército otomano, os Jovens Turcos tomaram o poder em um golpe, em 1908. Governando como Partido Unionista (Comité de União e Progresso), implementaram um programa que incluía igualdade jurídica para todas as nacionalidades e liberdade de religião, mas também instituíram o turco como língua oficial. Essas medidas ameaçaram as populações árabe e arménia do Império, e especialmente os eslavos na parte dos Bálcãs ainda sob dominação turca.
Por ocasião do golpe dos Jovens Turcos, o mapa dos Bálcãs vinha de um período de estabilidade desde o Congresso de Berlim (1878), que deu reconhecimento formal à independência de Sérvia, Montenegro e Roménia; a Bulgária permanecera autónoma, mas ainda sob suserania otomana, e a Bósnia-Herzegovina ainda era tecnicamente otomana, mas ocupada pela Áustria-Hungria. Temendo uma mudança para pior sob o governo dos Jovens Turcos, em 1908 a Áustria-Hungria anexou a Bósnia-Herzegovina e a Bulgária declarou independência. Os turcos aceitaram essas perdas, mas buscaram manter seus territórios balcânicos remanescentes - Albânia, Macedonia e Trácia -, cobiçados em conjunto ou em parte por Bulgária, Sérvia, Montenegro e Grécia. Depois que os turcos se envolveram na Guerra Ítalo-Turca (1911-1912), esses quatro países formaram a Liga Balcânica e se mobilizaram para a guerra. Em outubro de 1912, quando os turcos fizeram as pazes com os italianos, abrindo mão da Líbia, a Liga declarou guerra ao Império Otomano, iniciando, assim, a primeira Guerra dos Bálcãs. Entre as grandes potências, a Rússia apoiou a Liga e a Áustria-Hungria, os otomanos, e as tensões entre os dois impérios ficaram sérias a ponto de cada um mobilizar parcialmente seus exércitos. Quando a guerra chegou ao fim, em maio de 1913, as grandes potências permitiram que a Sérvia ficasse com Kosovo e a Grécia, com Épiro, mas determinaram que o restante do território albanês fosse cedido para um novo país independente. A Grécia também recebeu Creta e dividiu com a Sérvia a Macedonia, limitando à Trácia os ganhos da Bulgária. Incitados por uma violenta indignação pública por conta do magro espólio, apenas um mês depois os búlgaros declararam guerra à Sérvia e à Grécia, na esperança de assegurar parte da Macedonia. Na breve segunda Guerra dos Bálcãs, os turcos retomaram as hostilidades contra os búlgaros, e Montenegro também interveio, mas a entrada da Roménia (que se mantivera neutra na primeira Guerra dos Bálcãs) se mostrou decisiva, o que levou a Bulgária a abandonar parte de suas conquistas anteriores na Trácia, de modo a se defender contra uma invasão romena desde o norte. No acordo que deu fim ao conflito em agosto de 1913, a Bulgária recuperou a Trácia ocidental e uma rota de saída para o mar Egeu, mas devolveu a Trácia oriental ao Império Otomano e cedeu Dobruja à Roménia. As Guerras dos Bálcãs deixaram a região mais volátil do que nunca. As perdas territoriais otomanas (tanto na Guerra Ítalo-Turca quanto nas Guerras dos Bálcãs) tinham reduzido a população do Império a apenas 21 milhões de habitantes, contra os 39 milhões em 1897, embora os turcos ainda governassem 6 milhões de não muçulmanos.
Em janeiro de 1913, enquanto a primeira Guerra dos Bálcãs perdia força, os Jovens Turcos eliminaram seus adversários remanescentes e estabeleceram um Estado de partido único. Entre os líderes desse segundo golpe estava Ismail Enver Beyefendi (Enver Bey), que se tornou ministro da Guerra aos 31 anos de idade. Seu papel subsequente na reconquista da Trácia oriental na segunda Guerra dos Bálcãs granjeou-lhe o título de paxá, e no início de 1914 ele assumiu o papel de chefe do Estado-Maior. Nessas funções, ele trabalhou em colaboração estreita com o general Otto Liman von Sanders, chefe de uma missão militar alemã instalada em Constantinopla em outubro de 1913. Uma vez que os turcos (pelo menos desde a Guerra da Crimeia) dependiam da proteção britânica e francesa contra a Rússia, o alinhamento dessas potências na Tríplice Entente empurrou o Império Otomano na direção da Alemanha. Nesse ínterim, uma missão naval britânica continuou a assessorar a frota turca, que tradicionalmente fiava-se na Grã-Bretanha para o fornecimento de navios de guerra e arsenal. Em 1914, a marinha de guerra otomana tinha três couraçados em construção em estaleiros britânicos, e o destino desses navios tinha enorme peso nos cálculos do governo unionista.
A Sérvia e os Estados balcânicos às vésperas da guerra
Ainda que, como consequência das Guerras dos Bálcãs, todos os países balcânicos tenham aumentado em termos de território e população, nenhum deles ficou satisfeito com o resultado. 0 Império Austro-Húngaro estava particularmente alarmado, pois a Sérvia dobrou de tamanho, aumentando sua população para 4,5 milhões de habitantes e seu exército - testado na batalha - para 260 mil homens, e ainda cobiçava a Bosnia- Herzegovina (onde os sérvios eram numerosos, em meio a uma população heterogénea) e uma saída para o mar. Desde que, em 1830, a Sérvia obtivera autonomia dentro do Império Otomano, o trono do país se alternava entre a dinastia Karageorgevic, pró-Rússia, e a dinastia Obrenovic, pró-Áustria-Hungria. Esta última retornou ao poder em 1858, e de maneira geral buscou uma política externa que, na visão dos sérvios nacionalistas, não era suficientemente ambiciosa. Por fim, em 1903, o capitão Dragutin Dimitrijevic e um grupo de jovens oficiais do exército assassinaram o rei Alexandre i e alçaram ao trono Pedro Karageorgevic. Aclamado pelo Parlamento sérvio como “o salvador da pátria", o volátil Dimitrijevic ascendeu à patente de coronel em 1914, ampliando sua influência no exército graças às suas funções como professor na academia de guerra sérvia e chefe do serviço de inteligência. Ao mesmo tempo, Dimitrijevic tinha papel ativo na semissecreta Defesa Nacional (Narodna Odbrana), organização fundada em 1908 para minar a Áustria-Hungria. Mais tarde, agindo sob o codinome revolucionário “Apis", dirigiu o grupo terrorista União ou Morte (Ujedinjenje ili Smrt), também conhecido como Mão Negra. Com a dinastia Karageorgevic de volta ao trono, as relações com a Rússia melhoraram bastante, mas os sérvios ficaram profundamente desapontados em 1908-1909, quando os russos não manifestaram apoio a eles depois que a Austria-Hungria proclamou a anexação da Bosnia- Herzegovina. A Sérvia mobilizou seu exército, levando a Austria-Hungria a ordenar uma mobilização parcial de suas tropas, mas quando a Alemanha declarou apoio à Áustria-Hungria, a Rússia recuou. Depois disso, a Sérvia prometeu dar um basta a seus esforços - e às iniciativas de seus cidadãos - de solapar a Áustria-Hungria. Mas não honrou seu compromisso. A bem da verdade, o governo em Belgrado nada fez para impedir a Mão Negra de recrutar e treinar sérvios bósnios para pôr em prática tentativas de assassinato de oficiais habsburgos nas terras eslavas do sul do Império Austro-Húngaro. Após um malogrado ataque ao comandante das tropas da Bosnia em 1910, a Mão Negra baleou e feriu um membro do governo croata em 1912 e o governador da Croácia em 1913.
Durante o mesmo período, o grupo terrorista lançou sobre a política interna da Sérvia uma enorme sombra. Nikola Pasic, cinco vezes primeiro- ministro e cujo Partido Radical governou o país após 1903, compartilhava com Dimitrijevic o ideal de uma Grande Sérvia, que incluía a Bósnia- Herzegovina e as adjacentes terras eslavas do sul, objetivo que só poderia ser alcançado pelo desmembramento da Áustria-Hungria. Pasic temia uma reação aos ataques terroristas, mas se sentia intimidado demais para tomar qualquer medida contra Dimitrijevic e seus comparsas dentro do exército. Na década anterior a 1914, o Partido Radical havia tomado a dianteira da democratização da política sérvia, ao mesmo tempo em que fomentava e explorava sentimentos nacionalistas. Fatidicamente, no verão daquele ano, a crise decorrente do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, por obra da Mão Negra, coincidiu com uma campanha eleitoral na Sérvia, gerando uma retórica nacionalista que inflamou a opinião pública em todo o país e intensificou o nível de indignação do outro lado da fronteira com a Áustria-Hungria.
Sérvia à parte, Montenegro figurava como o mais antiaustríaco dos países balcânicos. Os montenegrinos cobiçavam uma porção pequena, mas estrategicamente importante, do território da Monarquia Dual, a baía de Cattaro (Kotor), na ponta sul da Dalmácia, base fundamental para a marinha de guerra austro-húngara. Montenegro também se ressentia do papel da Áustria em dar fim à primeira Guerra dos Bálcãs, por meio da qual os montenegrinos se viram forçados a ceder parte de seus ganhos, conquistados a duras penas, ao novo Estado da Albânia. No caso da Bulgária, o ressentimento com o resultado da segunda Guerra dos Bálcãs sobrepujava qualquer sentimento de afinidade pan-eslava e ortodoxa oriental que outrora tinha nutrido por sérvios, montenegrinos e seus protetores russos. Quando da eclosão da guerra em 1914, o rei Fernando i da Bulgária, nascido em Viena na condição de príncipe germânico, estava pendendo para o lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. A Roménia, cujo rei Carlos i era primo de Guilherme n, tinha uma aliança com as Potências Centrais que remontava a 1883. Depois da segunda Guerra dos Bálcãs, a província húngara da Transilvânia era o único território predominantemente romeno que não estava sob controle dos romenos, mas o temor que a Roménia sentia em relação à Rússia era maior do que seu desejo pela Transilvânia, e assim o país manteve uma cautelosa
postura de alinhamento com a Alemanha e Áustria-Hungria. Do mesmo modo, os Hohenzollern tinham uma ligação com a Grécia, cujo rei Constantino i se casara com a irmã de Guilherme n. Depois que a Primeira Guerra Mundial teve início, Constantino se empenhou em manter a neutralidade da Grécia em face da simpatização crescente da população grega em relação à Entente (sentimento que se intensificou ainda mais quando o Império Otomano e a Bulgária se tornaram aliados da Alemanha e Áustria-Hungria). Quando da deflagração da guerra, nenhum país balcânico era mais vulnerável que a Albânia, criada em 1913 na esteira da primeira Guerra dos Bálcãs, porque nem a Áustria-Hungria nem a Itália queriam que a Sérvia adquirisse uma base sólida e uma posição segura no Adriático. No começo de 1914, as grandes potências alçaram ao posto de soberano da Albânia um obscuro rei germânico, Guilherme de Wied, mas seus súditos muçulmanos jamais o aceitaram. Ele reinou por apenas seis meses e abdicou pouco depois da eclosão da guerra, deixando para trás um país caótico, em meio a vizinhos ávidos por mergulhar no abismo na esperança de emergir com seus objetivos nacionalistas alcançados.
O dilema dos países menores da Europa
A divisão das grandes potências europeias entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente conferiu aos países menores e mais fracos do restante da Europa um papel relativamente mais importante. A Alemanha jamais perdeu a oportunidade de persuadir esses países a se associarem ao lado que julgava mais forte, o seu próprio - "seguindo o fluxo" ou “pegando carona”, no jargão dos especialistas em relações internacionais -, ao invés de "equilibrarem as forças” aliando-se aos rivais alemães ou permanecendo em cima do muro. Além do Império Otomano e dos países balcânicos, outros menores se sentiram pressionados por uma Alemanha que não conseguia entender por que razão esses países não enxergavam que era mais sábio se aliar - formal ou informalmente - ao Segundo Reich. Quando o rei belga Alberto visitou a Alemanha em novembro de 1913, o próprio Guilherme n deixou isso bem claro, e seu chefe do Estado-Maior, Helmuth von Moltke, o Jovem, foi ainda mais direto e abrupto ao declarar com todas as letras ao adido militar belga que “ofuror teutonicus vai devastar tudo" assim que tiver início uma guerra generalizada.1 Essa intimidação funcionaria muito bem no caso do Terceiro Reich, mas rendeu poucos dividendos para o Segundo. Ainda que os líderes alemães do
período demonstrassem a mesma arrogância dos líderes da Alemanha nazista um quarto de século mais tarde, a Alemanha Imperial ainda não tinha acumulado o mesmo nível de poder com relação a outros países proeminentes da Europa, o que dava aos países menores ou mais fracos de 1914 um leque de opções viáveis de que não disporiam no final da década de 1930. Além das grandes potências e excetuando os Bálcãs, todos os países europeus não alinhados de 1914 se manteriam neutros durante toda a guerra, com exceção de Bélgica e Portugal.
As grandes potências tinham declarado uma garantia mútua de neutralidade da Bélgica em 1839, quando reconheceram sua separação da Holanda e instalaram no poder a casa germânica Saxe-Coburgo-Gota para reger como monarcas constitucionais. O catolicismo romano era o único vínculo cultural de uma população [de 7,5 milhões em 1914) ferrenhamente dividida entre falantes de francês (os valões) e falantes de alemão (os flamengos). Oterritório do país, todo a oeste do Reno, tinha sido anexado pela França durante as Guerras Napoleônicas, e todos supunham que qualquer futura crise internacional envolvendo a Bélgica seria precipitada por uma invasão francesa. A Bélgica gozava de relações cordiais com a Alemanha, e até o final de junho de 1914 seus líderes ainda temiam mais a França. Nos anos imediatamente anteriores à guerra, a imprensa e a opinião pública belgas criticavam a Grã-Bretanha mais do que qualquer outra grande potência, tomando uma firme posição pró-Bôer durante a Guerra Anglo-Bôer e rejeitando as subsequentes críticas britânicas à má administração belga de suas vastas possessões coloniais no Congo. Entre os trunfos da Bélgica, incluía-se uma próspera economia industrializada, mais do que suficientemente forte para manter o exército de 340 mil homens que o país era capaz de mobilizar sob uma lei de serviço militar compulsório aprovada em 1913.
Em contraste com a Bélgica, Portugal dispunha apenas da proteção britânica graças à mais longeva aliança militar bilateral da história (remontando a 1373), e tinha uma vizinhança relativamente segura. O país fazia fronteira apenas com a Espanha, que vinha em declínio havia séculos e recentemente fora privada de suas colónias remanescentes na guerra contra os Estados Unidos em 1898. País de pobreza crónica, cuja população somava apenas cinco milhões de habitantes, a Espanha alijara do poder sua monarquia numa revolução em 1910 e no ano seguinte adotara uma constituição que tomou como modelo a Terceira República Francesa. A francofilia republicana portuguesa, combinada a um tradicional sentimento pró-britânico, predispunha Portugal a apoiar a Entente. Em 1914, os resquícios do Império Ultramarino português incluíam quatro colónias que seriam estrategicamente importantes na guerra mundial vindoura: os futuros Angola e Moçambique, ambos adjacentes às possessões coloniais na África, e as ilhas atlânticas de Madeira e Açores.
Estados Unidos e Japão
Durante as duas décadas anteriores ao início da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos e Japão juntaram-se ao grupo das grandes potências, antes limitado a países europeus. A estruturação de uma moderna marinha de guerra [a partir de 1883) abriu caminho para uma espetacular vitória na Guerra Hispano-Americana [1898), em que os norte-americanos adquiriram as Filipinas, Guam e Porto Rico. A ação militar estadunidense libertou Cuba do controle espanhol e, em 1903, a diplomacia dos canhões ajudou a libertar o Panamá da Colômbia; ambos tornaram-se dependentes dos Estados Unidos: os cubanos cederam uma base naval na baía de Guantanamo e os panamenhos deram aos norte- americanos o controle da Zona do Canal, onde foi construído o canal do Panamá [1903-1914). Os Estados Unidos também anexaram o Havaí em 1898. Do mesmo modo, o poderio naval japonês facilitou vitórias na Guerra Sino-Japonesa [1894-1895) e na Guerra Russo-Japonesa [1904-1905), cujo resultado foi a anexação de Taiwan, o sul de Sakhalin e esferas de influência na Coreia e na Manchúria, incluindo uma base naval em Port Arthur. A guerra contra os russos confirmou a ascensão do Japão como grande potência, bem como expôs as fraquezas da Rússia. OJapão anexou a Coreia em 1910, e quatro anos depois usou sua aliança britânica como pretexto para entrar na Primeira Guerra Mundial. Em 1905, os japoneses aceitaram que Theodore Roosevelt atuasse como mediador do Tratado de Portsmouth, que pôs ponto final à guerra com os russos, mas depois as relações entre Japão e Estados Unidos azedaram. Embora os dois países fossem aliados na Primeira Guerra, o resultado do conflito os colocou em rota de colisão no Pacífico.
A população dos Estados Unidos saltou de 5 milhões de habitantes em 1800 para 75 milhões em 1900, expansão estimulada por dezenas de milhões de imigrantes europeus. O sistema político descentralizado do país propiciava a seus cidadãos poucos benefícios, mas um grau de liberdade sem paralelos no mundo, pelo menos para os estadunidenses brancos de ascendência europeia. Com base na força de uma população que cresceu mais 30% (chegando a 97 milhões) nos primeiros 13 anos do novo século, em 1913 os Estados Unidos detinham o maior pib per capita do mundo, eram os líderes mundiais em produção agrícola, geravam um terço da produção industrial do mundo e fabricavam mais aço do que os outros quatro maiores produtores mundiais juntos. O crescente poder económico inspirou a autoconfiança, e depois que o Congresso reduziu as tarifas alfandegárias em 1913, o país tornou-se o maior paladino mundial do livre comércio. Quando a guerra foi deflagrada, a frota naval dos Estados Unidos só perdia em tonelagem para a Grã-Bretanha e a Alemanha; porém, seu exército em tempos de paz ainda era bastante pequeno; em 1914, até mesmo a Itália tinha o dobro de soldados. A política norte-americana contava com um estável sistema bipartidário. O Partido Republicano, fundado com base em princípios antiescravagistas, depois da Guerra Civil, se expandiu e tornou-se uma agremiação progressista e favorável às práticas comerciais, ao passo que o Partido Democrata continuou sendo mais forte nos estados predominantemente rurais, em especial no sul do país. De 1860 a 1908, os republicanos venceram todas as eleições presidenciais, exceto duas. Ambos os partidos incluíam isolacionistas, mas em geral os republicanos eram favoráveis a uma marinha de guerra mais forte e defendiam uma política externa mais agressiva, traços fundamentalmente personificados por Theodore Roosevelt (que exerceu a presidência de 1901 a 1909). Presidente do país durante a guerra, o democrata Woodrow Wilson (1913-1921) chegara à Casa Branca quase que por acaso. Sulista de nascimento, sua carreira como professor de Ciência Política levou-o à Universidade de Princeton, da qual acabou se tornando reitor. De lá, assegurou sua eleição como governador de Nova Jersey em 1910; apenas dois anos depois, obteve a maioria dos votos numa disputa contra o sucessor republicano de Roosevelt, William H. Taft, e o próprio Roosevelt, que ensaiava um retorno à esfera política com seu Partido Progressista, de vida efémera. Único acadêmico a chegar à presidência dos Estados Unidos, o moralista Wilson corporificou o que havia de melhor e pior nos ímpetos estadunidenses. Ele buscou fazer dos Estados Unidos um país melhor, e após 1917 tentou usar o poder norte- americano para criar um mundo melhor. Suas convicções, embora invariavelmente contraditórias, eram defendidas com ardor.
O Japão tinha a distinção de ser o único país não ocidental visado pelo imperialismo ocidental a sobreviver ao massacre, modernizar-se e emergir como grande potência por seus próprios méritos. Tradicionalmente, o sistema de governo predominante no Japão era o feudal, em que a figura do guerreiro samurai desfrutava de grande prestígio. Por tradição, o imperador, tido como um deus pela religião xintoísta, não tinha papel político; o governante de fato era o xogum, chefe militar hereditário a cuja autoridade se subordinava o samurai. O xogunato isolacionista Tokugawa (1603-1868), última dinastia do tipo, foi obrigado a abrir o Japão para o mundo exterior em 1853, quando os Estados Unidos enviaram uma esquadra sob o comando do comodoro Matthew Perry para a baía de Tóquio. Depois que as potências europeias seguiram o exemplo norte- americano, as humilhantes concessões arrancadas junto aos nipônicos jogaram no descrédito o xogunato e levaram uma facção de samurais reformistas a reconhecer que o Japão só conseguiria se salvar por meio da modernização. Em 1868, tomaram o poder sob o pretexto de “restaurar" a autoridade do imperador. O governo da Restauração Meiji aboliu o feudalismo, abriu empresas e escolas de estilo ocidental e fundou um exército e uma marinha de guerra modernos, criados respectivamente com base nos modelos alemão e britânico. Espelhada na constituição alemã de Bismarck, a constituição japonesa (1889) deu destaque a um primeiro-ministro de mão forte, que só devia responsabilidade ao imperador, mas um limitadíssimo sistema de cidadania dava direito de voto apenas aos japoneses abastados do sexo masculino. Os camponeses arcaram com o fardo da modernização, pagando altíssimos impostos que os condenavam a uma existência de pobreza. Por conta de sua população relativamente grande (51 milhões de habitantes em 1913), às vésperas da Primeira Guerra Mundial o Japão tinha um pib per capita um pouco menor que o da Rússia e um nível de industrialização similar, embora detivesse a quinta maior frota naval do mundo e contasse com quase duas vezes mais soldados que os Estados Unidos. A produção de aço correspondia a menos de 1% da norte-americana, mas na época da guerra contra a Rússia os japoneses estavam fabricando sua própria artilharia pesada para suplementar as importações junto ao grupo alemão Krupp. Todos os grandes navios de guerra empregados contra os russos foram construídos na Grã-Bretanha (aliada do Japão desde 1902); apenas mais tarde os estaleiros nipônicos começaram a construir seus próprios navios de guerra, e o primeiro couraçado foi lançado às águas em 1910. Em menos de 40 anos, o Japão se transformou de país feudal isolado em grande potência moderna, embora tivesse a menor base industrial entre as grandes potências. A fim de se manter entre as nações mais poderosas do mundo, o país teria de devotar uma porção bem maior de recursos às forças armadas, e conseguiu fazer isso graças à capacidade de seu governo autoritário de extrair o máximo de sua patriótica população, que, a despeito das condições em que vivia, continuava disposta a suportar o fardo em apoio aos objetivos da nação. Na verdade, manifestações contra a paz em Tóquio ao término da Guerra Russo-Japonesa indicavam que o povo não apenas apoiava uma ambiciosa política externa, mas preferia fazer sacrifícios ainda maiores a aceitar espólios de guerra menores que os previstos.
Domínios e colónias
Os denominados “domínios britânicos" de governo autónomo - Austrália, Canadá, Nova Zelândia e África do Sul - desempenhariam um papel singular e importante na Primeira Guerra Mundial, participando do conflito na condição de parceiros e não apenas de dependentes da metrópole. Considerados em conjunto, estavam entre os países mais prósperos do planeta, com um pib per capita coletivo que só perdia para Estados Unidos e Grã-Bretanha. Juntamente com as colónias do Império Britânico (com destaque para a índia) e as colónias francesas (em particular as da África), forneceram recursos significativos para o esforço de guerra da Entente.
Os domínios britânicos tinham seus próprios parlamentos e partidos políticos, gabinetes e primeiros-ministros, mas, até o Estatuto de Westminster (1931), seus governos dispunham apenas de poderes limitados para conduzir a política externa e não eram totalmente independentes para decidir se tomariam ou não parte em um conflito armado. Quando a Inglaterra entrava numa guerra, seus domínios também estavam em guerra, embora contassem com uma importante prerrogativa de que as colónias não dispunham: não eram formalmente obrigados a enviar tropas a terras estrangeiras para lutar pela metrópole. Assim, os governos dos domínios tinham voz ativa para decidir com quantos soldados contribuiriam, onde e quando. 0 domínio mais antigo, o Canadá - autónomo desde 1867 - tinha uma população de 7,8 milhões de habitantes em 1914, mas contava com apenas três mil soldados regulares em seu exército voluntário permanente, suplementado por uma numerosa e relativamente desorganizada milícia, em que homens de 18 a 60 anos estavam aptos a servir. Em caso de emergência imperial, a milícia canadense podia ser mobilizada e despachada para terras estrangeiras ao lado das tropas regulares e complementada via convocação se o número de voluntários se mostrasse insuficiente. Em 1913, cerca de 55 mil canadenses receberam treinamento de milícia. Quando a guerra eclodiu, o Canadá honraria seu compromisso enviando unidades regulares suplementadas por voluntários recrutados por meio de sua estrutura de milícia.
A Austrália, alçada à condição de domínio em 1901, implementou, dez anos depois, um sistema que exigia que meninos e jovens entre 12 e 25 anos se submetessem a um treinamento militar anual obrigatório - dos quais os rapazes entre 18 e 25 anos podiam ser mobilizados para combate em caso de guerra. O intuito do sistema era dar à Austrália (país que mal chegava a cinco milhões de habitantes em 1914) condições de arregimentar oito batalhões totalizando cerca de 250 mil homens, mas a força treinada ativa de 1914 incluía apenas os três primeiros grupos, todos formados por soldados menores de 21 anos - um “exército de meninos" que a Austrália optaria por não enviar para o estrangeiro. Em vez disso, criou-se um exército voluntário separado, a Força Imperial Australiana (aif, na sigla em inglês), para atuar na Europa, e a Força Expedicionária Naval e Militar Australiana, bem menor, para atuar no Pacífico contra as colónias alemãs. A Nova Zelândia, autónoma desde 1907, também havia instituído treinamento militar obrigatório para os homens, já desde a adolescência - de acordo com a Lei de Defesa de 1909, o treinamento era compulsório para todos os homens entre 14 e 21 anos. No verão de 1914, o país de 1,1 milhão de habitantes cumpriria suas obrigações para com a Grã-Bretanha despachando destacamentos de seu exército.
A União Sul-Africana, que recebeu o status de domínio em 1910, tinha uma população de seis milhões de habitantes; a minoria branca de 1,3 milhão desfrutava de superioridade formal e jurídica com relação aos quatro milhões de negros e 700 mil sul-africanos indianos e mestiços (“de cor"). O país tinha uma estrutura militar semelhante à do Canadá, com um pequeno exército regular, a Força de Defesa da União, suplementada por uma milícia a que estavam aptos a servir homens de 17 a 60 anos de idade. A milícia podia ser suprida por meio de recrutamento e, ao contrário do Canadá, incluía certo número de incorporados para compensar a impopularidade geral do serviço militar entre os africâneres, cujos independentes Estado Livre de Orange e República Sul-Africana (Transvaal) tinham sido integrados à força à África do Sul britânica, como resultado da recente Guerra Anglo-Bôer. Depois de deflagrada a guerra, a África do Sul só enviaria tropas para a Europa depois que suas forças tivessem conquistado a colónia vizinha do Sudoeste Africano Alemão.
Em termos de população, os 20 milhões de súditos britânicos dos quatro domínios nem de longe se comparavam aos 380 milhões das colónias britânicas, mais de dois terços dos quais viviam na índia. A mais numerosa tropa colonial, o exército indiano, contava com 150 mil homens arregimentados com base em recrutamento voluntário, por isso incluía números desproporcionais de povos do sul da Ásia com orgulhosas tradições marciais, caso dos gurkhas do Nepal e dos rajputs do Rajastão. Entre as províncias indianas que enviaram para o serviço militar mais soldados até do que precisavam incluía-se o Punjab (que cedeu um grande número de siques), ao passo que o sul da índia contribuiu com poucos homens e a populosa Bengala praticamente não enviou um homem sequer. Ao fim e ao cabo, durante a Primeira Guerra Mundial, a índia mobilizou 1,4 milhão de homens, dos quais 1 milhão serviram em terras estrangeiras, incluindo 580 mil combatentes. As colónias britânicas na África negra contribuíram com um número bem menor de soldados, integrantes da Real Força de Fronteira da África Ocidental ( rwaff , na sigla em inglês), arregimentada em Serra Leoa, Nigéria, Gâmbia e Costa do Ouro (Gana), ou dos Fuzileiros Africanos do Rei (kar , na sigla em inglês), formada por contingentes nativos de Quénia, Uganda e Niassalândia (atual Malauí). Durante a guerra, nenhum desses dois regimentos coloniais sairia do continente, mas ambos desempenharam papel importante na campanha Aliada contra as colónias alemãs na África.
O Império Colonial Francês tinha uma população de apenas 60 milhões de habitantes em 1914, e por isso só era potencialmente capaz de suprir menos de um quarto do número de homens que a índia britânica podia fornecer sozinha. O exército da África, arregimentado nas colónias do norte do continente (Argélia, Tunísia e Marrocos), incluía unidades separadas para soldados oriundos da vasta colónia francesa na Argélia e da população árabe e berbere, embora, em 1914, essa restrição tenha sido mais ou menos abolida, permitindo, por exemplo, que cavalarianos franceses se integrassem aos sipahis (regimentos de cavalaria) árabes, ou que alguns soldados da infantaria árabe lutassem ao lado dos zouaves franceses. Os habitantes das colónias francesas eram em sua maioria recrutas servindo sob as mesmas obrigações em vigor na França. Os árabes incluíam alguns combatentes escolhidos por recrutamento compulsório (introduzido na Argélia em 1913), mas a maior parte dos 33 mil argelinos muçulmanos que serviram em 1914 era de voluntários. O exército da África incluía também a Legião Estrangeira, composta apenas de voluntários e condenados militares cumprindo pena na Infantaria Leve Africana. As tropas arregimentadas no restante do Império Francês, juntamente com os soldados franceses servindo nessas colónias, eram chamadas de "tropas coloniais” [troupes coloniales). Como os soldados da África negra britânica, eram organizadas em unidades de fuzilaria, das quais as mais notáveis eram os Tirailleurs sénégalais [composta não apenas de soldados do Senegal, mas de toda a África Ocidental francesa e da África Central), os Tirailleurs malagaches [de Madagascar) e os Tirailleurs indochinois [da Indochina). Devido à crónica escassez de homens no exército francês, durante toda a guerra, suas unidades africanas tomaram parte dos combates em solo europeu.
Além das possessões britânicas e francesas, a maior colónia africana, o Congo Belga, também produziu sua maior tropa em tempos de paz. A Force Publique congolesa era um típico exército colonial no que tangia a seu tamanho modesto - apenas 17 mil homens em 1914, para uma colónia de 7 milhões de habitantes - e aos termos de serviço, como força profissional de voluntários de longa duração. Como as tropas da África negra britânica, essas forças tomariam parte na ação na Primeira Guerra Mundial lutando contra as colónias alemãs na África. Sem exceção, as forças coloniais da Ásia e da África eram comandadas por expatriados europeus ou oficiais designados a partir do exército regular da metrópole.
Tradicionalmente, os europeus tinham valorizado suas colónias ultramarinas por conta de seus recursos económicos, de início metais preciosos e produtos agrícolas a ser comercializados, e mais tarde uma lista cada vez maior de matérias-primas. Mas, na era industrial, a importância relativa das colónias entrou em declínio, o que se reflete no alargamento do abismo entre o pib per capita das potências coloniais e o de suas colónias. Nas economias desenvolvidas das metrópoles, a industrialização incrementou a tal ponto as taxas de produtividade que o pib per capita continuou em ascensão mesmo em uma época de crescimento da população; em contraste, na maior parte das possessões de ultramar [os domínios britânicos foram uma expressiva exceção) a produtividade não conseguiu melhorar suficientemente rápido para dar sustentação a um ritmo de crescimento similar no pib per capita, o que causou estagnação ou até mesmo queda. Em 1913, a Grã-Bretanha tinha um pib per capita mais de sete vezes acima do de seu vasto império pré- guerra [excetuando os domínios), ao passo que, no caso da França, o número era mais de cinco vezes superior ao de suas colónias. Uma vez que a produtividade das colónias estava mais abaixo do que nunca em comparação às metrópoles, em termos práticos, isso significava que sobrava pouco excedente a ser explorado depois que a demanda local era suprida. Ademais, em virtude da distância da metrópole, após o início da guerra ficou difícil transportar esse pequeno excedente até a Europa. 2 Assim, entre as possessões ultramarinas, as que tiveram o maior impacto na guerra foram os domínios britânicos - onde a produtividade sobrepujava a distância da Europa - e o norte francês da Africa - onde a proximidade com a Europa falava mais alto que a baixa produtividade.
Nacionalismo, darwinismo e culto à ofensiva
As grandes potências da Europa, as potências emergentes não europeias, os países periféricos, os domínios britânicos e as colónias tinham um denominador comum: seu comportamento anterior à guerra tinha sido moldado pelo nacionalismo que emergira um século antes na Revolução Francesa e nas Guerras Napoleônicas. Durante o século xix, o benigno nacionalismo cultural da era romântica tinha se transformado em um nacionalismo racial mais tarde aguçado e definido pelo darwinismo, depois da fatídica decisão de Charles Darwin de usar imagens e vocabulário bélico para articular conceitos naturais e biológicos em A origem das espécies [1859) eA descendência do homem (1871). Depois disso, conceitos básicos do darwinismo, tais como a sobrevivência do mais apto e a luta pela existência, propiciaram um alicerce “científico" para ideologias agressivas e, de forma geral, o nacionalismo racial “científico" deu esteio à unidade nacional na causa da grandeza nacional. Esse pensamento infectou os intelectuais europeus, de uma ponta a outra do espectro ideológico. 0 darwinismo não afetou a França tanto quanto as outras grandes potências, mas, mesmo lá, Émile Zola, herói da esquerda francesa, declarou em 1891 que a guerra é a própria vida! Na Natureza, nada existe que não tenha nascido, crescido ou se multiplicado por meio do combate. É necessário comer ou ser comido para que o mundo possa viver. Somente as nações guerreiras prosperaram; uma nação morre assim que se desarma.
Na verdade, o que alguns acadêmicos rotularam de “militarismo", e tentaram generalizar em termos sociais, económicos e políticos, originou-se nas décadas anteriores a 1914 como uma manifestação distinta do nacionalismo racial darwinista.
Nessa atmosfera, Bertha von Suttner (ver box “Uma voz no ermo") e outros pacifistas europeus encararam uma tarefa impossível. Até mesmo o prémio da paz outorgado anualmente a partir de 1901 em reconhecimento a seu trabalho surgiu graças à generosidade do inventor da dinamite, Alfred Nobel. No cenário político europeu, apenas os socialistas advogavam abertamente a paz e a cooperação e, no âmbito de cada país, seus partidos políticos tendiam ou a se isolar por conta de sua força eleitoral (caso do spd alemão) ou a ser ignorados por causa de sua fraqueza eleitoral (caso do Partido Trabalhista Britânico). A Segunda Internacional Socialista (fundada em 1889) refletia a profunda divisão do movimento entre moderados, que apoiavam os ideais de Marx, mas não seus métodos revolucionários, e radicais, que insistiam (de maneira problemática para a causa pacifista) em que a mudança genuína realmente capaz de beneficiar o proletariado deveria vir por meio da insurreição violenta. Apenas na Alemanha os socialistas eram fortes o bastante para preocupar os líderes governamentais, e mesmo ospd - depois de se opor sistematicamente aos gastos navais e militares ao longo dos anos pré-guerra - votaria a favor de créditos de guerra na atmosfera de crise do verão de 1914. Em meio à Crise de Julho, a Segunda Internacional viu seu sonho de uma greve geral mundial - a fim de impedir a mobilização dos exércitos - ser esmagado pela dura realidade de que, para a vasta maioria dos trabalhadores europeus, a identidade nacional era mais importante que a identidade de classe.
Não chega a surpreender que o pensamento militar pré-guerra refletisse o espírito nacionalista e darwinista da época, que se manifestou no culto à ofensiva que afetou todas as forças armadas na virada do século. Oculto à ofensiva tinha suas raízes no modo prussiano-germânico de fazer guerra, nascido nas reformas militares que a Prússia adotou depois de sofrer uma derrota acachapante nas mãos da França de Napoleão, em 1806. Cari von Clausewitz (1770-1831) serviu como profeta desse credo, seu livro póstumo Vom Kriege [Da guerra], de 1832, era a sagrada escritura, e o marechal de campo Helmuth von Moltke, o Velho (1800- 1891), foi o Messias. Após os triunfos de Moltke contra a Áustria (1866) e a França (1870-1871) nas Guerras da Unificação Alemã, a obra foi traduzida e estudada em toda a Europa, quase sempre com um prefácio darwinista. No prefácio que escreveu a uma reimpressão pré-guerra da tradução inglesa original de Vom Kriege (publicada em 1873 com o título On War), o coronel F. N. Maude declarou que “o que Darwin conquistou para a Biologia em termos gerais, Clausewitz fez para a História de vida das nações quase meio século antes dele, pois ambos provaram a existência da mesma lei em cada caso [...] a sobrevivência do mais apto". Moltke, como Napoleão, buscava destruir os exércitos inimigos em batalhas decisivas. Admiradores do exemplo prussiano-germânico também adotaram a ofensiva, tratando com desleixo [em algumas traduções, eliminando) a parte mais longa do livro, que versava sobre guerra defensiva. 0 general e escritor militar alemão Colmar von der Goltz, principal intérprete darwinista de Clausewitz, acelerou a tendência com seu bestseller internacionalDas Volk in Waffen [0 país em armas], de 1883. Paradoxalmente, os países mais fracos não tinham menos probabilidades que os fortes de adotar a guerra ofensiva, o que lhes dava esperanças de que sua vitalidade fosse posta à prova no campo de batalha. Assim, o culto à ofensiva teve especial relevância para as duas potências militares mais vulneráveis da Europa, a Áustria-Hungria e a França. Franz Conrad von Hõtzendorf, instrutor da Escola de Guerra em Viena (1888-1892) antes de se tornar chefe do Estado-Maior da Áustria-Hungria (1906-1917), e Ferdinand Foch, instrutor (1895-1901) e comandante (1907-1911) da Escola de Guerra em Paris antes de se tornar supremo comandante Aliado em 1918, defendiam estratégias ofensivas que se mostraram completamente inadequadas a situações enfrentadas por seus países na Primeira Guerra Mundial. Os resultados seriam fatais para a Áustria- Hungria e quase letais para a França.
O culto à ofensiva persistiu a despeito das evidências fornecidas pela Guerra Anglo-Bôer, a Guerra Russo-Japonesa e as Guerras dos Bálcãs, de que as tecnologias emergentes privilegiavam a guerra defensiva. A Guerra Anglo-Bôer foi a primeira em que ambas as partes beligerantes empregaram infantaria armada, principalmente com fuzis de repetição, e o poder de fogo da infantaria tinha sido claramente decisivo. A artilharia rápida e a pólvora sem fumaça, que tinham revolucionado o combate naval na década de 1880, também fizeram sua primeira aparição em campanhas em terra. Taticamente, a infantaria britânica fracassava a cada tentativa de investida da baioneta, mas obtinha mais êxito quando os soldados eram organizados em formações abertas e avançavam em pequenos grupos atuando sob cobertura. Futuros comandantes da Força Expedicionária Britânica (bef) na Primeira Guerra, sir John French e sir Douglas Haig, defenderam com sucesso a performance da cavalaria por eles liderada na África do Sul, ignorando o fato de que os cavalarianos britânicos tinham sido mais úteis quando combatiam desmontados, empunhando fuzis, como nos comandos bóeres.
A campanha na Manchúria durante a Guerra Russo-Japonesa apresentou um número inaudito de soldados, o maior emprego de trincheiras até então e o primeiro uso em larga escala de metralhadoras. A decisiva Batalha de Mukden (fevereiro a março de 1905) envolveu cerca de 250 mil homens de cada lado, em contínuas linhas de trincheiras que se estendiam por 145 km. Como na Guerra Anglo-Bôer, a infantaria teve maior êxito atuando em formações abertas e avançando em pequenos grupos sob cobertura, mas ambos os exércitos realizavam sucessivamente investidas corpo a corpo com as baionetas em campo aberto, ainda que a custos medonhos, invalidando (pelo menos na opinião de muitos observadores) as lições aprendidas na África do Sul no que dizia respeito à natureza decisiva do poder de fogo da infantaria dispersa. Os japoneses demonstraram que uma força de assalto com a disposição de ânimo das tropas para absorver perdas de 30% a 40% ainda podia levar a melhor, mesmo em um campo de batalha onde a tecnologia moderna - a primeira geração de metralhadoras - favorecia claramente o defensor. Em última análise, o resultado reforçou a visão convencional do culto à ofensiva: os japoneses tinham atacado e vencido, ao passo que os russos tinham ficado na defensiva e perderam.
Observadores das Guerras dos Bálcãs elogiaram os búlgaros por sua determinação em atacar posições entrincheiradas e seu uso da baioneta, em particular na Linha Çatalca, mais parecida com a frente ocidental da Primeira Guerra Mundial do que qualquer outra coisa na Manchúria durante a Guerra Russo-Japonesa. Última linha turca de defesa, apenas 32 km a oeste de Constantinopla, a Linha Çatalca consistia em uma frente contínua de trincheiras de 24 km de extensão, do mar Negro ao mar de Mármara, sem flancos, e que só dava aos oponentes a possibilidade de ataque frontal. Os que elogiaram a coragem dos búlgaros na Linha Çatalca e o espírito ofensivo de seu comandante, o general Radko Ruskov Dimitriev, o fizeram apesar das horríveis baixas - incluindo 90 mil mortos, feridos e doentes em apenas cinco dias de ataques em novembro de 1912 - e seu fracasso na tentativa de romper as linhas inimigas e chegar a Constantinopla. 0 exército búlgaro aprendeu com esse banho de sangue que as investidas da infantaria exigiam um robusto apoio de artilharia e introduziu um inovador fogo de barragem progressivo na tomada de Adrianopla, em março de 1913, mas poucos analistas estrangeiros perceberam a manobra. Os Aliados só introduziriam o fogo de barragem progressivo na frente ocidental depois de sofrer milhões de baixas em ataques de infantaria levados a cabo sem o adequado apoio de artilharia.
Uma vez que os observadores e participantes das guerras entre 1899 a 1913 estavam influenciados por suas perspectivas nacionais e pela mentalidade predominante na época, a maior parte das lições por eles aplicadas em 1914 teve claras implicações para a guerra ofensiva. Embora subestimassem a dimensão das baixas que uma futura guerra de grandes proporções acarretaria, ainda assim esperavam um grande número de mortes e tomaram medidas para limitar os danos por meio de melhorias nos equipamento e treinamento. A Guerra Anglo-Bôer selou o destino dos coloridos uniformes de campo do exército britânico e acelerou uma tendência que levou todas as grandes potências a adotarem a cor parda ou a camuflagem (exceto a França, que adotou o horizon bleu em julho de 1914) a tempo das campanhas de abertura da Primeira Guerra. A experiência britânica na África do Sul, onde as demandas de campanha rapidamente exauriram seu pequeno exército regular, também levou os ingleses a promover melhorias em suas formações de reserva (criando a Força Territorial em 1908 para substituir as tradicionais milícias a cavalo e grupos de voluntários). A maioria das outras grandes potências tomou medidas semelhantes para dar fim à lacuna entre a capacidade de combate de suas tropas regulares e suas forças de reserva. Se por um lado os exércitos geralmente subestimavam a importância da artilharia e das metralhadoras, por outro, nas corridas armamentistas pré-guerra a maior parte deles tentou assegurar uma superioridade qualitativa e quantitativa dessas armas.
Corrida armamentista, nacionalismo, alianças e o dilema da segurança
Os anos imediatamente anteriores à guerra testemunharam um aumento sem precedentes de gastos militares e navais; em 1913, as seis grandes potências europeias investiam em armamentos 50% a mais que em 1908. Especialistas em relações internacionais julgam as corridas armamentistas pré-guerra como o melhor exemplo histórico do “dilema da segurança" - o fenômeno em que as ações de um país para assegurar sua própria segurança causam insegurança em outros países, o que, por sua vez, provoca uma resposta que acaba alimentando uma espiral de gastos bélicos cada vez maiores e uma crescente atmosfera de desconfiança cujo resultado é aumentar a probabilidade de guerra. Após 1918, o papel da corrida armamentista nas origens da guerra recebeu considerável atenção, e os futuros apelos por parte de vários estadistas em nome de um regime de “segurança coletiva”, primeiramente no período entreguerras e, mais tarde, durante a Guerra Fria, almejavam evitar a repetição do desastre.
A corrida naval anglo-germânica serviu como peça central da competição armamentista pré-guerra. A tentativa alemã de rivalizar com a Grã-Bretanha no mar teve início em 1897, com a nomeação do almirante Alfred von Tirpitz como secretário de Estado no Gabinete da Marinha Imperial. Os objetivos da esquadra inicial de Tirpitz pareciam bastante modestos, incluindo 27 couraçados e 12 cruzadores grandes - já estavam em construção ou em serviço 20 couraçados e 12 cruzadores. O Reichstag aprovou o plano de Tirpitz em 1898, depois de ouvir um discurso em que o almirante usou uma agourenta linguagem darwinista para caracterizar a expansão da esquadra alemã como uma "questão de sobrevivência" da Alemanha.5 Dois anos depois, uma segunda lei naval ampliou os planos para 38 couraçados e 14 cruzadores grandes e, por fim, leis suplementares aumentaram o número de couraçados para 41 e o de cruzadores para 20. O plano de Tirpitz em pouco tempo fez com que a Alemanha saltasse do quinto lugar para a segunda posição entre as maiores potências navais da Europa. O debate sobre seus projetos de lei navais se concentrou nos novos navios de combate que eles exigiam, negligenciando as provisões para a substituição automática de couraçados após 25 anos e dos cruzadores após 20 anos. Felizmente para Tirpitz, os navios de batalha mais antigos em uso incluídos em seu plano de 1898 chegaram ao término previsto de seu tempo de serviço em 1906, bem no momento em que a Grã-Bretanha introduzia seus dois novos projetos revolucionários, o navio de guerra hms Dreadnought e o cruzador de batalha. Uma vez que esses novos modelos tornavam obsoletos todos os navios de guerra de maior porte existentes, os britânicos anularam sua própria e considerável vantagem em termos do número de navios de guerra pré-couraçados e cruzadores blindados, o que deu aos alemães a oportunidade de alcançar os rivais em força naval. Subsequentemente, Tirpitz construiu todos os novos navios de guerra alemães como couraçados e todos os cruzadores grandes como cruzadores de batalha. Em 1908, o Reichstag aprovou outra lei suplementar possibilitando que Tirpitz acelerasse a construção de couraçados e cruzadores de batalha ("navios capitais", como os dois tipos juntos vieram a ser conhecidos), e em pouco tempo a Alemanha já contava com 10 concluídos ou em construção, contra 12 da Grã-Bretanha. Nesse ritmo, Tirpitz conseguiria bem mais do que a proporção de inferioridade de 3 para 2 que, a seu ver, daria à esquadra alemã uma chance de derrotar os britânicos no mar do Norte, mas a aceleração da construção naval alemã chocou o Parlamento britânico a ponto de ele financiar oito navios capitais para 1909 e 1910, suplementados por outro par custeado por Austrália e Nova Zelândia. Os alemães reagiram a esses dez novos navios capitais britânicos com apenas três, e assim, ficaram para trás na corrida, por 22 a 13. Depois disso, a construção naval britânica continuou sobrepujando a dos alemães ano após ano, embora sem a tremenda vantagem do biénio 1909-10. No final de julho de 1914, a Grã-Bretanha contava com 29 navios capitais em serviço e 13 em construção, ao passo que a Alemanha tinha 18 em serviço e oito em construção. A vantagem britânica, ligeiramente melhor do que na proporção de 3 a 2, seria suficiente para manter a esquadra alemã ancorada no porto por boa parte da Primeira Guerra Mundial.
A competição pré-guerra no desenvolvimento das primeiras forças aéreas da Europa não chegou a configurar uma corrida armamentista, pois poucos anteviram a importância que os céus teriam em futuras guerras. Em 1908, cinco anos após seu bem-sucedido voo, os irmãos Wright levaram sua aeronave à Europa para uma série de demonstrações públicas. 0 exército francês incorporou aviões às manobras anuais de 1910, e no ano seguinte a marinha alemã começou a fazer testes com aeronaves, mas deu preferência a dirigíveis, sob a influência do conde Ferdinand von Zeppelin e outros pioneiros alemães em aeróstatos. A Itália pré-guerra também optou por dirigíveis, embora os italianos tenham sido os primeiros a pilotar aviões em missões de combate na guerra contra a Turquia em 1911-1912. Em 1912, a Grã-Bretanha estabeleceu a separação entre exército e marinha, e a Áustria-Hungria abriu uma estação de hidroaviões em Pula. Na França, na Itália e na Rússia, inicialmente o exército monopolizou o poder aéreo e as marinhas não controlavam nenhum tipo de aeronave. Em 1910-1911, a marinha dos Estados Unidos tornou-se a primeira a promover decolagens e aterrissagens de aviões a partir de navios de guerra (usando para tanto plataformas temporárias no convés) e a primeira a utilizar aeronaves para a localização de artilharia de longo alcance. No início de 1914, o almirantado britânico autorizou a construção de um seaplane tender, precursor dos porta-aviões, o Ark Royal, de 7.080 toneladas, construído sobre o casco de um navio mercante inacabado.
Para todas as potências europeias a não ser a Grã-Bretanha, os exércitos constituídos com base em serviço militar obrigatório continuaram sendo a pedra angular da defesa nacional. Nos anos anteriores à guerra, a maior parte das grandes potências reduziu o tempo de serviço militar para espelhar o modelo alemão de dois anos de serviço ativo (a França em 1905, Império Austro-Húngaro, em 1906, e a Itália, em 1910), ao mesmo tempo em que seguiam o exemplo britânico de aumentar o calibre de suas formações de reserva. Na Alemanha, a preocupação de que o exército tivesse sido negligenciado durante a corrida de desenvolvimento naval levou o Reichstag a aprovar, no verão de 1914, uma nova Lei do Exército, custeando uma força ativa de tempos de paz de 890 mil homens. A perspectiva desse aumento do número de alemães servindo na ativa por dois anos sem dispensa causou considerável alarme na França, que prontamente aumentou de dois para três anos seu tempo de serviço militar, medida que entrou em vigor de imediato, adicionando uma nova classe de recrutas, de modo a elevar para 700 mil homens o tamanho do contingente francês em tempos de paz. Assim como a corrida naval entre ingleses e alemães, essa competição franco-germânica para incrementar a capacidade dos dois exércitos serviu apenas para exacerbar as tensões e contribuiu para a sensação geral de que a guerra era inevitável.
Conclusão
Em âmbito internacional, os anos anteriores à guerra testemunharam a criação das condições em que a Guerra Mundial teve início e foi gradativamente aumentando de intensidade. A Guerra Anglo-Bôer salientou o isolamento da Grã-Bretanha, fez com que seus líderes se sentissem pouco à vontade para dar continuidade ao "isolamento esplêndido" da Pax Britannica e levou a parcerias com Japão, França e Rússia. A Guerra Russo-Japonesa confirmou a emergência do Japão como grande potência e expôs as fraquezas da Rússia; em 1914, um encorajado Japão usaria seus laços com os ingleses como pretexto para tomar parte da Primeira Guerra Mundial, ao passo que a Rússia demonstraria que se recuperara da derrocada de 1904-1905 muito mais rápido do que o esperado. Por fim, as hostilidades de 1912 e 1913 deixaram os Bálcãs mais voláteis do que nunca, na medida em que, embora tivessem saído do conflito com território ampliado e populações maiores, todos os países balcânicos ainda alimentavam ambições maiores, em especial as da Sérvia, que só poderiam ser consumadas às custas do desmembramento da Áustria-Hungria. Ideologicamente, o superaquecido nacionalismo do período, aguçado pelo darwinismo, estabeleceu o contexto no âmbito do qual, na maioria dos países, a opinião pública geral, bem como os líderes políticos e intelectuais, aceitaria, quando não acolhesse, com bons olhos a perspectiva de uma guerra generalizada. Militarmente, os combates na África do Sul, na Manchúria e nos Bálcãs propiciaram vislumbres dos horrores que estavam por vir, mas estrategistas e especialistas em tática se recusaram a abandonar sua crença nas campanhas ofensivas. Foram à guerra em 1914 sabendo que o conflito seria sangrento [embora subestimando o quanto) e na expectativa de que fosse breve. Talvez o aspecto mais importante de todos, as guerras entre 1899 e 1913 advertiram de que um esforço de guerra moderno bem-sucedido requereria o apoio sincero e incondicional da frente interna. Em particular, as manifestações contra a paz em Tóquio após o tratado que deu fim à Guerra Russo-Japonesa em 1905, ao lado da rejeição do povo búlgaro ao tratado que deu fim à primeira Guerra dos Bálcãs em 1913, serviram como lembretes de que, quando apoiavam com tanto ardor a guerra, as populações civis não aceitariam outro resultado que não a vitória total.

"Como homens, viajaram longe em busca de ouro", proclamava-se em uma lápide em memória de um grupo de suecos que morreu batalhando enquanto procurava fortuna em uma terra distante. Essa inquietude e essa ousadia caracterizaram os vikings, nome com o qual ficaram conhecidos todos os escandinavos, em sua terra e fora dela, que viveram na extraordinária época por volta do ano 800, tempos marcados pelas incursões, pelo comércio e pela colonização. A era foi iniciada com os devastadores ataques dos vikings nórdicos aos mosteiros e a outros lugares vulneráveis das costas da Inglaterra e do continente europeu. A partir de então, os vikings adquiriram uma duradoura reputação de larápios sangrentos, embora além de invasores fossem também colonos, exploradores ao mesmo tempo em que saqueadores, comerciantes tanto como conquistadores, criadores e destruidores.
Muito antes de se apoderarem do mundo pela força, os escandinavos eram comerciantes empreendedores. Em data tão remota como 1500 a.e.c., já praticavam o escambo de produtos com as tribos da Irlanda e da Inglaterra, cruzando o Mar do Norte. No início do século primeiro de nossa era. comerciavam com os romanos e no século V recebiam negociantes estrangeiros em seus mercados. Com o comércio começaram a conceber quanta riqueza possuíam outros povos, e isso alimentou suas fantasias de pilhagem e conquista.
Para realizar estes sonhos, os escandinavos tiveram de começar pelo domínio da arte da construção naval. Já havia tempo que fabricavam barcos sem velas com os quais atravessavam os fiordes de sua terra natal e até mesmo, quando fazia bom tempo, o mar. Por volta do século VIII, haviam conseguido desenvolver magníficos veleiros, os drakars, barcos rápidos, capazes de navegar ao longo das costas ou subir a remo os rios. Os drakars abriram o mundo aos vikings, e milhares deles aproveitaram a oportunidade levados pela fome de terras ou de pilhagens.
Em um dia de junho de 793, vikings noruegueses a bordo de drakars chegaram à Ilha de Lindisfarne, na costa leste da Inglaterra, e saquearam seu belo mosteiro, mataram muitos monges e tomaram como escravos os que não massacraram. O ataque causou pavor na Europa cristã e marcou o início da violenta era viking. A princípio, as incursões limitaram-se às zonas costeiras e eram realizadas por bandos de poucos homens que abandonavam o lugar assim que terminavam a pilhagem. Mas não transcorreu muito tempo antes que expedições de guerreiros bem organizados das emergentes nações da Dinamarca, da Suécia e da Noruega, capitaneadas por ambiciosos chefes tribais e reis, começassem a invadir terras estrangeiras, exigindo tributos e apoderando-se de territórios. Em 810, o rei dinamarquês Godofredo atacou a costa da Frísia, que naquela época fazia parte do Império Carolíngio. Animado pelo sucesso inicial, Godofredo falou em conquistar a Germânia, mas morreu antes que pudesse pôr em prática seu plano. Carlos Magno aproveitou-se disso para reforçar suas defesas diante de futuras ameaças vikings.
As ilhas britânicas, divididas em muitos reinos rivais, eram mais vulneráveis. Durante o século IX, os vikings noruegueses apoderaram-se de grandes partes da Irlanda e fundaram Dublin, entre outras povoações. Os dinamarqueses disputaram o controle da Irlanda com os noruegueses, enquanto faziam grandes avanços na Inglaterra e se apoderavam de quase todo o país, antes que o Rei Alfredo, o Grande, de Wessex, os expulsasse das terras do sul, confinando-os em uma área do nordeste que ficou conhecida como Danelaw. Um exército de dezenas de milhares de dinamarqueses dirigiu-se então a França e subindo o Sena chegou a Paris, que sitiou em 885. O exército invasor finalmente se retirou, mas os vikings tornaram-se fortes nas zonas costeiras a tal ponto que o rei francês teve de ceder ao chefe dinamarquês Rollo o território hoje chamado Normandia. Os suecos, enquanto isso, com suas incursões armadas pelo interior da Rússia, procurando capturar escravos e comerciar com comerciantes bizantinos e árabes em lugares como Bulgária e Kiev, que transformaram em praças fortes. Outros vikings alcançaram o Mediterrrâneo e as costas do Norte da África.
Parte do ímpeto para tão extraordinária expansão viking adveio dos problemas em suas terras natais da Escandinávia, onde ambiciosos soberanos como Haroldo, o Louro, da Noruega tomavam territórios pela violência, expulsando régulos, que não tinham outro remédio senão, exilar-se em terras estranhas com seus seguidores. A ascensão de Haroldo, o Louro, foi um dos fatores que empurraram milhares de escandinavos (noruegueses, na maioria) a cruzar o Atlântico Norte e estabelecer-se na Islândia entre 870 e 930. No entanto, os vikings não pararam por aí. Em 982, o islandês Erik, o Ruivo, aventurou-se na direção oeste e chegou a Groelândia, onde anos depois fundaria uma colônia. Leif Eriksson, seguindo a trilha de seu pai Erik, zarpou da Groenlândia rumo ao desconhecido e atingiu o litoral da América do Norte, assentando as bases de uma efêmera colônia viking denominada Vinland.
Enquanto isso, a colonização viking da Europa estava chegando ao seu auge. No século XI, o cristianismo começou a deslocar a tradicional religião nórdica da Escandinávia, graças aos alienados reis cristãos como Olaf Haraldsson (conhecido depois de sua morte como santo Olavo), que subiu ao trono em 1015 e dispôs-se a alienar o mundo inteiro a força. Apesar das campanhas militares que realizou para “cristianizar” o país, não conseguiu pacificar a região. Assim que consolidaram suas posições, os monarcas escandinavos começaram a lutar entre si e com os reis da Inglaterra e da Normandia. Um dos guerreiros vikings que teve mais sucesso foi Canuto, que chegou a dominar sua terra natal, a Dinamarca, Noruega e a Inglaterra. O trono inglês acabou retornando às dinastias locais, embora a Inglaterra continuasse sendo uma peça cobiçada entre os forasteiros desejosos de repetir a façanha de Canuto. Em 1066, ocorreu uma feroz batalha pelo controle da Inglaterra na qual tomaram parte os reis Haroldo Godwinsson da Inglaterra, Haroldo Hardradi da Noruega e William, duque da Normandia. Os ingleses derrotaram os noruegueses, mas, por sua vez, foram superados pelos normandos. Isto significou o final do expansionismo viking, já que os vitoriosos normandos há tempos haviam renunciado à sua identidade nórdica e consideravam a si mesmos franceses.
A Islândia e a Groenlândia continuaram sendo solitários bastiões avançados da cultura viking até o século XIII, época em que renunciaram à sua independência para tornar-se possessões da Noruega, no meio de um recrudescimento do clima e outras penúrias. Os islandeses, muito apegados às suas tradições nórdicas, registraram por escrito as sagas que contavam poeticamente sua história, oferecendo às gerações futuras um vasto panorama do mundo viking, um lugar no qual mulheres corajosas defendiam os interesses de seus lares empurrando, se fosse preciso, seus homens a ações violentas; onde porta-vozes do Althing e juizes de paz esforçavam-se energicamente para resolver os conflitos e manter a ordem; um mundo onde os renegados se reabilitavam cruzando os mares para apoderar-se de ricas terras novas nas quais instalar seus seguidores. Estas histórias, junto com os significativos trabalhos dos artesãos nórdicos que acompanhavam os vikings na tumba, proporcionam um rico e equilibrado retrato dos vikings, um povo cujo sucesso era devido tanto à sua habilidade para adaptar-se e à sua engenhosidade, como à sua notória ferocidade.

O lugar da mulher no Egito Antigo é essencial. Para convencer-se disso é suficiente estudar a documentação desse período: desde estatuetas de terra ocre do Neolítico até os relevos que exaltam a beleza de Nefertiti, ou o encanto matizado de helenismo de Cleópatra. Os traços físicos sublinham as origens afro-asiáticas da população; as representações, os objetos e as inscrições comprovam o interesse atribuído à beleza, aos penteados, às vestimentas, aos cuidados do corpo e do gosto pelos perfumes preciosos. A mulher tem um estatuto próximo ao do homem. Os textos jurídicos tratam do casamento, da gestão dos bens, sem esquecer o divórcio, o futuro do patrimônio dos filhos e as questões de herança. Mas, qualquer que seja sua posição social, a mulher é primeiramente uma dona de casa, que administra o cotidiano com seus imprevistos, vela pela manutenção corrente da casa, ocupa-se dos filhos, sem esquecer os pais idosos. Na alta sociedade, as esposas de funcionários administram a vida doméstica e, eventualmente, acolhem os hóspedes e preparam as festas. Como nas áreas rurais, a casa possui um bom número de criadas, cujos vínculos são bem diversos: da liberdade à completa servidão. Na arte egípcia, encontram-se numerosas representações de mulheres nos trabalhos de artesanato - tecelãs de linho, padeiras etc. - bem como nos trabalhos dos campos. São representadas também como carregadoras de oferendas em procissões. Por último, encontram-se muitas "carpideiras", cujas lamentações acompanham a dor das famílias durante os dias que dura o ritual fúnebre.

Tudo começou em 1913, em Viena, quando o herdeiro do trono, o arquiduque Francisco Ferdinando, resolveu que, no ano seguinte, iria inspecionar as tropas da guarnição na Bósnia-Herzegovina. Sua mulher, Sofia, o acompanharia. Quebrando a etiqueta imperial, ela, uma esposa morganática, seria autorizada a aparecer a seu lado, até mesmo no dia 28 de junho, data que lembrava a Francisco Ferdinando a humilhação sofrida, em 1900, às vésperas de seu casamento, quando teve de renunciar ao trono por seus filhos.

D. Pedro e D. Miguel são, em Portugal e no Brasil, o exemplo perfeito dos irmãos desavindos. Campeões de causas irreconciliáveis, os filhos de D.João VI combateram-se na guerra civil que ensanguentou Portugal de 1832 a 1834. Ainda hoje se mantêm as sequelas de tão funda divisão.

Implantada na costa do Golfo do México, a cultura olmeca produziu, entre 1500 e 400 a.e.c., mais de 300 monumentos de basalto e centenas de estatuetas de grande beleza. Apesar de seu pequeno número, as enormes cabeças monolíticas atestam o domínio dos escultores olmecas. O conjunto conta 22 peças monumentais, a maioria proveniente do sítio arqueológico de San Lorenzo, 3 delas de Tres Zapotes, ao sul de Veracruz, e 4 de La Venta, no Tabasco. Embora todas representem rostos masculinos, nariz achatado e lábios carnudos, cada uma tem seu estilo próprio. A expressão pode ser séria, calma ou feliz. Ignora-se se as estátuas representam guerreiros ou dirigentes, mas todos usam joias, plumas, motivos antropomórficos e zoomórficos que atestam elevada condição social. Muitas delas são marcadas por mutilações antigas, feitas talvez para fins rituais ou para desfigurar a imagem de um chefe difamado. Medem de 1,47 a 3,40 metros de altura e seu peso varia entre 6 e 50 toneladas. O local de extração dos blocos de pedra era provavelmente as montanhas de Tuxtlas ao sul do Estado de Veracruz. Levar esses blocos para cada local, o mais próximo dos quais é Tres Zapotes, situado em seus contrafortes, e o mais afastado, La Venta, a 100 quilômetros, necessitava de uma rede de comunicações complexa. Isso implicava uma organização social e política capaz de coordenar a maã-de-obra necessária para tal empresa, bem como o controle da navegação, porque as vias de transporte mais acessíveis eram os cursos de água. Junto a muitos parceiros comerciais, os olmecas obtinham as pedras finas que utilizavam como instrumentos (obsidiana), objetos cerimoniais, pequenas imagens e joias (jadeíta em particular). Por razões ainda ignoradas, a civilização olmeca desaparece por volta de 400 a.e.c., depois de haver transmitido à maioria das culturas mesoamericanas um substrato cultural comum.

Sabemos agora, graças à onomástica, que os Semitas estão estabelecidos na Babilônia e na Suméria desde as origens da história. De resto, um texto de Abu Salabih esta escrito em língua Acadiana. Há, pois, que considerar a sociedade mesopotâmica, no III milênio, como uma sociedade bilíngüe, mesmo admitindo que o elemento cultural sumério seja nela o mais forte. Através das fontes, textos oficiais, contratos de cessão de bens imobiliários, textos administrativos e econômicos, transparece a imagens de um sistema socioeconômico dominado pelo confronto entre duas concepções antinômicas das relações sociais de produção. Em resumo, assiste-se, ao longo do segundo terço do III milênio - e provavelmente já há muito tempo -, ao abandono progressivo de uma economia domestica de auto-subsistência, em que a circulação dos bens, encerrados num tecido de laços muito complexos e socialmente valorizados, seguia os esquemas da dádiva, da prestação e da redistribuição, e cujo grupo social de base era a comunidade domestica não igualitária, coletivamente gestionária da terra, geralmente dividido em classes de idades; em seu lugar, a Mesopotâmia opta por um sistema de economia complementar que considera os bens como mercadorias e em que a terra é objeto de uma apropriação individual. A hierarquia social reflete a desigualdade da repartição do acréscimo de produção, estando a sociedade dividida, para nós ficarmos por uma apreciação, muito geral, entre ricos e pobres.
A historia da Mesopotâmia é dominada, ao longo da época, pelas interferências entre estas duas concepções. Daí resultam tensões difusas e locais, por vezes breves incidentes de percurso. A sociedade já não esta em condições de impor as suas normas; as celebres "reformas" de Uru'inimgina são um testemunho precioso, embora muito obscuro, desse estado de coisas. O fato mais importante é de caráter irreversível e o progressivo desaparecimento dos grandes patrimônios, geridos coletivamente, e o açambarcamento da terra por indivíduos que se tornam seus proprietários. Ignoramos tudo acerca de um pequeno campesinato independente cuja existência não podemos avaliar e que está condenado, de fato, a uma agricultura de subsistência. Nesta época, a estrutura econômica dominante é a grande exploração agrícola, quer se trate do palácio real, do templo ou do domínio privado. É principalmente o arquivo do domínio da rainha, em Girsu, que nos esclarece quanto ao seu funcionamento e a sua organização.
Os bens fundiários estão repartidos em três lotes principais: domínio do "senhor", destinado às necessidades do culto, as terras de subsistência, destinadas ao sustento do pessoal, e as terras de lavoura, dadas em arrendamento. Para a manutenção das suas terras e o funcionamento das suas oficinas e armazéns, o mesmo domínio emprega cerca de 1200 pessoas que pertencem a todos os ofícios necessários ao bom andamento de uma célula econômica autônoma: agricultores, jardineiros, pastores, ferreiros, tecelões, operários da construção. A administração destes bens está confiada a um intendente, ficando a direção nas mãos, de um sanga.
Os rendimentos das explorações agrícolas e os dos arrendamentos constituem a principal fonte de riqueza do domínio. O comercio longínquo proporciona metais e pedras preciosas que se vão procurar até ao Egito ou nas regiões do Indo. Os gastos não são descuráveis: necessidades do culto, pagamento dos produtos importados, remuneração do pessoal que é feita em gêneros.
Só para a cidade de Lagash são conhecidos uns vinte templos. Todos eles prestam contas a uma instância central: o ê.gal. É impossível saber Se se trata do palácio do ensi ou do templo principal, já que ê.gal significa "grande casa" e tanto pode designar um como o outro.
O palácio, residência do rei, apresenta-se como um vasto complexo de mesmo tipo que o do templo, com a particularidade de o elemento militar desempenhar nele um papel essencial. Tal é, pelo menos, o caso em Shuruppak onde as tabuinhas fazem menção de listas de tropas e de reparação de carro. Os efetivos são, geralmente, pouco elevados, entre 500 e 700 homens; as inscrições reais tem uma forte propensão para aumentá-los exageradamente.
A vida de uma cidade está admiravelmente resumida em alguns traços, pelos dois painéis do celebre "estandarte de Ur", que figura respectivamente os trabalhos da guerra e da paz. O "estandarte", descoberto nos túmulos de Ur, é de fato um cofrezinho de madeira revestido com um mosaico de conchas. As cenas representadas estão dispostas em registros. Do lado da guerra, carros e homens de armas pisam os cadáveres de inimigos vencidos. Armados de lanças e de machados, os soldados usam capacete e capa cravejada. Prisioneiros nus e amarrados de pés e mãos são arrastados perante o rei que se mantém no meio do registro superior. Do lado da paz homens conduzem onagros ou levam fardos, outros tocam animais destinados ao sacrifício ou ao banquete que, acompanhado por uma orquestra, se desenrola no registro superior na presença do rei.

Pela mesma indistinção do público e do privado, quando se queria designar alguém caracterizava-se sua pessoa pelo lugar que ocupava no espaço cívico, pelos títulos e dignidades políticas ou municipais, caso as tivesse; isso fazia parte de sua identidade, como entre nós a patente junto ao nome de um oficial ou os títulos de nobreza. Ao introduzir um personagem, um historiador ou romancista especificava se era escravo, plebeu, liberto, cavaleiro, senador. Neste último caso podia ser pretoriano ou consular, segundo a dignidade mais elevada à qual fora designado na escala das honras fosse o consulado ou apenas o pretório. Tratando-se de um militar de vocação, que preferia o comando de um regimento numa província ou nas fronteiras e adiava a preocupação de investir-se em Roma de uma dessas dignidades anuais, recebia o título de "o jovem Fulano" (adulescens), mesmo que fosse quadragenário embaixo da couraça: ainda não havia ingressado na verdadeira carreira. Isso com relação à nobreza senatorial; quanto aos notáveis de cada cidade, Censorino assim caracteriza para uso dos leitores o protetor (amicus) ao qual tudo deve e dedica seu livro: "Cumpriste até o fim a carreira municipal, recebeste a honra de ser sacerdote dos imperadores entre os homens principais de tua cidade e te elevas além do nível provincial por tua dignidade de cavaleiro romano". Pois a vida municipal também tinha sua hierarquia. Quem não era plebeu e pertencia ao Conselho local (curia), como verdadeiro notável, era um curial; até mesmo um "homem principal", se tivesse desempenhado na ordem todas as funções anuais até as mais elevadas, que eram também as mais custosas.
Pois "levar vida política" — ou "exercer funções públicas" — não constituía uma atividade especializada: era a realização de um homem plenamente digno desse nome, de um membro da classe governante — que se considerava apenas humana —, de uma pessoa privada ideal; não ter acesso aos cargos públicos, à vida política da cidade, equivalia a ser mutilado, homem de baixa condição. Para que o leitor sorria com um paradoxo divertido, os poetas eróticos gabavam-se de desprezar a carreira política e só querer militar na carreira do amor (militia amoris); para a maioria dos filósofos, conselheiros com segundas intenções, a vida política (bios politikos) só podia ser sacrificada, sendo preciso sacrificá-la, à vida filosófica, na qual cada um se consagra por inteiro ao estudo da sabedoria. Na prática, os cargos públicos municipais e, com maior razão, os senatoriais eram acessíveis apenas às famílias ricas; porém esse privilégio também constituía um ideal e quase um dever. O conformismo estóico identificará a vida política à vida harmonizada com a Razão. Não adiantava nada um romano ser rico se não estava entre os "primeiros de nossa cidade", se não se projetara na cena pública — supondo que as outras famílias ricas lhe deixassem possibilidade de permanecer à margem e que a população da cidade não tivesse ido tirá-lo da solidão de suas terras para, com suave violência, impeli-lo para as funções municipais a fim de que lhe desse os caros prazeres públicos ligados ao exercício de cada uma dessas dignidades, que duravam um ano e conferiam uma posição vitalícia.
Pois cada uma dessas dignidades custava muito caro ao indivíduo assim honrado pela vida: a indistinção dos fundos públicos e dos patrimônios privados não funcionava em mão nua. E a curiosa instituição que se chama "evergetismo". Quem recebia a nomeação de pretor ou cônsul devia desembolsar alguns milhões para dar ao povo de Roma espetáculos públicos, representações teatrais, corridas de carros no circo, até dispendiosos combates de gladiadores na arena do Coliseu; depois o novo pretor ou cônsul ia ressarcir-se dos gastos no governo de uma província. Tal era o destino de uma família de nobreza senatorial, ou seja, uma família em 10 mil ou 20 mil. Mas é entre os notáveis municipais — ou uma família em vinte, talvez — que o evergetismo assume sua verdadeira dimensão, sem encontrar compensações para os sacrifícios financeiros que lhes impunha.
Evergetismo
Na menor cidade do Império, quer a população fale latim ou grego, quer fale mesmo celta ou siríaco, talvez a maioria dos edifícios públicos que os arqueólogos vasculham e os turistas visitam foi construída pelos notáveis locais com dinheiro do próprio bolso. Além disso, tais notáveis financiavam os espetáculos públicos que anualmente alegravam a cidade, desde que tivessem o suficiente, pois quem alcançava uma dignidade municipal devia pagar. Tal dignitário doava uma soma ao Tesouro da cidade, financiava os espetáculos do ano em que estava no cargo ou ainda empreendia a construção de um edifício. Caso estivesse em dificuldades financeiras, formulava por escrito a promessa pública de fazer isso um dia, pessoalmente ou por intermédio de seus herdeiros. E havia mais: independentemente de qualquer função pública, os notáveis ofereciam a seus concidadãos, de livre e espontânea vontade, edifícios, combates de gladiadores, banquetes ou festas; essa espécie de mecenato era ainda mais frequente que nos Estados Unidos de hoje, com a diferença de que seus objetos se referiam quase exclusivamente à ornamentação da cidade e a seus prazeres públicos. A grande maioria dos anfiteatros, essas enormes riquezas petrificadas, foi oferecida livremente por mecenas, que, assim, imprimiam à cidade sua marca definitiva.
Tais liberalidades deviam-se à generosidade privada? A uma obrigação pública? A ambas. A dose variava de indivíduo para indivíduo e só havia casos particulares. Pois as cidades pouco a pouco transformaram em dever a tendência dos ricos a generosidade ostentatória; obrigavam-nos a fazer sempre o que a preocupação com a posição os levava a fazer algumas vezes. Mostrando-se liberais, os notáveis confirmavam que pertenciam à classe governante, e os poetas satíricos caçoavam da pretensão dos novos-ricos, que se apressavam a oferecer espetáculos a seus concidadãos. As cidades adquiriram o hábito de um luxo público que passaram a exigir como um direito. A nomeação dos dignitários anuais fornecia a oportunidade; todo ano, em cada cidade desenrolavam-se pequenas comédias: era preciso encontrar novas fontes de financiamento. Cada membro do conselho declarava-se mais pobre que seus pares e dizia que em compensação Fulano de Tal era um homem feliz, próspero e tão magnânimo que seguramente aceitaria naquele ano uma dignidade que acarretava o dever de garantir à própria custa a água quente dos banhos públicos. O interessado protestava que já passara por isso. O mais teimoso ganhava. Se não se via saída, o governador da província interferia; ou a plebe da cidade, zelosa de sua água quente, intervinha pacificamente: aclamava a vítima designada, levava às nuvens sua generosidade espontânea e elegia-a dignitário erguendo as mãos ou por aclamações unânimes. A menos que, espontaneamente, pois também havia espontaneidade, um mecenas imprevisto se levantasse para declarar que desejava beneficiar a cidade; ela lhe agradecia fazendo o Conselho nomeá-lo alto dignitário local e conceder-lhe um título de honra excepcional, como "patrono da cidade", "pai da cidade" ou "benfeitor magnânimo e espontâneo", que ele inscreveria em sua lápide; ou então votando-lhe uma estátua, pela execução da qual ele espontaneamente pagava.
Por isso foi que os dignitários locais pouco a pouco deixaram de ser eleitos pelos cidadãos para ser designados pela oligarquia do Conselho, que os escolhia em seu próprio meio: o problema era mais a falta que o excesso de candidatos; consistindo a função mais em pagar do que em governar, deixava-se ao Conselho a decisão de imolar um de seus membros, e o melhor candidato era aquele que aceitasse pagar. A classe dos notáveis tinha, assim, a equívoca satisfação de dizer que a cidade lhe pertencia, pois era ela quem pagava; em troca podia repartir os impostos do Império em seu proveito, fazendo-os recair o máximo possível sobre o campesinato pobre. Cada cidade se dividia em dois campos: os notáveis que davam e a plebe que recebia; além das obrigações inerentes às dignidades anuais, só se podia ser uma estrela local promovendo, uma vez na vida, a construção de um edifício ou a realização de um banquete público. Assim se formou uma oligarquia dirigente. Será preciso dizer hereditária? É menos simples: as dignidades do pai criavam um dever moral para o filho, vítima designada das próximas prodigalidades, pois era o herdeiro. Entre os ricos do lugar, pensava-se primeiro em depenar aqueles cujo pai já alcançara as dignidades (patrobouloi), esperando que o filho quisesse imitar a generosidade paterna; na falta de candidatos bastante ricos entre os filhos de dignitários, o Conselho se conformava em aceitar em seu seio o representante de uma família de comerciantes para impeli-lo às custosas dignidades.
Os notáveis tinham interesse em se sujeitar a tal sistema apenas porque o costume o impunha; pois se rebelavam tão frequentemente quanto se prestavam a ele de bom grado. O poder central também hesitava. Ora, para mostrar-se popular, impunha aos notáveis uma obrigação formal de dar ao povo prazeres que "o distraíssem da tristeza"; ora fazia a política dos notáveis e tentava refrear as exigências da plebe; ora, por fim, fazia sua própria política e tentava proteger os ricos contra sua tendência às suntuosidades ostentatórias: não seria melhor oferecer à cidade um cais de porto em lugar de uma festa? Pois o povo recebia prazeres que o divertiam ou edifícios que lisonjeavam a vaidade do mecenas; somente nos anos de penúria a plebe pensava em pedir a seus dirigentes que lhe vendessem a preços módicos o trigo armazenado em seus celeiros. Ofereciam-se prazeres aos concidadãos por civismo e edifícios à cidade por ostentação; essas são as duas raízes do evergetismo, que confundem, elas também, o homem público e o homem privado.
Civismo nobiliário
Quem diz ostentação diz espontaneidade; quem diz civismo diz dever. Um dever paradoxal, esse de dar à cidade mais do que lhe é devido. Os cidadãos de um Estado moderno, que são administrados, limitam-se a pagar seus impostos e nem um centavo a mais; porém as cidades gregas (e, a seu exemplo, as romanas) tinham um princípio, ou pelo menos um ideal, mais exigente: quando podiam, tratavam os cidadãos como um partido moderno trata os militantes; estes últimos não devem medir seu zelo de acordo com uma cota, e sim fazer pela causa tudo que estiver a seu alcance. As cidades esperavam a mesma dedicação de seus cidadãos ricos. Demoraríamos muito para explicar que tal dedicação se aplicava principalmente a despesas com amenidades (a despesa que um dignitário menos podia recusar era aquela que a devoção também lhe exigia: quando, em nome de seu cargo, celebrava uma festa ou um espetáculo em honra aos deuses da cidade, não deixava de acrescentar alguma coisa de sua bolsa aos créditos públicos). Ao que se soma a ostentação nobiliária. Os ricos sempre se sentiram figuras públicas; convidavam os concidadãos às bodas de sua filha; na morte de seu pai, toda a cidade era chamada ao banquete funerário e aos combates fúnebres de gladiadores. Logo se fez disso uma obrigação. Em todo o Império, um notável que se casava de novo ou cujo filho adolescente tomava as vestes de homem devia alegrar a cidade ou doar-lhe uma soma em dinheiro; caso se recusasse, precisaria se refugiar numa de suas terras para celebrar as próprias bodas. Mas isso significava privar-se da existência pública e cair no esquecimento; ora, o orgulho nobiliário quer perdurar. Assim, em vez de um prazer fugaz, ele oferece à cidade um edifício sólido, no qual é gravado seu nome. Pode também criar uma fundação perpétua, segundo outra moda da época: em seu aniversário a cidade se banqueteará em sua memória com os rendimentos de um capital que ele deixou com tal intenção ou celebrará uma festa que levará seu nome.
Tudo isso são meios de confirmar, vivo ou morto e honrado, uma condição de estrela social. Ora, uma estrela não é mais uma pessoa privada, o público a devora. Ademais, a relação de um benfeitor de cidade com seu público era física, face a face, como fora a dos políticos da República romana que tomavam decisões diante dos olhos do povo, em pé na frente do palanque, visíveis como os generais de outrora no campo de batalha. Encerrados em seus palácios, os imperadores desejarão dar a impressão de que continuam esse republicanismo tomando a precedência pessoalmente no circo ou no anfiteatro de Roma, onde a plebe vigiava sua atitude e os queria atentos e complacentes aos desejos do público, o único juiz verdadeiro.
Os notáveis municipais têm a mesma sorte. Numa cidadezinha da Tunísia encontrou-se um mosaico no qual um grande homem chamado Magério celebra a própria generosidade; o mosaico decorava sua antecâmara. Vê-se o combate de quatro bestiários contra quatro leopardos; o nome de cada combatente está inscrito ao lado de sua imagem, bem como o de cada animal: o mosaico não está ali como ornamento, mas como a descrição rigorosa de um espetáculo que Magério ofereceu com seus denários. Ao longo do mosaico leem-se as aclamações e reclamações do público, que sanciona o zelo benfeitor escandindo slogans em sua homenagem: "Magério! Magério! Que teu exemplo se torne instrutivo para o futuro! Que os benfeitores precedentes entendam a lição! Onde e como se fez tanto bem? Tu dás um espetáculo digno de Roma, a capital! Tu o dás a tua custa! Este dia é teu grande dia! Magério é o doador! Essa é a verdadeira riqueza! Sim, essa mesma! Já que terminou, despede os bestiários com uma paga suplementar!". Magério concordou com esta última vontade, e veem-se no mosaico os quatro sacos de moedas de prata (com a cifra inscrita sobre cada um) que entregou aos bestiários na arena.
Aos aplausos do povo sucediam-se normalmente títulos honoríficos, distinções de honra concedidas pelo Conselho para a vida toda; a cidade agradece, mas é ela quem julga; o notável só se distingue entre seus pares prestando-lhe homenagem. Compreendemos que os títulos honoríficos de um benfeitor, assim como as dignidades públicas que ele carrega, tiveram uma importância tão considerável como os títulos de nobreza no Ancien Regime e suscitaram paixões igualmente intensas. O Império Romano apresenta o seguinte paradoxo: um civismo nobiliário. Tal civismo ostentatório deve confirmar sua presunção hereditária com uma proeza de liberalidade que o distinga, mas no interior do quadro cívico: superior à plebe de seu vilarejo, o notável é grande em sua cidade porque mereceu aos olhos desta e no benefício desta; ela é beneficiária e juiz da dedicação de seu filho. A plebe percebia tão bem esse equívoco que saía do espetáculo sem saber se o benfeitor a havia honrado ou humilhado; uma frase que Petrônio empresta a um espectador expressa tal ressentimento: "Ele me ofereceu um espetáculo, mas eu o aplaudi: estamos quites, uma mão lava a outra".
Ao mesmo tempo dedicação patriótica e busca de glória pessoal (ambitus). Já na República romana os membros da classe senatorial procuravam tornar-se populares oferecendo espetáculos e banquetes públicos, e era mais para agradar à plebe do que para corromper os eleitores; continuaram assim depois da supressão da eleição às dignidades. Como diz Georges Ville, por trás da ambição materialmente interessada pode esconder-se uma ambição por assim dizer desinteressada, que procura o favor da multidão por si mesmo e com ele se contenta".
O Evergetismo não se parece com nada
Deixemos de falar de "burguesia" romana: como a clientela, o evergetismo não se explica pelo interesse de classe, mas por um espírito nobiliário que inutilmente ergue edifícios públicos e estátuas honoríficas que cantam a glória de uma dinastia e resultam de um imaginário nobre; é uma arte do brasão. Falar de maquiavelismo, redistribuição, despolitização, cálculo interessado na colocação de simbólicas barreiras de classe equivale a achatar e racionalizar um fenômeno cujos custo e desenvolvimento simbólico ultrapassam em muito o que era socialmente necessário. O que nos engana é que essa nobreza, com sua simbologia aparentemente cívica, seus edifícios "públicos" e seus títulos de magistratura não se parece com a nobreza de sangue e títulos do Ancien Regime: é uma formação histórica original que canta a própria glória no velho vocabulário da cidade antiga, em vez de louvar a grandeza de sua raça.
Os curiais não eram a mesma coisa que a classe proprietária apenas porque o número de cadeiras no Conselho municipal em geral se limitava a cem. Assim como no Ancien Regime não bastava enriquecer para obter um título de nobreza, e o título de acadêmico na França limita-se a quarenta pessoas, célebres ou menos célebres. O Conselho municipal era um clube nobre onde nem todos os homens de posses entravam: as leis imperiais insistiam em que em caso de necessidade financeira fossem admitidos de favor vulgares comerciantes ricos. O clube dos ricos nobres preferia pressionar um de seus membros para que se arruinasse pela cidade. E às vezes os nobres se conformavam em fugir às suaves violências de seus pares: refugiavam-se em suas terras, na casa de seus lavradores (coloni praediorum), diz o último livro da Digesta; pois o poder público afundava ao tentar sair das cidades e penetrar no campo, onde cristãos como são Cipriano se abrigariam das perseguições.
Classe nobiliária também, pela antiguidade dessas famílias. Dinastias de novos-ricos são admitidas, é um fato comprovado, porém um fato não menos comprovado é a existência secular dessas famílias, seus intercasamentos, sua endogamia. Os intercasamentos entre as grandes famílias de uma cidade foram trazidos à luz por Philippe Moreau a partir do Pro Cluentio de Cícero; na Grécia, a abundante epigrafía imperial permite seguir muita família nobre ao longo de dois ou três séculos, particularmente em Esparta, na Beócia, em outros lugares ainda: foi possível estabelecer árvores genealógicas que ocupam páginas in-fólio em nossas coletâneas de inscrições gregas do período imperial. O Império é uma época de estabilidade nobiliária.
O evergetismo foi um ponto de honra nobiliário em que o orgulho de casta acionou todas as motivações cívicas e liberais sobre as quais os historiadores se estenderam habilmente, mas também com demasiada exclusividade: civismo, prazer de dar, desejo de se destacar... Essas árvores sentimentais e cívicas esconderam-lhes a floresta do orgulho nobre e a existência de uma nobreza patrimonial, hereditária de fato. Cada nobre quer ser superior aos outros e gosta de poder dizer que foi "o primeiro" ou "o único" a gastar com tal liberalidade inédita: os dignitários precedentes gratuitamente distribuíram óleo para o banho do povo, mas eis que um novo paladino distribui óleo perfumado... "Quero ganhar dinheiro", declara um herói de Petrônio, "e ter uma morte tão bela que meus funerais se tornarão proverbiais"; sem dúvida prescreverá aos herdeiros que ofereçam um banquete à cidade por ocasião de seu enterro. Pão e circo, ou melhor, edifícios e espetáculos: a autoridade ainda era mais a projeção de um indivíduo do que uma capacidade pública ou privada de obrigar; era monumentalização e teatralização. O evergetismo não era tão virtuoso como creem seus últimos Comentaristas nem tão maquiavélico como dizem os comentaristas precedentes, imbuídos de vago marxismo. A nobreza residia, ao pé da letra, num "jogo de competição", tão irracional, política e economicamente, quanto o esbanjamento por mera ostentação. Isso ia muito mais longe que a necessidade de "preservar a posição" ou marcar as barreiras de classe, e não há como conciliar o fenômeno fundamental da competição de esbanjamento com explicações sociais ao gosto dos modernos; tampouco se pode atribuí-lo às explicações dos antigos — patriotismo, festa e banquete, generosidade etc. É um fenômeno tão curioso como esse potlatch que intriga os etnógrafos que o encontram entre tantos povos "primitivos"; uma paixão tão devoradora como aquelas que, entre os povos "civilizados", só se desencadeiam pelo poder "político" e pela riqueza "econômica". Pelo menos para quem nisso acredita.

Não se escrevem tragédias com água benta ou água esterilizada. É ate banal dizer-se que as tragédias são escritas com lágrimas e sangue. O mundo trágico é um mundo em parte imaginário, que os poetas de Atenas fabricam para o povo, a partir da dura experiência que, em dois séculos, esse povo de camponeses e marinheiros fez na realidade. No tempo de Solon, o povo ateniense conheceu o domínio dos Eupátridas, depois o domínio dos ricos, ambos tão pesados como o jugo de um destino brutal: então pouco faltou para que esse povo despojado das suas terras e dos seus direitos, fosse lançado fora da cidade, para o exilio ou para a escravatura, condenado a miséria que degrada e mata.
Veio depois, no principio do século V, quando do segundo nascimento da tragédia, a invasão dos Medos e dos Persas, com essas hordas de povos amalgamados e inumeráveis que, para se alimentarem ou simplesmente pelo gosto de destruir, levavam consigo ao passar as reservas de cereais, abatiam os rebanhos, incendiavam aldeias e burgos, cortavam as oliveiras rente ao solo e, flagelo sacrílego, derrubavam os altares dos deuses, partiam as suas estátuas.
O povo de Atenas, em um esforço sustentado com firmeza, depois em um poderoso e brusco golpe de rins, desembaraçou-se dos Eupátridas opressores, liquidou o invasor asiático: arrancou as forças que ameaçavam esmagá-lo a soberania e a igualdade democráticas de que se orgulha e, no mesmo lance, a liberdade da cidade e do seu território, a independência nacional.
A recordação desse século heróico em que o povo dos Atenienses lança a morte que o espreitava um desafio triunfante, essa recordação de uma luta travada é ganha - com a ajuda dos deuses - está sempre presente, que mais não seja como um obscuro reflexo, no coração de toda a tragédia ática.
Na verdade, a tragédia Não é outra coisa que a resposta do povo ateniense, dada em verbo poético, as pressões históricas que fizeram desse povo o que ele é: o defensor da democracia (por pequena que seja a sua base nessa época) e da liberdade dos cidadãos.
Os dois primeiros grandes poetas trágicos pertencem a classe aristocrática ou a alta burguesia. Não importa. Primeiro que nobres ou ricos, são poetas de gênio, são cidadãos atenienses ao serviço da cidade. A sua dependência da comunidade de Atenas é o laço mais firme que os liga aos outros homens. A inspiração poética é sentida por eles como uma cratera de fogo ateada pelos deuses: toda a sua arte tende a disciplinar essa fonte ardente, a transformar essa labareda selvagem em sol nutriente que fará frutificar as vidas dos seus concidadãos.
No momento em que Sófocles aborda o teatro - uma dezena de anos depois de Salamina e de Plateias - um poderoso movimento ascendente, resultante da vitória sobre os Medos, arrebata a nação para novas conquistas e criações. No plano da tragédia, a missão própria do poeta é ser o educador dos homens livres. A tragédia, em principio, é um gênero didático. Contudo, Não tem nunca o tom pedante. É pela representação de uma ação, muito mais que pelos cantos do coro, pelas palavras do corifeu ou pelos discursos das personagens, que o poeta propõe a sua mensagem.
A luta dramática apresentada ao espectador é, quase sempre, a luta de um herói animado de grandeza, que procura - mas, cuidado, ele que não ofenda os deuses que puseram limites a essa grandeza! -, que procura realizar essa extensão dos poderes nessa natureza, esse ir mais longe, essa passagem do homem ao herói, que é o objeto próprio da tragédia. O herói da tragédia é o aviador ousado que se propõe forçar o muro do som. Quase sempre, esmaga-se na tentativa. Mas a sua queda não significa que tenhamos de condená-lo, humanamente, Não é condenado pelo poeta. Foi por nós que ele tombou. A sua morte permite-nos localizar mais exatamente a invisível muralha de chamas e ouro onde a presença dos deuses detém e quebra de súbito o impulso do homem para o além do homem. Não é a morte do herói que é trágica. Todos nos morremos. É trágica a presença, na realidade, na experiência que Sófocles e os homens do seu tempo tem dela - a presença desses deuses inflexíveis que nessa morte se revela.
Porque essa presença parece opor-se ao ir mais além do homem, a sua florescência em herói. No entanto, toda a tragédia traduz e torna mais firme a aspiração do homem a ultrapassar-se em um ato de coragem inaudito, de ganhar uma nova medida da sua grandeza, frente aos obstáculos, frente ao desconhecido que ele encontra no mundo e na sociedade do seu tempo. Ultrapassar-se tendo em conta esses obstáculos, assinalando como guarda avançada da massa dos homens, de quem o herói será doravante patrono e guia, esses limites da nossa espécie que, logo que assinalados e, iluminados, deixam de o ser... Isto com risco de perder ai a vida. Mas quem sabe se aquele que vem esbarrar com o obstáculo não terá feito recuar os limites, enfim denunciados? Quem sabe se uma outra vez, numa outra sociedade histórica, essa morte do herói, que já no coração do espectador se muda em esperança, se produzirá da mesma maneira? Quem sabe mesmo se ela se reproduzira?...
É certo que depois de o muro do som ter sido vencido haverá mais longe o muro do calor ou qualquer outro. Mas, pouco a pouco, graças a estas provas sucessivas, alargar-se-á o estreito cárcere da condição humana. Até que as portas se abram... A vitória e a morte do herói são, juntas, o penhor disso. A tragédia joga sempre com o tempo, com o devir deste movente mundo dos homens que ela exprime e transforma.
É em uma oscilação do pensamento, indeciso entre o horror e a esperança, que acabam a maior parte das tragédias. Que acabam? Nenhuma grande tragédia foi alguma vez acabada. Toda a tragédia, na sua terminação, permanece aberta. Aberta para um céu imenso, todo constelado de astros novos, atravessado de promessas como de meteoros. No decurso da sua existência, retomada sob outras formas em sociedades desagravadas das hipotecas que lhe deram nascimento, a tragédia pode carregar-se de novas significações, resplandecer de uma beleza cintilante e comover-nos pela sua grandeza. Assim se explica (já foi dito) a perenidade das obras-primas. A promessa que tais tragédias tinham feito ou apenas por vezes vagamente esboçado de uma sociedade nova essa promessa foi cumprida pelo futuro em que vivemos.
Antígona, rainha das tragédias, é, sem duvida, de todas as que conservamos da Antiguidade, a mais carregada de promessas. Na sua linguagem de outrora, é a que nos dá ensinamentos mais atuais. É também, por outro lado, os mais difíceis de apreciar exatamente.
Partamos dos fatos. Recordemos os fatos.
Na véspera do dia em que se abre o drama, os dois irmãos inimigos, Etéocles e Polinices, ambos legítimos sucessores do Édipo, seu pai, mataram-se um ao outro na batalha que se travou diante dos muros de Tebas.
Etéocles defendia o solo da pátria. Polinices apoiava o seu direito no auxílio do inimigo. Por este fato, agia como traidor.
Creonte, tio de ambos, herda este trono sangrento. É um homem de princípios, que parece reto. Mas tem a visão limitada daqueles que, subindo ao poder, pensam subir ao pináculo e a si mesmos. Para restaurar a autoridade do Estado, abalada pela revolta de Polinices, para formar o povo sacudido de discórdias no respeito da ordem estabelecida. Creonte, logo que ocupa o trono, publica um édito que concede as honras fúnebres a Etéocles, o bom patriota, e vota o corpo de Polinices rebelde aos animais que o devorarão. Quem infringir este édito arrisca-se à morte.
Logo que conhece a resolução. Antígona, a meio da noite, decide prestar a Polinices as honras de que o privam. A piedade e o amor fraterno exigem-no conjuntamente. Entre os seus dois infelizes irmãos, ela não distingue. A morte deu-lhes uma nova e mais indiscutível fraternidade. Apesar da proibição de Creonte, enterrará Polinices. Sabe que a morte a espera após o seu ato. Uma morte que será "bela... depois desse belo crime".
No arrebatamento da fé, procura conquistar sua irmã Ismene para a nobre empresa. Loucura, responde Ismene. Somos simples mulheres, feitas para obedecer ao poder. Ismene procura dissuadi-la do temerário projeto. O obstáculo torna Antígona mais firme na sua resolução. Assim, em Sófocles, as personagens conhecem-se e fazem-se conhecer aos espectadores, definindo as suas arestas, a propósito dos atos em que se empenham ou que repelem. Antígona repele Ismene do seu coração e vota-a ao desprezo. Presa no momento em que celebrava os ritos funerários por um soldado que o rei colocara com outros perto do corpo de Polinices para o guardar, a mulher é conduzida, de mãos atadas à presença de Creonte. Ela justifica o seu ato. Declara ter obedecido às leis divinas, "leis não escritas", leis eternas, reveladas à as consciência, que devem prevalecer sobre a decisão de um príncipe insensato.
A resistência de Antígona arranca a Creonte a máscara pomposa de chefe de Estado todo dedicado ao bem da cidade, com que o tínhamos visto entrajar-se complacentemente perante o coro espantado dos principais da cidade. A moça leva o rei pavoneado a enterrar-se cada vez mais na arbitrariedade. Ele pronuncia a condenação à morte de Antígona, mais absurdamente ainda a de Ismene, que fora vista desvairada pelo palácio. Ismene, aliás, quer morrer com a irmã. Ajoelhada a seus pés, suplica a Antígona que lhe permitia partilhar a sua morte. Antígona repele duramente este sacrifício tardio, inoportuno, recusa a Ismene essa honra a que ela não tem direito. De resto, nunca Antígona pediu à irmã que morresse com ela ou por ela, mas que arriscasse a vida para todo o momento, cada uma colocada em região diferente da outra. Não fazem mais que colidir em um esgotante contratempo.
Esgotante e fecundo. As cenas de Antígona e de Ismene são importantes, não só porque mostram como, em Sófocles, os caracteres se criam no conflito das semelhanças, mas também porque manifestam de maneira evidente a virtude contagiosa do amor.
Mas eis que se abre, no centro mais sombrio da tragédia, que parece já toda inclinada para o seu termo mortal, uma surpreendente peripécia - a primeira esperança. Ao mesmo tempo, ela prepara o golpe que vai, no desenlace, ferir Creonte. E mais ainda: tal peripécia prepara, em nós, a reconciliação de Antígona e de Creonte.
Hémon apresenta-se diante do rei, seu pai, e pede-lhe o perdão da moça.
Hémon ama Antígona. Os dois jovens estão noivos. Novamente o amor afirma a sua força de contágio. Mas é extremamente importante que não seja em nome do seu amor que Hémon vem pedir a vida de Antígona. Ele fala com nobreza a única linguagem que convém a um homem, não a do sentimento, mas a da razão animada de justiça. Dirige-se ao pai no tom mais grave e mais deferente. Recorda a esse pai a quem ama, e que ele julga desorientado, o respeito da lei divina, ao mesmo tempo que tenta iluminá-lo sobre o seu verdadeiro interesse, inseparável do interesse da cidade que dirige. Não procura enternecê-lo, mas somente convencê-lo. Hémon coraria de pedir pela vida da noiva e mais ainda de pedir por si mesmo: apenas pede por seu pai e pela justiça. Nada mais belo em Hémon que esta filialidade viril. A cena é de uma extraordinária firmeza. Ao passo que o teatro moderno, tão inclinado a exibir o sentimento amoroso, a diluí-lo em discursos, não teria deixado de explorar esta situação no sentido do enternecimento, o poeta antigo recusa-se a ceder ao pendor fácil do sentimento, recusa-se o direito a pôr na boca de Hémon, ao falar ao pai, a menor alusão ao seu amor. Não que Hémon pretenda ceder a alguém no sentimento que experimenta por Antígona. Mas que homem seria ele se ousasse pedir ao pai que fizesse prevalecer esse sentimento sobre o interesse da comunidade? A honra impõe-lhe que contenha a sua paixão, que fale apenas em termos de razão.
Por outro lado, este constrangimento que impõe ao seu coração permite que a cena começada no tom calmo de um debate se desdobre em violência exasperada. A partir do momento em que o pai o acusa de faltar a essa honra tão severamente salvaguardada, como não se revoltaria Hémon contra tanta injustiça, alimentando a sua raiva com a paixão em vão refreada? A explosão de Hemon, nas ultimas replicas da cena, denuncia ao mesmo tempo o seu amor e o seu sentido da honra. Quanto à raiva de Creonte, Não nos diz apenas a que ponto este homem esta atolado na injustiça, adverte-nos da afeição do pai pelo filho - uma afeição como Creonte a pode sentir, um amor paternal que quer que o filho seja uma coisa do pai, e que lhe torna tanto mais intolerável esta súbita resistência a sua autoridade quanto é certo adivinha-la ele alimentada de um amor estranho. A grande cólera de Creonte contra o filho revela-o Não só perdido mas também sem defesa contra o golpe que os deuses se preparam para desferir-lhe. Resta-lhe um coração, belo alvo a visar...
A altercação dos dois homens acaba por firmar Creonte na sua decisão. Uma vez mais sabemos Antígona perdida: Creonte confirma a condenação - ao mesmo tempo que retira a de Ismene - e a pena de morte junta o mais cruel suplicio: Antígona será emparedada viva em uma caverna.
No entanto, no momento em que a morte de Antígona nos parece mais certa do que nunca, ela começa a deixar-nos entrever de maneira mais rigorosa a sua eficácia. Desde a abertura do drama, Antígona foi-nos dada como uma luz posta diante de nós - uma prova de que a existência humana não esta condenada a escuridão. Antes da cena de Hémon, nem a reticente aprovação dos velhos do coro, nem mesmo a rápida labareda da dedicação de Ismene, nos puderam assegurar plenamente que essa luz de Antígona não arderia em vão na praça nua de uma dura cidade. Se bastasse a vontade de um Creonte para extinguir essa claridade, a vida humana estaria entregue a noite da brutalidade! É para esse polo obscuro que o drama progride em nós? Sim, pelo menos até a cena de Hémon. Até essa articulação nova, a morte de Antígona parece ter apenas um sentido estéril. Uma alegria nos foi prometida, depois retirada. Para que Antígona nos seja dada para sempre, é preciso que a sua labareda tenha ateado outros incêndios. Os cantos dos velhos, apesar da sua beleza, o frágil brilho de Ismene, dificilmente nos guardaram do desespero. Só o ardente fogo de Hémon começa a restituir-nos Antígona. É que Hémon, sem pronunciar uma só palavra de amor, afirma esplendentemente, pela sua fidelidade aquela a quem ama, ao mesmo tempo que a justiça e aos deuses, o contágio do amor, o irresistível poder dessa força que conduz o mundo e as nossas vidas - Eros ...
O coro conhece o poder de Eros. Leu a sua presença em Hémon. Nesta meia claridade (de aurora ou de crepúsculo, ignoramo-lo ainda) em que o coro caminha conosco, os seus cantos, que celebram "Eros invencível", avançam tateando para exaltantes verdades...
Agora Antígona apresenta-se uma ultima vez diante de nós. Os guardas conduzem-na ao lugar onde ela vai cumprir a sua morte - morte cega e terrosa. Vemo-la nesta cena travar o ultimo combate prometido a cada um de nós. Deposta a sua couraça de orgulho, sozinha e nua, como tinha de ser, vemo-la encostada ao muro onde o destino alinha os seus reféns.
Esta cena dos lamentos de Antígona, estas estâncias maravilhosas em que a heroína canta a dor de deixar a vida e, na presença dos velhos mais inclinados agora a julgar do que em estado de compreender, sente e canta a amargura da ultima e necessária solidão - esta cena retoma um dos temas tradicionais da tragédia grega. É conveniente, e justo que antes de morrer o herói faça o seu adeus ao mundo dos vivos, que ele diga em um canto o seu amor da preciosa luz do Sol. É preciso também que ele se meça, na sua força e na sua fraqueza, com a omnipotência do destino que o vai esmagar.
Alguns críticos consideraram que esta cena de cantos queixosos concordava mal com o caráter altivo de Antígona. O contrário é que é exato. A crua luz da morte apontada para ela descobre-nos finalmente o fundo ultimo de Antígona. Temos aqui a chave deste ser. Sabemos agora que a dura Antígona - dura no combate, dura consigo mesma, nativamente dura porque e filha de uma raça de combatentes feridos -, sabemos que a áspera Antígona é, no segredo de si mesma, na solidão de si mesma, toda ternura. Ela amava a alegria do sol, amava os regatos e as árvores. Amava os seus. Os seus pais, os filhos que não terá nunca. O seu irmão insubstituível. E como poderia ela morrer por esse irmão, se não fosse toda amor?
De um tema habitual do espetáculo trágico, a arte de Sófocles fez a ilustração desta verdade que resplende em Antígona: nenhum ser humano encontra força para morrer senão no amor que dedicou a vida...
Neste instante da partida de Antígona, nada já pode nada para salvar a vida da moça. Nada, a não ser os deuses.
Os homens, pelo choque das suas paixões opostas, construíram uma engrenagem de fatalidade, um destino de que Antígona foi o primeiro artífice. Um destino nascido da escolha, onde a liberdade da heroína se traduz em fatalidade. Humanamente, por este destino construído, Antígona está perdida. Mas Tirésias faz ouvir a voz dos deuses, que até aqui se calavam e que de súbito falam.
O seu silêncio parado nos confins da tragédia - esse silêncio que encerrava a disputa e os gritos dos homens como no fundo de um poço -, esse silencio de súbito ressoa e fala. Com clareza se pronuncia. Antes de se tornar a fechar sobre novos gritos humanos, entreabre-se e aponta o único caminho por onde pode ainda insinuar-se a sabedoria dos homens. Por um instante, a voz divina e sonora e distinta. Mas a transparência dessa palavra é a claridade lívida do céu imóvel que já contém o raio. Nós sabemos que Creonte pode e não pode ouvir, pode e não pode ordenar o perdão de Antígona, ou antes, sabemos que se ele ainda pode ouvir, é tarde de mais para salvar. Como tantas vezes acontece no termo do conflito trágico, o homem e o destino, nos últimos cem metros da corrida, lutam a quem é mais veloz, de vontade tensa, músculos retesados. Os dois cantos do coro, que encerram a cena de Tirésias, erguem simetricamente uma coluna de gemidos e um jato de esperança, cuja antítese diz exatamente o despedaçar do nosso ser nesse supremo minuto que precede o rebentar do drama.
De súbito, o minuto fecha-se: o homem esbarrou contra o "tarde de mais". A desgraça desaba em vagas enormes. O mensageiro abomino fala-nos de Antígona enforcada, fala-nos do véu que estrangula a sua bela garganta, e o filho cuspindo a cara do pai que aparece, fala da espada de Hémon levantada contra Creonte, voltada contra si mesmo, e o sangue do seu coração que salpica o rosto da moça enforcada. Não é apenas a desgraça, e o horror que cai sobre nós e nos submerge. A tragédia grega não ignora que o horror é um dos rostos permanentes da vida: firmemente, mostra-nos o espetáculo dele.
Agora volta Creonte, trazendo nos braços, arrastando pelo solo o corpo do filho. Grita a sua dor, uiva o seu crime. Atrás dele, uma porta abre-se: um outro cadáver o chama, um outro assassínio o fixa pelas costas. Eurídice, sua mulher, a mãe de Hémon, matou-se. Entre os dois corpos que o acusam e o ferem, Creonte não é mais que uma criatura lastimável, um homem que se enganou e que soluça. Suplica a morte que venha, a morte que está presente naqueles a quem amava e que ele matou. Que ela o leve, por sua vez! Ela não responde.
E é neste momento em que, posto diante de nós, o mundo não é mais que sangue e lagrimas, neste momento em que o círculo de figuras humanas no meio das quais o poeta nos fez viver não é mais que um circulo de fantasmas feridos neste momento em que não esquecemos Antígona enforcada pelo seu véu na caverna -, é neste instante de horror acumulado que uma inconcebível alegria nos inunda. Antígona está em nós viva e radiosa. Antígona é deslumbrante e ardente verdade.
Ao mesmo tempo, Creonte começa a erguer-se no nosso coração como uma outra luz fraternal - Creonte derrubado pelos deuses, mas que nos é proibido ferir. Todo o comprimento do corpo de Hémon, posto entre nós é o pai ajoelhado, como um laço de ternura e piedade, defende Creonte dos nossos golpes.
E agora é preciso compreender. Esta exigência não é mania de intelectual. A nossa sensibilidade comovida até as entranhas, até as raízes do nosso entendimento, obriga-nos a fazer o esforço de encontrar o sentido da tragédia. O poeta pede-nos que demos uma resposta à pergunta que Antígona e Creonte nos dirigem.
Antígona põe um problema de valores, e, porque o põe, grande é para o critico a tentação de a reduzir a uma peça de tese e ver as personagens apenas como sinais algébricos dos valores que representam. Nada falseia mais o nosso juízo sobre Antígona que ver nela um conflito de princípios. Nada, alias, é mais contrário a caminhada criadora do poeta que a ideia de que a sua criação proceda do abstrato para o concreto. Antígona Não é uma competição de princípios, é um conflito de seres, de seres humanos fortemente diferenciados e caracterizados, um conflito de indivíduos. As personagens do drama estão diante de nós como sólidos. E até esta solidez (no sentido geométrico), é a densidade da sua substância que nos permite - mas só depois - projeta-las no plano das ideias.
É pois destas pessoas, do seu ser agravante e convincente que devemos partir para tentar apreender o sentido da obra de Sófocles, sem esquecer pesar nas nossas balanças a qualidade do prazer que esta obra nos dá.
Não esperemos aliás o sentido do drama de nenhuma personagem isolada, por mais importante que ela seja. Um grande poeta nunca se decalca em uma personagem privilegiada. É a presença do poeta em cada uma das suas criaturas que nos liga a elas, nos introduz nelas, nos serve de intérprete para entender a linguagem dessas almas, primeiro estrangeiras e dissonantes, mas que finalmente falam uma só voz, a sua tornada nossa. Entre todos os poetas, o poeta trágico - porque é trágico - só se deixa entender no concerto desses filhos inimigos que se batem nele e em nós, e que nós amamos porque são ao mesmo tempo ele e nós. Concerto por muito tempo irritante antes de se tornar harmonia. Lento caminhar, dolorosamente, deliciosamente inscrito na nossa sensibilidade antes de alcançar o nosso entendimento - pelas vias da carne e do sangue.
Antígona e Creonte batem-se à navalha. Porque é tão violenta a sua luta? Porque sem duvida jamais existiram dois seres ao mesmo tempo tão diferentes e tão semelhantes. Caracteres idênticos, almas inversas. Vontades inflexíveis: vontades marcadas desse indispensável endurecimento, armadas dessa intolerância necessária a todas as almas ébrias de eficácia.
"Caráter inflexível", diz o coro, falando de Antígona, "é bem a filha de um inflexível pai".
Antígona é chamada "intratável", é cruel e crua - como o foi Édipo, duro consigo mesmo até a esses olhos que ele cega, e Antígona até ao enforcamento - como ambos são duros para com os outros.
Mas a filha de Édipo é bem sobrinha de Creonte. Nas alturas de grandeza em que cada um pretende instalar-se, o mesmo enrijamento do ser os fixa em arestas vivas.
"Espirito rígido, caráter duro", diz Creonte de Antígona, ignorando que ao defini-la assim e a si mesmo que se define. E gaba-se de que esses espíritos duros são também aqueles que se partem mais repentinamente, como o ferro endurecido ao fogo, que julgávamos mais solido. Mas falando assim o risco que corre Antígona, é a sua própria aventura que ele descreve de antemão. Veremos a sua vontade tensa até ao limite quebrar-se sob o efeito das ameaças do adivinho Tirésias.
Para com outrem, para aqueles que lhes querem bem, há em Antígona e em Creonte o mesmo reflexo de defesa, a mesma recusa brutal da afeição que pretende salva-los. Antígona frente a Ismene, Creonte frente a Hémon: imagens simétricas de um frontão em que, sob o signo da violência, se exaltam os demônios da grandeza solitária, calcando aos pés quem queira deter-lhes o impulso. O mesmo furor feroz e desprezador, os mesmos ultrajes a quem tente dobra-los, leva-los a refletir um só momento. Seguem o seu caminho reto. Pouco importa que, aos nossos olhos, tenham ou não tenham razão: o que conta para nós e nos convence é a fidelidade que cada um deles guarda a si mesmo. Nisto, como Antígona, é fiel Creonte; se cedesse a quem o ama e o aconselha, trairia o compromisso que assumiu consigo mesmo de ir até ao termo do seu destino, seja o que for que aconteça. Na verdade, o equilíbrio do mundo que um e outro se obstinam em constituir paga-se por este preço. Uma só vacilação da vontade e este mundo desaba. Quando Creonte verga, desmoronar-se-á com ele a estabilidade do universo que nos prometera.
Eis porque Antígona e Creonte odeiam a quem os ama. O amor que os desvia da sua obra, que recusa empenhar-se com eles na sua obra, essa teimosia do coração, aos seus olhos, Não é amor nem merece amor. "Amar-me por palavras, Não é amar-me", diz Antígona a Ismene. E mais:
"As tuas palavras só merecem o meu ódio".
Quem não é por eles, é contra eles. Creonte diz a Hémon:
Para que servem os filhos, senão para pagarem aos nossos inimigos o mal que nos fazem, senão para honrarem e estimarem aqueles que nos estimamos! Um impõe ao filho, como a outra a irmã, o mesmo tudo ou nada. Exigem a mesma escolha absoluta que eles fizeram. A natureza de Antígona não é menos tiranica que a de Creonte.
Digamos a palavra: possui-os o mesmo fanatismo. Uma ideia fixa os habita. Um objeto único exerce neles uma fascinação que os torna cegos a todo o resto. Para Antígona, o corpo não enterrado de Polinices; para Creonte, o seu trono ameaçado. A este objeto dão tudo de antemão, tudo sacrificam, incluindo a vida. Jogam tudo nesta carta, que é para eles o bem supremo. Com delicia. Todo o fanático é um jogador: conhece o êxtase da perda e da salvação postas no mesmo lance decisivo.
É este prazer agudo da vida reduzida a delgada espessura de uma carta de jogar que nos fazem saborear a cada momento os furores contraídos de Creonte e de Antígona. O nosso ser, mobilizado como o deles ao serviço não da sua ideologia, mas das suas paixões que se defrontam, saboreia duas vezes a angústia e duas vezes a alegria de sentir a vida empenhada, com o mesmo apetite de rigor, o mesmo deprezo do risco, num combate contra a morte.
Toda a grandeza se quer exclusiva. O fanatismo de Antígona e de Creonte explica as regiões obscuras da sua psicologia. Alguns críticos perguntam como é possível que Antígona esqueça Hémon tão inteiramente como o faz. Julgam pouco verosímil que ela possa roçar o drama de Hémon, atravessar a sua própria tragédia, sem sequer pronunciar o nome do seu noivo. Por isso alguns desses críticos de coração sensível tomam o partido de atribuir a Antígona este verso que os manuscritos de Sófocles põem na boca de Ismene: "O caro Hémon, como teu pai te ultraja!" Este "caro Hémon" suspirado parece-lhes atenuar o rigor insuportável em que se encerra Antígona e tomar enfim tocante a heroína.
Mas será necessário corrigir o texto de Sófocles para tornar Antígona suportável? O seu silêncio sobre Hémon será incompreensível a esse ponto e enfim tão chocante? Na verdade, esse silêncio não é um esquecimento daquele a quem ela ama e das alegrias que o amor de Hémon lhe prometia. A cena em que a moça se lamenta por deixar a vida sem conhecer as núpcias, sem "ter dado o seio a um filho", assaz o prova. Com estas estâncias admiráveis, em que o amor da vida e das suas alegrias se exprime plenamente à aproximação da morte, não ficamos finalmente satisfeitos de palavras "tocantes"? Contudo, se mesmo nesse momento, e com mais forte razão no decurso do seu combate com Creonte, Antígona não invoca Hémon, esse silêncio explica-se pela concentração voluntária do seu pensamento na desgraça do irmão, pela reunião de todas as forças do seu ser sensível ao serviço da sua fraternidade. Antígona quer-se exclusivamente fraternal. Repele, senão para fora de si mesma, recalca pelo menos no fundo de si mesma, em regiões onde já não têm poder nos seus atos, todos os sentimentos que a desviariam do puro amor de Polinices.
Pelo mesmo traço de carácter se iluminam as obscuridades de Creonte. Este homem é inteligente. Tem uma visão clara do objetivo que se fixou, e que é o de reinar na ordem. Ama seu filho, sua mulher, ama a sua cidade. Egoistamente, sem dúvida, pelo prazer, pela honra e pelo proveito que retira destes bens que lhe pertencem, mas, enfim, ama-os no seu nível de amor, como bom tirano da sua família e do Estado. O fim do drama mostra a força da afeição de Creonte pelos seres que dependiam dele.
Sendo assim, como é possível que este homem avisado, decidido a usar dos bens que a vida lhe oferece, se mostre finalmente tão limitado na conduta da sua vida e no exercício do poder? Como se acha ele incapaz de compreender uma só das boas razões que lhe dá o filho, surdo a essa voz que lhe anuncia claramente a sua perda, se ele pretender governar sozinho contra a opinião de todos? Na verdade, não há nada nesta obscuridade que não seja claro. Está na natureza de Creonte pôs-se todo inteiro, como Antígona, em toda a ação que empreende. Tendo decidido lutar contra a revolta e a anarquia, conduzirá sem derivação a luta ao seu termo, seja esse termo mortal. A cegueira e a obsessão da ideia fixa reconhecem-se nomeadamente no fato de ver até onde ela não está a rebelião que decidiu castigar no corpo de Polinices e depois em Antígona. Ela ergue-se por toda a parte no seu caminho, fantasma do seu espírito, mas que o obriga a esmagá-la. Não somente em Antígona, mas absurdamente no soldado que prende Antígona e a entrega, e que ele supõe pago pelos seus inimigos. Mais absurdamente em Ismene, terna garota de quem faz uma sombria conspiradora. As tímidas reservas do coro são ainda, aos seus olhos, rebelião. Rebelião, os sensatos conselhos do filho, que só procura tornar mais firme a sua autoridade. Rebelião, os silêncios como os murmúrios da cidade. Rebelião, as graves advertências de Tirésias — adivinho cúpido, vendido à conjura da sua família e da cidade! Fechado pelo fanatismo do seu caráter não só na decisão que tomou, mas nesse mundo imaginário que essa decisão construiu em redor de si e de que ela pretende manter-se senhora, não deixando entrar nela, nem o amor do filho, nem o bom senso, nem a piedade, nem mesmo o simples interesse ou a inteligência da situação — quem quebrará a obsessão, quem forçará este cerco estranho, este bloqueio erguido por Creonte contra si mesmo? O seu fanatismo entregou-o à solidão, fez dele o alvo de todos.
Naqueles mesmos que o querem salvar, não pode ver senão inimigos. "Vamos!, como arqueiros, apontai, desferi todos contra mim..."
Uma ameaça, para o final do drama, pesa sobre Creonte como sobre Antígona: é a solidão, escola e armadilha das almas ébrias de absoluto.
No entanto, não é à mesma solidão que Antígona e Creonte estão votados pela forma idêntica do seu carácter cortante.Deste extremo parentesco de caráter, aliás, nada há a tirar contra o fanatismo em si. A intolerância é, para todas as almas combativas, a forma necessária, e a única eficaz do seu combate.
Verdadeiramente, outra coisa, que não o caráter, conta na luta e define os seres: a qualidade da alma. Antígona e Creonte manifestam, no choque das suas vontades semelhantes, não apenas uma evidente identidade de caráter, mas uma qualidade de alma tão diferente que de repente nos surpreendemos de que tenham podido aproximar-se estes dois seres. Tanto quanto são talhados em arestas semelhantes os contornos do caráter, assim difere o conteúdo da alma. Esta diferença essencial permitirá a Antígona encontrar paradoxalmente na sua morte solitária o meio de escapar a essa solidão que de Creonte vivo fará presa sua.
Assim, nestas duas personagens, se desenham duas vontades de força igual, mas orientadas para pólos opostos. Duas vontades iguais e de sinal contrário.
Em Antígona há uma alma toda cheia de amor. Antígona. áspera de aparência, tem a doçura íntima de uma natureza de amante, como de amante tem o ardor. É uma ternura profunda, é um amor ardente, quase absurdo, que faz dela o que ela é, que põe nesta garota este furor de sacrifício, esta energia de homem, e a sua dureza e os seus desprezos. Porque a doçura torna-se dureza quando se ama, e o humilde serviço desprezo e desdém por tudo quanto não seja o amado. E o amor se torna ódio. Antígona odeia a quem quer que — sobretudo a terna Ismene, terna como ela — recuse segui-la lá aonde a leva o profundo impulso do seu amor.
Os mortos que ela amou, que ela continua a amar como vivos, viva ela, aqueles a quem incessantemente chama "os meus, meus bem-amados", são os senhores soberanos da sua alma. Entre todos, "o irmão bem-amado", esse irmão negado à paz da terra, negado às suas lágrimas, esse corpo vergonhosamente prometido aos animais, esse "caro tesouro" da sua alma, é o senhor a quem ela se deu toda, capaz só ele de a fazer amar a morte, de fazer-lhe, não aceitar, mas abraçar num movimento de profunda aiegria, de alegria misturada de lágrimas, mas tão intensa que para ela a dor se transforma em canto.
Como toda a paixão, este amor arde nela com uma labareda devoradora. No seu braseiro aniquilam-se enfim todos os seus outros amores, pálidos perante o brilho intenso da chama única. Os mais seguros, os mais experimentados — o de seu pai e o de sua mãe —, os mais desejados — o desse marido que Hémon não será, o dos filhos que ele não lhe dará nunca. Todos esses amores, é necessário que ela os esqueça e que, mesmo quando os chora, quando afirma a necessária ternura deles ao seu coração, chegue a renegá-los, porque um só amor enche todo o campo da sua alma, o amor de seu irmão; é necessário que a esse irmão único, insubstituível, ela leve, ao juntar-se-lhe na morte, a oferenda de um coração que não pode dividir-se. O absoluto da paixão, a sua tirania sem condições, afirma-se numa passagem singular que muitos modernos não compreenderam e cuja paternidade alguns — o próprio Goethe — tentaram ou desejaram retirar a Sófocles. É a passagem em que Antígona declara com veemência que o que fizera por seu irmão, o não faria nem por um marido nem por um filho. Porquê? Porque o irmão, diz ela, uma vez mortos os pais, é o único insubstituível. Detenhamos a nossa atenção. Não há aqui outra coisa que um sofisma do coração, uma dessas costumadas tentativas (muito costumadas no espírito grego) de fundar em razão o que é movimento primeiro da alma. Neste desvario de Antígona afirma-se, com toda a clareza, a extrema violência da paixão que a arrebata ao procedimento normal, que a leva à renegação de tudo quanto não seja o seu único objeto.
O irmão é o seu tudo. Liga-se a ele como a um amor que não pode acabar. Persegue-o na morte. É inseparável da sua duração. "É belo para mim morrer por ele... Repousarei junto de ti, meu bem-amado... Debaixo da terra, ficarei estendida para sempre".
Na verdade, não é nunca o seu cérebro, não é nunca um raciocínio ou um princípio que a conduzem, é sempre ao seu coração que ela segue, é a exaltação do sentimento que a lança na morte. Diz-lhe Ismene desde os primeiros momentos: "Coração que arde pela morte glacial." E ainda:
"Tu vais, querida e louca, fiel ao teu amor".Mas é a própria Antígona que define mais exatamente a sua natureza no verso cintilante em que proclama a sua recusa de odiar em Polinices o inimigo da sua terra: "Eu não nasci para partilhar o ódio, mas para partilhar o amor".
Pura natureza de amorosa, que não põe ao amor nenhuma condição, nenhuma restrição... Mas a densidade da expressão grega é aqui dificilmente traduzível. "Eu nasci", diz Antígona, "— é a minha natureza, o meu ser... — para partilhar o amor: para o dar e para o receber, para viver na comunhão do amor".
Não nos iludamos. O ato de Antígona é-lhe ordenado pela sua natureza antes mesmo de lhe ser prescrito pelos deuses. Nela, o amor está primeiro, "é de nascença". Se não amasse seu irmão, não descobriria em si essas leis divinas, eternas, não escritas, que lhe ordenam salvá-lo. Essas leis, não as recebeu ela de fora: são as próprias leis do seu coração. Digamos, pelo menos, que é pelo coração, no impulso do amor, que ela acede ao conhecimento da vontade divina, à claridade da exigência espiritual. Amor carnal, no sentido de que se trata do amor de um corpo. É ao amor do corpo fraterno que Antígona vai buscar toda a força de revolta que a levanta contra a vontade dos homens, toda a força de obediência que inteiramente a submete a Deus.
Reconheçamos o amor pelo poder de amplitude, pela sua força fecundante. Se é um Eros que manda Antígona ao suplício, e se este Eros, exclusivo e cioso como todo o Eros, parece fechar esta alma a tudo quanto não seja a salvação fraterna, não é também ele — Eros Gerador — que a fecunda com a mais alta realidade que há no mundo de Sófocles, a Palavra divina? Antígona traz consigo e mostra à luz do dia esta Palavra com uma irradiante segurança. A morte, para ela, nada é, agora que concebeu e amadureceu no amor este fruto esplêndido. Diz Antígona:
"Não são de hoje, nem de ontem, as leis dos deuses, são de sempre... Se eu morrer antes de tempo, sei que a morte é para mim um ganho... um mal que não conta. Desgraça teria sido deixar sem sepultura o filho de minha mãe... O resto é-me indiferente".
Indissolúveis são em Antígona o testemunho prestado à lei divina, o dom da sua vida, o amor de seu irmão.
Tal é o destino de Antígona no amor. Dele assume a vocação mortal e, se dele conhece a cegueira, colhe nele também essa lucidez do olhar que visa o centro do ser, essa autoridade de mensagem que o amor concede às almas mais altas.
Daí esse verso singular, já citado, quase incompreensível: "Eu não nasci para partilhar o ódio, mas para partilhar o amor".
Disse eu, e diz-se à saciedade, que este verso define Antígona, mas é evidente que a define ultrapassando-a. Porque temos também de observar que Antígona nem sempre conforma com ele os seus atos. Ela trai esta palavra quase profética, ao mesmo tempo que lhe permanece fiel. Há ali uma declaração que é arrancada ao devir de Antígona, ao para além de ela própria, pela natureza profunda de Antígona, ou antes, pelo seu devir, dela própria des conhecido. Uma palavra arrancada pela violência do conflito trágico ao próprio poeta. A sua personagem, neste rasgo, ultrapassa-o, ultrapassa também os séculos...
Em Antígona, tudo é amor, ou tudo o será. Em Creonte, tudo é amor-próprio, entendido no sentido clássico: amor de si mesmo.
Sem dúvida, Creonte, de uma certa maneira, ama os seus: sua mulher, seu filho, os seus súbditos. Mas ama-os sobretudo na medida em que eles manitestam e servem a sua força, instrumentos e argumentos do seu Eu. O que significa que os não ama. A infelicidade deles é-lhe indiferente, só a perda deles o fere. O seu ser é-lhe inteiramente inacessível. Não compreende nada nem ninguém fora de si mesmo, esse Si que completamente o ocupa, aliás sem por isso ver mais claro em si.
Todo o amor lhe está fechado. Todo o amor que diante de si se exprime, imediatamente o fecha. O de Ismene pela irmã, o de Hémon por Antígona. Amor não é para ele outra coisa que desrazão — fora da união carnal. Quando lhe perguntam se realmente mandará matar a noiva de seu filho, responde com uma completa grosseria que não é mais que uma total incompreensão do amor: "Ele encontrará outros ventres para lavrar".
Assim ignora o amor, e assim ignora o filho.
Creonte odeia e despreza o amor. Tem medo dele. Teme este dom que o obrigaria a abrir-se a outrem e ao mundo. Porque Creonte — e nisto atinge-nos num dos perigos de nós próprios — alimentou em si o gosto do poderio até ao ponto em que ele se inverte em impotência. Impressiona-nos que com todos os atributos do poder a ação de Creonte acabe por revelar-se pura impotência. Este homem traz em si autênticas verdades: a essencial esterilidade desta natureza rebelde ao amor toma infecundas essas verdades. Ao tomar a defesa da cidade, ameaçada pela traição de Polinices e pela indisciplina de Antígona, Creonte parece por um instante consagrar-se a um objeto que o excede. Na sua luta pela salvaguarda da ordem pública, no seu combate contra aqueles a quem chama. Hémon incluído, os anarquistas, Creonte dispõe, de começo, de todos os argumentos capazes de nos convencerem. Nós sabemos que a comu nidade precisa, num perigo extremo, de ser defendida contra as Antígonas. Sabemos que não há, na profissão de fé política que Creonte faz perante o seu povo, a menor hipocrisia. Mas também não há amor. A natureza de Creonte é, sm seu princípio, infecunda. Toda a verdade, de que ele se apresenta como honesto portador, se revela neste solo ingrato verdade cerebral, semente vazia.
Quando Creonte treme de cólera pela cidade posta em perigo, não será antes de medo que ele treme, de medo por si mesmo? O fundo deste grande rei é o medo. O medo sempre ligado à impotência. Em volta da sua pessoa, cada vez mais entrincheirada no medo. Creonte não vê senão inimigos e conspirações. A cidade fala-lhe claramente pela voz dos velhos: o medo fá-lo atrever-se a enfrentar estas advertências. Os deuses falam-lhe: o medo leva-o a horríveis blasfêmias, porque ele desconfia que os deuses de Tirésias se passaram para o campo dos adversários. À medida que a peça avança, a cortina de idealismo que ele descera entre si próprio e o povo, quando do seu discurso do trono, desvanece-se, frágil. Os acontecimentos obrigam-no a dizer claramente o que a si próprio escondia. Não é já a cidade que reclama o castigo dos traidores, é o terror que cresce e reina no seu Eu. Forçado no retiro onde se esquivava sob o véu de verdades não assumidas no compromisso do amor, o Eu afirma-se diante dos homens e dos deuses na sua medrosa nudez. O homem que se apresentava gloriosamente como defensor exemplar da comunidade não é mais. descoberto aos nossos olhos, que o Indivíduo puro.
Porque não amou senão o seu próprio poder, a sua única personagem, a ideia lisonjeira que de si mesmo fazia — mas seria isso amar? — . Creonte esta finalmente condenado à solidão. Filho, mulher, poder, tudo perde ao mesmo tempo. Ei-lo reduzido a esse pobre invólucro de si mesmo, que em vão inchara de falsa autoridade. Também Antígona — disse-o já — estava só no momento de abandonar a vida. Ninguém, nem sequer o coro, concedia lágrimas à sua sorte, na sua lenta caminhada para o túmulo onde ia ser enterrada viva. Contudo, a solidão patética de Antígona era apenas aparente. Solidão necessária a toda a criatura humana no seu último combate. Mas não solidão da alma. Antígona, mesmo nesse momento, tem consigo os seus mortos, o irmão bem-amado. O amor uniu-a à totalidade divina. Ao passo que Creonte, no centro desse círculo de piedade onde o poeta instala toda a criatura sofredora criada pelo seu gênio, surge reduzido à mais desértica solidão: os deuses que ele pretendia aliciar ferem-no, a cidade abandona-o, e os seus mortos — esse filho e essa mulher monstruosamente sacrificados à hipertrofia do seu Eu —, longe de serem no seu coração quentes presenças, uma vida querida e nutriente, nada mais são aos seus olhos, que procuram ainda apropriar-se deles, que cadáveres.
Contudo, este Creonte, este Creonte assustador e desolado, esta figura do erro humano, coloca-a também o poeta em nós, não apenas como uma advertência, mas como um ser fraterno. Ao longo de todo o drama, e, neste derradeiro minuto, com uma extrema densidade, Creonte viveu em nós como uma parte autêntica da nossa pessoa. Culpado, decerto, ele o é, mas demasia damente próximo dos nossos próprios erros para que pensemos em condená-lo do alio de qualquer princípio abstracto. Creonte faz parte da nossa experiência trágica. A sua maneira, ou no seu lugar, ele tinha razão e era preciso que agisse como agiu para que o poema de Sófocles pusesse em nós o seu fruto, que é o conhecimento integral que tomamos da nossa pessoa divina e do mundo em que é destino dela agir.
Somos, pois, ao mesmo tempo, Antígona e Creonte e o seu conflito. É este um dos rasgos mais claros do génio de Sófocles: fazer-nos participar da vida de cada uma das personagens de maneira tão íntima que a cada uma delas, no momento em que está diante de nós e se exprime, não podemos fazer outra coisa que dar-lhe razão. É que cada uma delas fala e vive em nós: nelas, é a nossa voz que ouvimos, a nossa vida que se descobre.
Sófocles não é um desses escritores que nos dizem grosseiramente: este tem razão, este não tem razão. O seu amor por cada um dos seres nascidos de si é tão forte que cada um deles tem razão no lugar que ocupa no mundo do poeta. A cada um deles aderimos como a um ser verdadeiro, duma verdade por nós próprios experimentada. Até o jovem soldado que. no momento em que fala, está contente por salvar a vida graças à captura de Antígona e se lamenta por entregá-la ao príncipe que a castigará — esse rapaz ingénuo tem razão plena em nós. Razão de salvar a pele e de estar contente por consegui-lo. E nós teríamos feito o que ele fez. Razão de ser fiel à sua natureza, que é uma parte importante de toda a natureza de homem. Razão sobre a terra firme onde todos estamos postos. E a instável Ismene também tem razão de ser simplesmente e puramente, contra a viril Antígona, uma tema natureza de fraca mulher, sábia na sua fraqueza conhecida e consentida e de súbito tão forte como sua irmã, no seu brusco ardor de sacrifício.E se Antígona tem razão, supremamente razão no zénite da tragédia, a essa altura do heroísmo puro a que a sua natureza lhe permite subir e para que nos convoca, também Creonte contra ela e em nós tem razão, praticamente razão, ao nível necessário da política, no plano constrangedor da cidade em guerra. Mesmo levados pelo desenrolar do drama a não dar razão a Creonte por ter confundido o seu prestígio e o bem do Estado e apenas por isto, não nos desligamos humanamente dele: o se,u erro é por demais natural, por demais inscrito na natureza perigosa da ação política, para que o não confessemos como uma parte de nós próprios. Sabemos, aliás, com Creonte, que tudo é legítimo para o poder, na comunidade posta em perigo pela "anarquia" de uma Antígona que é a do Espírito que sopra perigosamente onde quer. Sabemos também obscuramente e é essa a desgraça das cidades –, que, as mais das vezes, são os Creontes que as defendem. São feitos para esta tarefa. Melhor ou pior, eles a fazem: nela se sujam, nela se perdem, porque poucas tarefas há que exponham mesmo um bom operário a mais ingratos erros. Através destes erros, os Creontes guardam contudo a sua natureza – baixa, porque não se salvam os Estados com nobres pensamentos, mas com atos rudes e grosseiros – uma espécie de fidelidade. Esta ligação, na nossa vida, da ação à baixeza conhecemo-la, como uma necessidade da nossa condição, uma das partes mais pesadas da nossa natureza. Somos feitos do tosco barro de Creonte – para quê contestá-lo? muito antes de sermos animados pela viva labareda de Antígona. A região menos confessada do prazer trágico, aquela que exige da parte do poeta um incrível esforço de arte e de amor, é essa piedade lúcida, essa corajosa confissão de fraternidade que de nós arranca para com os "maus". Seria fácil lançá-los fora de nossa alma. Mas a verdade da arte e o nosso prazer são a este preço: é preciso que as confessemos.
Assim Sófocles acorda as figuras adormecidas do nosso ser. Faz falar as nossas vozes mudas. Traz à claridade da consciência a nossa secreta complexidade. Tudo o que se procurava em nós e se estreitava envergonhadamente na escuridão, agora se conhece e combate a rosto descoberto. O conflito das personagens é o nosso e põe-nos em perigo. O desenlace faz-nos tremer. Mas também trememos de alegria, deslumbrados de prazer por ver assim postas a luz do dia as riquezas inexploradas da nossa vida possível. Pois é bem o tesouro do nosso possível que o poeta desdobra do combate. Mas o poeta trágico instala em plena luz esta desordem da nossa vida interior e do mundo precisamente para dela tirar a ordem. Do conflito trágico propõe-se ele tirr um prazer mais alto que a simples enumeração das nossas riquezas: o da sua disposiçnao e da sua valorização. Chocando um contra o outro os temas trágicos que nos dilaceram, e sem nada deixar perder das nossas riquezas recuperadas, compõe finalmente, para nossa sedução, a magia de uma música que, exprimindo-nos inteiramente, nos forma e nos arrasta para novos combates.
A tragédia Antígona visa pois a ordenar as figuras do nosso ser em um equilíbrio em que o nosso mundo interior, espelho do conjunto das coisas, se continua e se explica. A operação trágica e o prazer que ela nos dá resolvem em harmonia os valores antagonistas que as personagens nos propõem. Valores de um certo ângulo, mais largo ou mais estreito, todos válidos, mas que a arte do poeta, depois de os ter feito jogar um contra o outro, experimentar um pelo outro, coloca e hierarquiza um em relação ao outro. Assim teremos um após outro, ou antes, um no outro, o prazer da complexidade da vida, da riqueza do nosso ser e o da sua unidade, do seu "sentido". O prazer de possuir toda a nossa vida na profusão das suas tendências e o de escolher a sua "direcção".
Valores, pois. modos de vida válidos se propõem e parecem tatear-se um ao outro, até que encontrem em nós o seu movente equilíbrio. Creonte e Antígona são como duas zonas da vida humana que se buscam para se apoiarem uma na outra e que finalmente se graduam.
Em Creonte é-nos proposta uma ordem em que o Estado se situaria no cume do pensamento e dirigiria toda a ação. Para Creonte, a cidade impõe aos vivos o seu serviço e é a sua conduta cívica que regula a sorte dos mortos. Honrar Polinices. diz Creonte. seria ultrajar Etéocles. Creonte crê nos deuses, mas os seus deuses vergam-se estritamente a esta ordem cujo pólo é cívico: estão, como os homens, comprometidos no serviço do Estado. Creonte está fechado a deuses que não tenham por primeira função assegurar a estabilidade do Estado e por consequência punir os rebeldes. Quando Tirésias lhe faz entender a linguagem dos deuses, que são outra coisa que não isto, blasfema. Deuses e sacerdotes são funcionários, ou não o são. Os deuses estão nacionalizados (como tantos outros na história). Defendem fronteiras. Honram o soldado que cai ao defender as mesmas fronteiras que eles. Castigam quem quer que, fora ou dentro — Polinices ou Antígona — . se recuse a conhecer a ordem estabelecida e garantida por eles, a autoridade suprema do Estado...
O limite da ordem de Creonte é o fascismo.
Frente a este mundo de Creonte, em que tudo está no Estado, eis, mais vasto, o cosmos de Antígona. Ao passo que Creonte submete o homem e os deuses, e todo o valor espiritual, à ordem política e nacional, Antígona, sem negar os direitos do Estado, limita-os. Os decretos de um homem, diz ela, desse homem que fala em nome do Estado, não podem prevalecer sobre as leis eternas de que a consciência é depositária. Antígona não contesta a lei dos homens, mas afirma a existência duma realidade superior que, a ela, lhe foi revelada no amor que dedicava a seu irmão. A esta realidade imediatamente mscrita na sua consciência, sem livro nem sacerdote — "lei não escrita", precisa — , considera Antígona que deve submeter-se a ordem política, pelo menos nesta circunstância precisa que foi para ela a ocasião desta tomada de consciência.
Este dado da consciência é um absoluto: a distinção entre o bem e o mal. tal como a define a ordem política, apaga-se diante dele. A Creonte que se indigna: "Mas deverá o homem de bem ter a mesma sorte que o criminoso?" Antígona responde claramente: "Quem sabe se as vossas fronteiras têm sentido entre os mortos?" Verdadeiramente. Antígona — e é muito importante notá-lo — não contesta a Creonte o direito de a condenar à morte. Limita-se a manifestar, pela sua morte livremente escolhida, o primado da ordem espiritual, que ela encarna, sobre a ordem política. Nada mais, mas nada menos também. Na sua alma aprendeu ela uma realidade: ao morrer, testemunha que esse bem é superior à vida.
Assim, enquanto a ordem de Creonte tende a negar Antígona e se esforça por aniquilá-la, Antígona, em contrapartida, não nega Creonte e, se Creonte é o Estado, não contesta a legitimidade da sua existência. Antígona não nos tira esse Creonte que nós reconhecemos como parte do nosso ser. Não o aniquila, antes o coloca no seu lugar, o classifica. Grande é o nosso prazer ao sentirmos que nada do que na nossa natureza pede para viver é abafado ou mutilado pelo desenvolvimento e desenlace do conflito trágico, mas antes ajustado e harmonizado. Este conflito Antígona-Creonte, apoiado pela presença de valores secundários, mas todos autênticos e preciosos, que as outras personagens propunham, não se resolve, com efeito — apesar do sangue dos suicídios e dos gritos do desespero — , em destruição dos laços que possuíamos em cada um desses seres opostos: todas as personagens permanecem vivas e princípios de vida nesta harmonização recíproca a que as vergam o génio do poeta e a soberania da sua criatura eleita — Antígona. Porque esta Antígona, repudiada por todos ou separada de todos, é finalmente por todos confessada como rainha e senhora de suprema verdade.
Nesta harmonia que a tragédia faz nascer em nós, nada nos enche de mais profunda alegria que o triunfo de Antígona sobre Creonte, que a certeza da verdade de Antígona em relação a Creonte.
Antígona é liberdade, Creonte é fatalidade: é aqui que está o sentido do drama e o eixo do nosso prazer.
Antígona é o penhor do primado da alma livre sobre as forças de servidão que a cercam.
Antígona é uma alma livre que recebeu o dom da liberdade no comprome timento do amor. Em todos os momentos do drama acompanhamos o seu irresistível impulso para um infinito de liberdade. Na sua essência, ela parece anárquica. Ela o é, e nisso Creonte não se engana — pelo menos numa sociedade em que o poder não conhece o seu domínio e o seu limite. O que é o mesmo que dizer que Antígona é «anarquista» numa sociedade anárquica. De resto, em todas as sociedades históricas, a liberdade da pessoa chocou sempre, até aqui, com a autoridade do Estado. Existe uma necessidade da comunidade, existe uma fatalidade da sociedade. Creonte recorda-o com rigor. Ele próprio é a expressão dela, no que essa ordem pública tem de necessário, de rigoroso e, por vezes, de ofensivo.
Na sociedade histórica em que Antígona nasceu, e na nossa ainda. Antígona tem de morrer. Mas a alegria que por esta morte experimentamos seria comple tamente inexplicável se ela não significasse que a exigência fundamental de liberdade que ela manifesta está em acordo, como Antígona o declara, com as leis secretas que regem o universo. A sua morte não é mais que um modo da sua existência transferida em nós. Ela é o princípio da nossa libertação em relação à ordem de fatalidade que ela combateu. A sua morte condena a ordem de Creonte. Não a ordem de todo o Estado, mas todo o Estado cuja ordem ofusque a livre respiração da nossa pessoa. Graças a Creonte, sabemos, melhor ou pior, que o cidadão é solidário da sorte da comunidade, que esta tem direitos sobre ele, que ele deve defendê-la, se ela merece ser defendida, e que a sua vida — não a sua alma — lhe pertence em caso de necessidade. Mas sabemos também, graças a Antígona, que num Estado que falta à sua tarefa, o indivíduo dispõe duma força revolucionária ilimitada, à qual vem associar-se o jogo das leis secretas do universo. Se, por outro lado, a força explosiva da alma, reprimida no impulso da sua liberdade, tende à destruição das fatalidades que a oprimem, a sua acção, longe de ser puramente destrutiva, é geradora de um mundo novo. Se a sociedade, tal como está feita, ainda entregue à pressão das forças trágicas, não pode deixar de esmagar as Antígonas, a existência das Antígonas constitui precisamente a promessa e a exigência duma sociedade nova, refeita à medida da liberdade do homem, uma sociedade em que o Estado, reconduzido ao seu justo papel, não será mais que o garante das liberdades desabrochadas, uma sociedade em que Creonte e Antígona, reconciliados na história como o estão já no nosso coração, assegurarão pelo seu equilíbrio o livre florescimento da nossa pessoa no seio duma comunidade razoável e justa.
É numa tal promessa que se enraíza profundamente o prazer trágico. As mais altas tragédias a contêm e a explicitam. Entre todas, Antígona.
O prazer que a tragédia nos dispensa não é pois somente repouso em nós de um conflito de tendências contrárias, postas à luz pelo espectáculo, conflito saneado e apaziguado pela claridade salubre da consciência. É também tensão nova: estas forças vitais que se contrariavam em nós. passa o prazer a conjugá-las num feixe de energias tendidas para a conquista e o gozo desse mundo novo prometido pelo poeta.
E já nessa terrível narrativa em que conhecemos a morte de Antígona, nesse supremo minuto do drama em que Creonte cai sobre o corpo do filho, se a atroz visão da rapariga enforcada, se a nudez do desespero de Creonte nos inundam de alegria, é porque uma certeza nos trespassa, é porque uma violenta confiança em nós próprios nos levanta frente ao destino: sabemos que nesse minuto da tragédia um mundo humano começou a nascer, um mundo onde nenhuma Antígona será jamais condenada ao suplício, nenhum Creonte mergulhará no embrutecimento da dor, porque o homem, empunhando a espada que o dividia e agora igual à fatalidade, terá vencido as forças trágicas.

Entre as criações do povo grego, a tragédia é talvez a mais alta e a mais ousada. Produziu ela algumas obras-primas inigualadas, cujo fundo, enraizado no medo das nossas entranhas, mas também florescendo na esperança do nosso coração, se exprime em uma beleza perfeita e convincente. O nascimento da tragédia, por meados do século V - no limiar da época clássica , está ligado a condições históricas que convirá recordar, embora de maneira breve, se quisermos apreender o sentido da orientação deste gênero novo. Por um lado, a tragédia grega retoma e prossegue o esforço da poesia anterior para por de acordo o mundo divino com a sociedade dos homens, humanizando ainda mais os deuses. Apesar do desmentido que lhe da a realidade quotidiana e a despeito da tradição do mito, a tragédia grega exige com veemência que os deuses sejam justos e façam triunfar a justiça neste mundo. Por outro lado, é também em nome da justiça que o povo dos Atenienses continua a travar uma luta duríssima, no plano da vida politica e no plano da vida social, contra os possidentes que são também os seus dirigentes, para lhes arrancar enfim a plena igualdade de direitos entre cidadãos - aquilo a que chamará regime democrático. É no decurso do ultimo período destas lutas que a tragédia surge. Pisistrato, levado ao poder pela massa dos camponeses mais pobres, é que ajuda o povo na conquista da terra, institui nas festas em honra de Dioniso concursos de tragédia destinados ao prazer e a formação do povo dos cidadãos.
Passava-se isto uma geração antes de Esquilo. Essa tragédia primitiva, ainda pouco dramática, ao que parece, e indecisa entre o riso lascivo dos sátiros e o prazer das lagrimas, encontra em um acontecimento imprevisto a sua escolha, a escolha da gravidade é aceita corajosamente o peso dessa gravidade, que doravante a define: escolhe como seu objeto próprio o encontro do herói e do destino, com os riscos e os ensinamentos que ele implica. Esse acontecimento que deu a tragédia o tom "grave", tom que não era o da poesia ática imediatamente anterior, foi a guerra persa, a guerra de independência que o povo ateniense sustentou por duas vezes contra o invasor persa. O combatente de Maratona e de Salamina, Esquilo, sucede a Anacreonte, espirito conceituoso e poeta de corte.
Esquilo é um combatente, refunda a tragédia, tal como a conhecemos, senhora dos seus meios de expressão. Mas funda-a como um combate. Todo o espetáculo trágico é, com efeito, o espetáculo de um conflito. Um "drama" , dizem os Gregos, uma ação. Um conflito cortado de cantos de angustia, de esperança ou de sabedoria, por vezes de triunfo, mas sempre, é ate nos seus cantos líricos, uma ação que nos deixa ofegantes, porque nela participamos, nós, espectadores, suspensos entre o temor e a esperança, como se se tratasse da nossa própria sorte: o choque de um homem de quatro côvados (de dois metros), diz Aristófanes, de um herói contra um obstáculo dado como intransponível, e que o é, a luta de um campeão que parece ser o campeão do homem, o nosso campeão, contra uma força envolvida de mistério - uma força que quase sempre, com ou sem razão, esmaga o lutador.
Os homens que conduzem esta ação não são "santos", embora ponham o seu recurso em um deus justo. Cometem erros, a paixão perde-os. São arrebatados e violentos. Mas tem, todos eles, algumas grandes virtudes humanas.
Todos, a coragem; alguns o amor da terra, o amor dos homens; muitos, o amor da justiça e a vontade de a fazer triunfar. Todos, ainda, estão possuídos de grandeza.
Não são santos, não são justos: são heróis, isto é, homens que, no ponto mais avançado da humanidade, ilustram, pela sua luta, ilustram em atos, o incrível poder do homem de resistir a adversidade, de transformar o infortúnio em grandeza humana e em alegria - para os outros homens, e antes de mais para os homens do seu povo.
Há neles qualquer coisa que exalta em cada um dos espectadores a quem o poeta se dirige, que exalta ainda em nós o orgulho de ser homem, a vontade e a esperança de o ser cada vez mais, alargando a brecha aberta por estes ousados campeões da nossa espécie no espago murado das nossas servidões.
"A atmosfera trágica", escreve um critico, "existe sempre que eu me identifico com a personagem, sempre que a ação da peça se torna a minha ação, quer dizer, sempre que eu me sinto comprometido na aventura que se joga... Se digo 'eu', é o meu ser inteiro, o meu destino inteiro que entra em jogo".
Contra quem se bate afinal o herói trágico? Bate-se contra os diversos obstáculos com os quais esbarram os homens na sua atividade, os obstáculos que dificultam a livre florescência da sua pessoa. Bate-se para que não se de uma injustiça, para que não se de uma morte, para que o crime seja punido, para que a lei de um tribunal vença o linchamento, para que os inimigos vencidos nos inspirem fratemidade, para que as liberdades dos deuses, se tem de ser incompreensível para nós, não ofenda ao menos a nossa liberdade. Simplifiquemos: o herói trágico bate-se para que o mundo seja melhor ou, se o mundo tem de continuar a ser o que é, para que os homens tenham mais coragem e serenidade para viver nele.
E ainda mais: o herói trágico bate-se com o sentimento paradoxal de que os obstáculos que encontra na sua ação, sendo intransponíveis, tem de ser transpostos, pelo menos se quiser alcançar a sua própria totalidade, realizar essa perigosa vocação de grandeza que traz em si, isto sem ofender o que subsiste ainda no mundo divino de crume (nemesis), sem cometer o erro da desmedida (hybris).
O conflito trágico é pois uma luta travada contra o fatal, cabendo ao herói afirmar e mostrar em ato que o fatal não o é ou não o será sempre. O obstáculo a vencer é posto no seu caminho por uma força desconhecida sobre a qual não tem domínio e a que, desde então, chama divina. O nome mais temível que dá a esta força é o de Destino.
A luta do herói trágico é dura. Por mais dura que seja, e ainda que de antemão pareça condenado o esforço do herói, lança-se nela - e nós, publico ateniense, espectador moderno, estamos com ele. É significativo que este herói condenado pelos deuses não seja humanamente condenado, quer dizer, condenado pela multidão dos homens que assistem ao espetáculo. A grandeza do herói trágico é uma grandeza ferida: quase sempre ele morre. Mas essa morte, em vez de nos desesperar, como esperaríamos, para além do horror que nos inspira, enche-nos de alegria. Assim acontece com a morte de Antígona, de Alcestes, de Hipolito, e de muitos outros. Ao longo do conflito trágico, participamos da luta do herói com um sentimento de admiração e, mais, de estreita fratemidade. Esta participação, esta alegria, só podem significar uma coisa - uma vez que somos homens: e que a luta do herói contém, até na morte-testemunho, uma promessa, a promessa de que a ação do herói contribui para nos libertar do Destino. A não ser assim, o prazer trágico, espetáculo do nosso infortúnio, seria incompreensível.
A tragédia emprega pois a linguagem do mito e esta linguagem não é simbólica. Toda a época dos dois primeiros poetas trágicos, Esquilo e Sófocles, é profundamente religiosa. Crê na verdade dos mitos. Crê que no mundo divino que apresenta ao povo subsistem forças opressivas que parecem votar a vida humana ao aniquilamento. O destino, por exemplo, como disse. Mas em outras lendas é o próprio Zeus, representado como tirano brutal, déspota hostil à humanidade, que desejaria destruir a espécie humana.
Estes mitos, e outros, muito anteriores ao nascimento da tragédia, é dever do poeta interpretá-los e faze-lo em termos de moral humana. Essa é a função social do poeta quando fala, nas Dionísias, ao seu povo de Atenas. Aristófanes, à sua maneira, confirma-o pela voz de dois grandes poetas trágicos, Eurípedes e Esquilo, a quem põe em cena, e que, adversários na sua comedia, se entendem pelo menos na definição do poeta trágico e no objetivo que ele se deve propor. Em que deve ser admirado um poeta?... No fato de tornarmos melhores os homens nas cidades.,, (E a palavra " melhores" significa mais fortes, mais adaptados ao combate da vida.) A tragédia afirma a sua missão educadora.
Na época de Esquilo, o poeta trágico não considera ter o direito de corrigir os mitos, menos ainda reinventá-los à sua vontade. Mas estes mitos são contados com numerosas variantes. Entre essas variantes da tradição popular ou da tradição dos santuários, Esquilo escolhe. Esta escolha tem de ser feita no sentido da justiça, e ele assim o faz. Razão porque o poeta educador do seu povo escolhe as lendas de mais difícil interpretação, aquelas que parecem trazer mais claro desmentido a Justiça divina. São essas, com efeito, que mais o perturbam e que perturbam a consciência do seu povo. São as lendas trágicas, aquelas que fariam desesperar de viver, se o trágico não pudesse ser, no fim de contas, resolvido em justa harmonia.
Mas porque essa exigência, sempre dificilmente satisfeita, de justiça divina? Porque o povo ateniense traz na sua carne as feridas do combate que sustentou, que ainda sustenta pela justiça humana.
Se, como muitos o pensam hoje, a criação poética, a literatura não são outra coisa que o reflexo da realidade social (pode o poeta ignora-lo, mas não é isso que importa), a luta do herói trágico contra o Destino não é mais que a luta, exprimida na linguagem do mito, conduzida pelo povo, do século VII ao século V, para se libertar das violências sociais que o oprimem ainda no momento em que a tragédia nasce, no momento também em que Esquilo é o seu segundo e antético fundador.
É no decurso desta luta secular do povo ateniense pela igualdade politica e pela justiça social que se instala, na festa mais popular de Atenas, a representação dessa outra luta do herói contra o Destino, que constitui o espetáculo trágico.
Na primeira destas lutas, de um lado está o poderio de uma classe nobre ou rica, em todo o caso impiedosa, que possui ao mesmo tempo a terra e o dinheiro e que conduz a miséria o povo dos pequenos camponeses e dos artífices, que ameaça enfim desagregar a própria existência da comunidade. Frente a ela, a poderosa vitalidade de um povo que quer viver, que exige que a justiça seja igual para todos, que o direito seja o novo laço que assegurara a vida de cada homem e a existência da cidade.
A segunda luta, imagem da primeira, e a de um Destino brutal, arbitrário e assassino e de um herói maior que nós, mais forte e mais corajoso que nós, que bate para que haja entre os homens mais justiça e humana bondade, e para ele a gloria.
Há um ponto do espaço e do tempo em que estas lutas paralelas convergem e se reforçam. O momento é o das duas festas primaveris de Dioniso; o lugar o teatro do deus, no flanco da acrópole da cidade. Ai o povo inteiro se reúne para ouvir a voz dos seus poetas, que, ao mesmo tempo que lhe explicam os mitos do passado, considerados historia, o ajudam na luta para continuarem a fazer historia, a longa luta da sua emancipação. O povo sabe que os poetas dizem a verdade: e a sua função própria instrui-lo nela.
No começo do século v - principio da era clássica - a tragédia apresenta-se ao mesmo tempo como uma arte conservadora da ordem social e como uma arte revolucionaria. Uma arte conservadora da ordem social no sentido de que permite a todos os cidadãos da cidade resolver em harmonia, no mundo fictício para onde os conduz, os sofrimentos e os combates da vida quotidiana de cada homem do povo. Conservadora, mas não mistificadora.
Mas este mundo imaginário é a imagem do mundo real. A tragédia só dá a harmonia despertando os sofrimentos e as revoltas que apazigua. Faz mais do que dá-la, no prazer, ao espectador, enquanto o espetáculo dura, promete-a ao devir da comunidade, intensificando em cada homem a recusa de aceitar a injustiça, intensificando a vontade de lutar contra ela. No povo que a escuta com um coração unanime, a tragédia reúne todas as energias de luta que ele traz em si. Neste sentido, a tragédia não é já conservadora, mas ação revolucionária.
Apresentamos alguns exemplos concretos.
Eis a violenta luta de Prometeu Agrilhoado, tragédia de Esquilo, de data desconhecida (entre 460 e 450). Esquilo crê na Justiça divina, crê em um Zeus justo. De uma justiça que é, muitas vezes, obscura. O poeta escreve, em uma tragédia anterior a Prometeu:
"Não é fácil conhecer o desígnio de Zeus. Mas eis que em todos os lugares Ele flameja de súbito no meio das trevas... Os caminhos do pensamento divino seguem para o seu destino por entre espessas sombras que nenhum olhar poderia penetrar".
É preciso que Esquilo explique ao seu povo como, na obscuridade do mito de Prometeu, "flameja de súbito, a justiça de Zeus".
Prometeu é um deus cheio de bondade para com os homens. Muito popular na Ática, e, com Hefesto, o padroeiro dos pequenos artífices, nomeadamente desses oleiros do Cerâmico que faziam em parte a riqueza de Atenas. Não só dera aos homens o fogo, como inventara para eles os ofícios e as artes. Em honra deste deus venerado pelos Atenienses, a cidade celebrava uma festa na qual era disputada uma corrida de estafetas, por grupos, servindo de testemunho um archote.
Ora, é a este "benfeitor dos homens", a este deus "Amigo dos Homens", que Zeus pune pelo beneficio de que ele foi autor. Fá-lo agrilhoar por Hefesto, compadecido mas vigiado pelos servidores de Zeus, Poder e Violência, cuja linguagem cínica corresponde a horrenda figura que tem. O Titã é cravado a uma muralha de rochedos no deserto de Citia, longe das terras habitadas, e assim ficará até que se resigne a reconhecer a "tirania" de Zeus. É esta a cena impressionante que abre a tragédia. Prometeu não pronuncia uma única palavra na presença dos seus carrascos.
Como é isto possível? Sem duvida Esquilo não ignora que, "roubando o fogo", privilegio dos deuses, Prometeu se tornou culpado de uma falta grave. Mas desta falta nasceu para os homens o alivio da sua miséria. Um tal mito enche Esquilo de angustia trágica. Sente amagada a sua fé em um Zeus justo - Zeus, senhor e sustentáculo da ordem do mundo. Mas não foge a nenhuma das dificuldades do assunto que decidiu olhar em frente. E, assim, escreve toda a sua tragédia contra Zeus.
O Amigo dos Homens (o 'Filantropo', como diz Esquilo, inventando uma palavra em que se exprime, na sua novidade verbal, o amor de Prometeu pela humanidade) é pois abandonado à solidão, em um deserto onde não ouvira "voz humana" nem verá "rosto de homem", nunca mais.
Mas estará realmente sozinho? Repudiado pelos deuses, inacessível aos homens, ele está no seio da natureza, de que é filho. Sua mãe chama-se ao mesmo tempo Terra e Justiça. É a esta natureza, em que os Gregos sempre sentiram a presença escondida de uma vida poderosa, que Prometeu se dirige, em um canto lírico em uma poesia esplendorosa e intraduzível. Ele diz:
"Espaços celestes, rápida corrida dos ventos, Fontes dos rios, riso inumerável, Das vagas marinhas, Terra, mãe comum, Eu vos invoco, invoco a Roda do Sol, Olhar do mundo, apelo para que vejam O que sofro dos deuses - eu, deus...".
Mais adiante, diz a razão do seu suplicio:
"Se, misero, estou ligado a este jugo de necessidade, Foi porque aos mortais fiz o dom mais precioso. Na haste oca do nartecio Escondi o produto da minha caçada, A fonte do Fogo, a Centelha, O Fogo que para os homens se revelou Senhor de todas as artes, Estrada sem fim...".
Neste momento, ergue-se uma musica: a natureza invocada responde ao apelo de Prometeu. É como se o céu se pusesse a cantar. O Titã vê aproximar-se pelos ares o coro das doze filhas do Oceano. Do fundo das aguas, ouviram o lamento de Prometeu e vem compadecer-se da sua miséria. Abre-se um dialogo entre a piedade e a raiva. As Oceanidas trazem as suas lagrimas e os seus tímidos conselhos de submissão à lei do mais forte. Prometeu recusa submeter-se à injustiça. Revela outras iniquidades do senhor do mundo. Zeus, que fora ajudado pelo Titã na luta para conquistar o trono do céu, só ingratidão manifestou a Prometeu. Quanto aos mortais, Zeus pensava exterminar-lhes a raça, "para fabricar uma outra, nova", se o Amigo dos Homens não se tivesse oposto ao projeto. E o amor que manifesta para com o povo mortal que hoje lhe vale o suplicio. Prometeu sabia-o: conhecendo as consequências, aceitando de antemão o castigo, deliberou cometer a falta.
Contudo, nesta tragédia que parece, pelo seu terra e pelo seu herói preso ao rochedo, inteiramente votada ao patético, Esquilo achou maneira de introduzir uma ação, um elemento dramático: deu a Prometeu uma arma contra Zeus. Esta arma é um segredo que ele recebeu de sua mãe, e esse segredo interessa à segurança do senhor do mundo. Prometeu só entregara o segredo em troca da promessa da sua libertação. Entregá-lo-á ou não? Zeus obrigá-lo-á a isso ou não? Tal é o nó da ação dramática. Como, por outro lado, Zeus não pôde aparecer em cena, o que diminuiria a sua grandeza, o combate de Prometeu contra ele trava-se através dos espaços celestes. Do alto do céu, Zeus ouve as ameaças de Prometeu contra o seu poder: treme. As ameaças tornam-se mais claras com algumas palavras que Prometeu deixa voluntariamente escapar, aflorando o seu segredo. Ira Zeus desferir o raio? Ao longo de todo o drama, a sua presença é-nos sensível. Por outro lado, passam diante do rochedo de Prometeu personagens que mantem com Zeus relações de amizade, de ódio ou de servilidade e que, depois dos lacaios Força e Poder do começo, acabam de no-lo dar a conhecer na sua perfídia e na sua crueldade.
No centro da tragédia, em uma cena capital já conhecida do leitor desta, cena que precisa e alarga o alcance do conflito, Prometeu enumera invenções de que fez beneficiar os homens. Não é Já aqui, como o era no mito primitivo que o poeta herdou, apenas o roubador do fogo, e o gênio criador da civilização nascente, confunde-se com o próprio gênio do homem ao inventar as ciências e as artes, ao ampliar o seu domínio sobre o mundo. O conflito Zeus-Prometeu toma um sentido novo: significa a luta do homem contra as forças naturais que ameaçam esmagá-lo. Conhecem-se essas conquistas da civilização primitiva: as casas, a domesticação dos animais, o trabalho dos metais, a astronomia, as matemáticas, a escrita, a medicina.
Prometeu revelou ao homem o seu próprio gênio.
Ainda aqui a peça é escrita contra Zeus: os homens - por eles entendo sempre os espectadores, que e missão do poeta educar - não podem renegar o benfeitor e dar razão a Zeus, sem renegar a sua própria humanidade. A simpatia do poeta pelo Titã não cede. O orgulho de Prometeu por ter levantado o homem da ignorância das leis do mundo ao conhecimento delas e a razão, é partilhado por Esquilo. Sente-se orgulhoso por ser da raça dos homens e, pelo poder da poesia, comunica-nos esse sentimento.
Entre as figuras que desfilam diante do rochedo de Prometeu, escolherei apenas a da infeliz lo, imagem cruel e tocante. Seduzida por capricho amoroso do senhor do céu, depois covardemente abandonada e entregue ao suplicio mais atroz, Io delirante é a vitima exemplar do amor de Zeus, como Prometeu era a vitima do seu ódio. O espetáculo do sofrimento imerecido de lo, em vez de levar Prometeu a temer a cólera de Zeus, só serve para exasperar a sua raiva.
É então que, brandindo mais abertamente como uma arma o segredo de que é senhor e atacando Zeus, lança o seu desafio através do espago:
"A vez de Zeus chegará!
Orgulhoso como é hoje,
Um dia se tornara humilde.
A união que se prepara para celebrar
O deitara abaixo do trono
E o fará desaparecer do mundo.
A maldição de que Crono, seu pai,
O amaldiçoou, no dia em que foi expulso
Da antiga realeza do ceu...
So eu sei o seu futuro, só eu posso ainda conjura-lo.
Que se recoste por agora no seu trono,
Confiante no estrondo do trovão,
Brandindo na mão o dardo de fogo.
Nada o impedira de cair de vergonhosa queda,
Tão poderoso será o adversário que ele se prepara para engendrar,
Ele contra si mesmo,
Gigante invencível, Inventor de um raio mais poderoso que o seu E
de um fragor que cobrirá o do seu trovão...
No dia em que a desgraça o atingir,
Saberá então qual a distancia
Que separa a realeza da escravatura."
Mas Prometeu só descobriu uma parte do seu jogo. O nome da mulher perigosa para Zeus (e Zeus não costuma privar-se de seduzir os mortais), guarda-o ele para si.
O golpe de Prometeu atinge o alvo. Zeus tem medo e riposta. Envia o seu mensageiro, Hermes, a intimar Prometeu que lhe de o nome. Se o não fizer, piores castigos o esperam. O Titã troça de Hermes, chama-lhe macaco e lacaio, recusa entregar o seu segredo. Hermes anuncia-lhe então a sentença de Zeus. Prometeu espera com altivez a catástrofe que irá traga-lo no desastre do universo.
Então o mundo começa a vacilar, e Prometeu responde:
"Eis finalmente os atos, não já palavras.
A terra dança debaixo dos meus pés.
O fogo subterrâneo uiva nas profundidades.
Em sulcos abrasados cai o raio deslumbrante.
Um ciclone levanta a poeira em turbilhoes.
O furor dos ventos divididos lança-os uns contra os outros.
O céu e o mar confundem-se.
Eis o cataclismo que Zeus,
Para me amedrontar, lança contra mim!
O Majestade de minha mãe,
E vos, espaços celestes, que rolais em volta do mundo
A luz, tesouro comum de todos os seres,
Vede as iniquidades que Prometeu suporta".
Prometeu está derrubado, mas não vencido. Amamo-lo ate ao fim, não só pelo amor que nos manifesta, mas pela resistência que opõe a Zeus.
A religião de Esquilo não é uma piedade feita de hábitos passivamente aceitos: não é naturalmente submissa. A condição miserável do homem revolta o poeta crente contra a injustiça dos deuses. O infortúnio da humanidade primitiva torna-lhe plausível que Zeus, que o permitiu, tenha concebido o pensamento de aniquilar a espécie humana. Sentimentos de revolta e de ódio contra as leis da vida existem em toda a personalidade forte. Esquilo liberta magnificamente estes sentimentos, em deslumbrante poesia, na pessoa de Prometeu com a sua própria revolta contra a vida.
Mas a revolta é apenas um instante do pensamento de Esquilo. Uma outra exigência, igualmente imperiosa, existe nele, uma necessidade de ordem e de harmonia. Esquilo sentiu o mundo não como um jogo de forças anárquicas, mas como uma ordem que compete ao homem, ajudado pelos deuses, compreender e regular.
Por isso, depois da peça da revolta, Esquilo escreveu para o mesmo espetáculo a peça da reconciliação, o Prometeu Libertado. O Prometeu Agrilhoado fazia parte, com efeito, daquilo a que os Gregos chamavam trilogia ligada, isto é, um conjunto de três tragédias ligadas por uma unidade de pensamento e de composição. As duas outras peças da trilogia perderam-se. Sabemos apenas que ao Prometeu Agrilhoado se sucedia imediatamente o Prometeu Libertado. (Da terceira parte, que abria ou acabava a trilogia, nada sabemos de seguro.) Acerca do Prometeu Libertado possuímos algumas informações indiretas. Temos também alguns fragmentos isolados.
O suficiente para admitir que Zeus aceitava renunciar ao capricho pela mulher cujo nome Prometeu possuía. Fazia este ato de renuncia para não lançar o mundo em novas desordens. Tornava-se por isso digno de continuar a ser senhor e guardião do universo.
Desta primeira vitória, alcançada sobre si próprio, resultava uma outra: Zeus renunciava à sua cólera contra Prometeu, dando assim satisfação a Justiça. Prometeu fazia, por seu lado, ato de submissão e, arrependendo-se sem duvida da parte de erro e de orgulho que havia na sua revolta, inclinava-se perante o senhor dos deuses, agora digno de o ser. Assim, os dois adversários, vencendo-se a si próprios interiormente, consentiam em uma limitação das suas paixões anárquicas, com vista a servir um objetivo supremo, a ordem do mundo.
O intervalo de trinta séculos que separava a ação das duas tragédias em questão tornava mais verosímil este devir do divino.
Por outros termos: as forças misteriosas que Esquilo admite presidirem ao destino, a evolução do mundo - forças, na origem, puramente arbitrárias e fatais - acedem lentamente ao plano moral. O deus supremo do universo, tal como o poeta o concebe através dos milênios que o precederam, é um ser em devir. O seu devir, exatamente como o das sociedades humanas, de que esta imagem da divindade procede, é a Justiça.
*
A Orestia de Esquilo, trilogia ligada que conservamos integralmente, representada nas Dionisias de 458, constitui a última tentativa do poeta para por de acordo, na sua consciência e perante o seu povo, o Destino e a Justiça divina.
A primeira das três tragédias de Orestia e Agamemnon, cujo assunto é o assassínio de Agamemnon por Clitemnestra, sua mulher, no seu regresso vitorioso de Troia. A segunda intitula-se Coeforas, o que quer dizer Portadoras de oferendas. Mostra como Orestes, filho de Agamemnon, vinga a morte do pai em Clitemnestra, sua própria mãe, que ele mata, expondo-se assim, por sua vez, ao castigo dos deuses. Na terceira, Eumenides, vê-se Orestes perseguido por Erinias, que são as divindades da vingança, levado a um tribunal de juízes atenienses - tribunal fundado nessa ocasião e presidido por Atena em pessoa - e finalmente absolvido, reconciliado com os homens e com os deuses. As próprias Erinias se tornam divindades benéficas, e é isso mesmo que significa o seu novo nome de Eumenides.
A primeira tragédia é a do assassínio; a segunda, da vingança; a terceira, do julgamento e do perdão. O conjunto da trilogia manifesta a ação divina exercendo-se no seio de uma família de reis criminosos, os Atridas. E, no entanto, este destino não é mais que obra dos próprios homens; não existiria, ou não teria força, se os homens o não alimentassem com os seus próprios erros, com os seus próprios crimes, que se vão engendrando uns aos outros. Este destino exerce-se com rigor, mas encontra fim e apaziguamento no julgamento de Orestes, na reconciliação do último dos Átridas com a Justiça e a Bondade divinas.
Tal é o sentido geral da obra, tal é a sua beleza, tal é a sua promessa. Por mais temível que seja, a Justiça divina deixa ao homem uma saída, uma parte de liberdade que lhe permite, guiado por divindades benévolas, Apolo e Atena, encontrar o caminho da salvação. É o que acontece a Orestes, através duma dura provação, a morte de sua mãe, e a provação terrível da loucura em que se afunda durante algum tempo: Orestes é, no entanto, salvo. A Oréstia é um ato de fé na bondade duma divindade severa, bondade difícil de conquistar, mas bondade que não falta.
Leiamos de mais perto, para tentarmos apreender essa força do destino, primeiro concebida como inumana, depois convertida em Justiça, para tentarmos também entrever a extraordinária beleza da obra.
A ação da Oréstia liga-se e desenvolve-se sempre, ao mesmo tempo, no plano das paixões humanas e no plano divino. Parece mesmo, por instantes mas trata-se apenas de aparência), que a estória de Agamémnon e de Clitemnestra poderia ser contada como a estória de um marido e de uma mulher quaisquer, que têm sólidas razões para se detestarem, tão sólidas, em Clitemnestra, que a levam ao crime. Este aspecto brutalmente humano é acentuado pelo poeta com uma crueza realista.
Clitemnestra é desenhada como uma terrível figura do ódio conjugal. Esta mulher nunca esqueceu, e é natural que não tenha podido esquecer, durante os dez anos de ausência do marido, que Agamémnon, ao partir para Tróia, não temeu — para garantir o êxito dessa guerra absurda que não tinha outro fim senão restituir a Menelau uma bela adúltera — degolar, à fé de um oráculo, sua filha Ifigênia. Clitemnestra ruminou, durante esses dez anos, o seu rancor, à espera da hora saborosa da vingança. "Pronto a levantar-se um dia, terrível, um intendente pérfido guarda a casa: é o Ódio que não esquece, a mãe que quer vingar o seu filho." Assim a descreve o coro no princípio do Agamémnon.
Mas Clitemnestra tem outras razões para odiar e matar, que vai buscar aos seus próprios erros. Na ausência do marido, instalou no leito real "um leão, mas um leão covarde" que, enquanto os soldados se batem, fica em casa, "à espera, espojado no leito, que do combate volte o senhor".
Clitemnestra, com efeito, tomou por amante Egisto, desprezível e brutal, que se embusca com ela, espiando o regresso do vencedor. Serão dois a feri-lo. A rainha ama com paixão este poltrão insolente a quem domina: proclamá-lo-á depois do crime, impudicamente, gloriosamente, frente ao coro. Egisto é a sua desforra: Agamémnon, "diante de Ilion, deliciava-se com as Criseidas", e agora fez-lhe a afronta de trazer para o lar e recomendar aos seus cuidados a bela cativa que ele prefere, Cassandra, filha de Príamo, Cassandra, a profetisa — ofensa que exacerba ainda mais o velho ódio da rainha e leva ao extremo a sua vontade de matar o rei. A morte de Cassandra "avivará a volúpia da sua vingança".
Clitemnestra é uma mulher de cabeça, "uma mulher com vontade de homem", diz o poeta. Montou uma armadilha engenhosa e joga um jogo infernal. Para ser avisada sem demora do regresso do marido, instalou, de Tróia a Micenas, através das ilhas do Egeu e nas costas da Grécia, uma cadeia de sinais luminosos que, em uma só noite, lhe transmitirá a notícia da tomada de ílion. Assim, preparada para os acontecimentos, apresenta-se, perante o coro dos principais da cidade, como esposa amante e fiel, cheia de alegria por ver voltar o marido. Desembarcado Agamémnon, repete diante do rei e diante do povo a mesma comédia hipócrita e convida o esposo a entrar no palácio onde o espera o banho da hospitalidade — essa banheira onde o assassinará, desarmado, ao sair dela, com os braços embaraçados no lençol que lhe entrega. "Banho de astúcia e de sangue", em que ela o mata a golpes de machado.
Eis o drama, humano, da morte de Agamémnon — visto deste lado conjugal. Este drama é atroz: revela na alma roída pelo ódio de Clitemnestra, sob a máscara dificilmente sustentada, horríveis negridões. Executado o crime, a máscara cairá: a rainha defenderá o seu ato sem corar, justificá-lo-á, glorificar-se-á dele com um triunfal encarniçamento.
No entanto, este drama de paixões humanas, de paixões baixamente humanas, enraíza-se, na pessoa de Agamémnon, que é nele o herói trágico, num outro drama de mais vasta envergadura, um drama onde os deuses estão presentes. Se o ódio de Clitemnestra é perigoso para Agamémnon, é apenas porque, no seio do mundo divino, e de há muito tempo, nasceu e cresceu uma pesada ameaça contra a grandeza e contra a vida do rei.
Existe nos deuses, e porque os deuses são o que são, isto é, justos, um destino de Agamémnon. Como se constituiu essa ameaça? Que destino é esse, esse peso de fatalidade que acabará por esmagar um rei que procura grandeza para si próprio e para o seu povo? Não é fácil compreender logo de entrada a justiça dos deuses de Esquilo. No entanto este destino não é mais que a soma das faltas cometidas na família dos Átridas de que Agamémnon é descendente, faltas ancestrais a que vêm juntar-se as da sua própria vida. O destino é o conjunto das faltas que exigem reparação e que se voltam contra Agamémnon para o ferir.
Agamémnon é descendente de uma raça adúltera e fratricida. É filho desse Atreu que, tendo convidado seu irmão para um repasto de paz, lhe deu a comer os membros dos filhos, que degolara. Agamémnon traz o peso desses crimes execráveis e de outros ainda. Porquê? Porque, para Ésquilo, é lei dura mas certa da vida que nenhum de nós está sozinho no mundo, na sua responsabilidade intacta, que existem faltas de que somos solidários como parte de uma linhagem ou de uma comunidade. Ésquilo, embora o exprima diferentemente, tem a profunda intuição de que somos cúmplices das faltas de outrem, porque a nossa alma as não repeliu com vigor. Ésquilo tem a coragem de olhar de frente essa velha crença, mas também velha lei da vida, que quer que os erros dos pais caiam sobre os filhos e constituam para eles um destino.
No entanto, toda a sua peça diz também que este destino herdado não poderia ferir Agamémnon; só o fere porque Agamémnon cometeu, ele próprio, as mais graves faltas. É, enfim, a sua própria vida de erros e de crimes que abre caminho a esse aspecto vingador do divino que espreitava nele o descendente dos Atridas.
Em mais de uma circunstância, com efeito — os coros da primeira parte do Agamémnon o recordam em cantos esplêndidos — , os deuses permitiram a Agamémnon, submetendo-o a uma tentação, escapar à influência do destino, salvar a sua existência e a sua alma recusando-se a fazer o mal. Mas Agamémnon sucumbiu. De cada uma das suas quedas, saiu mais diminuída a sua liberdade em relação ao destino.
O seu erro mais grave é o sacrifício de Ifigênia. O oráculo que o prescrevia era uma prova em que o amor paterno do rei deveria ter triunfado da sua ambição ou do seu dever de general. Tanto mais que este dever era um falso dever, uma vez que Agamémnon empenhara o seu povo numa guerra sem justiça, uma guerra em que os homens iam para a morte por causa de uma mulher adúltera. Assim os erros se engendram uns aos outros na vida difícil de Agamémnon. Quando os deuses decidem recusar à frota o caminho de Tróia se ele não verter o sangue de sua filha, abrem no seu coração um doloroso debate.
Agamémnon tem de escolher e é preciso que escolha claramente o bem no fundo da sua alma já escurecida pelas faltas anteriores. Ao escolher o sacrifício de Ifigênia, Agamémnon entrega-se ao destino.
Eis como a poesia de Ésquilo apresenta este debate:
Outrora, o mais velho dos chefes da frota aqueia,
Próximo das águas de Aulis, brancas de remoinhos,
Quando as velas ferradas, os paióis vazios
Fizeram murmurar o rumor dos soldados,
Rei dócil ao adivinho, dócil aos golpes da sorte,
Ele mesmo, Agamémnon, se fez cúmplice do destino.
Os ventos sopravam do Entrímnis.
Ventos contrários, de fome e de ruína,
Ventos de equipagens debandadas,
Ventos de cabos apodrecidos e de avarias,
E o tempo dobrando a sua ação.
Cardava a flor dos Argivos.
E quando, mascarando-se sob o nome de Ártemis,
O sacerdote revelou o único remédio,
Cura mais amarga que a tempestade e o naufrágio,
De tal modo que o bastão dos Atridas batia o solo
E as lágrimas corriam dos olhos deles,
Então o mais velho dos reis disse em voz alta:
"A sorte esmaga-me se eu desobedeço.
Esmaga-me se eu sacrificar a minha filha,
Se eu firo e despedaço a alegria da minha casa,
Se eu maculo do sangue de uma adolescente degolada
As minhas mãos de pai junto do altar.
"De um lado e doutro só para mim desgraça.
Rei desertor, terei de abandonar a frota,
Deixar assim os meus companheiros de armas?
Terei de escolher o sacrifício, acalmar os ventos,
Escolher e desejar o sangue vertido,
Desejá-lo com fervor, com furor?...
Não o permitiram os deuses?...
Que assim seja, pois, e que esse sangue nos salve!"
Agora o destino está pousado na sua nuca,
Lentamente nele cravando um pensamento
De impiedade, de impureza, de sacrilégio.
Escolheu o crime e a sua alma mudou de sentido.
E o vento da cega loucura leva-o a tudo ousar,
Leva-o a erguer o punhal
Do sacrifício de sua filha. — Para quê?
Para a conquista de uma mulher,
Para a guerra de represálias,
E para abrir aos seus barcos
O mar.
O sangue de Ifigênia era, aliás, apenas o primeiro sangue de um crime maior. Agamémnon decidira derramar o sangue do seu povo numa guerra injusta. Isto ele o pagará também, e justamente. Ao longo desta guerra sem fim, a cólera popular subia, antecipando-se ao regresso do rei. A dor, o luto do seu povo, mutilado na perda da sua juventude, juntam-se à cólera dos deuses e, com ela, entregam-no ao Destino.
Mais uma vez a poesia de Ésquilo exprime em imagens cintilantes o crime da guerra injusta. (Cito apenas o fim deste coro).
É bem pesada a glória dos reis
Carregada da maldição dos povos.
Pesado o renome que fica a dever ao ódio.
A angústia oprime hoje o meu coração; pressinto
Qualquer golpe tenebroso da Sorte. Porque
Os reis que chacinam os soldados
Fazem recair sobre si o olhar dos deuses.
E o voo das negras Erínias
Plana por sobre as instáveis fortunas
Que não ganharam raizes na justiça.
Não há recurso contra o julgamento do Céu.
O raio de Zeus fere os cumes mais altos.
Uma última vez, no decorrer do drama, os deuses oferecem a Agamémnon a possibilidade de restaurar a sua liberdade prestando-lhes homenagem. É a cena do tapete de púrpura. Nela vemos juntarem-se o drama das paixões humanas e o drama da ação divina. É a terrível Clitemnestra que tem a ideia desta última armadilha. Ela crê na existência e no poder dos deuses, mas tem, em relação a eles, um cálculo sacrílego: tenta metê-los no seu jogo. Prepara ao orgulho do vencedor de Tróia uma tentação, que os deuses permitem. O que para ela é armadilha, é para eles prova, última possibilidade de salvação. Quando o carro do rei pára diante do palácio, Clitemnestra ordena às servas que estendam um tapete de púrpura sobre o solo, que o pé vencedor não deve pisar. Porque esta honra é reservada aos deuses nas procissões onde se transporta a sua imagem. Se Agamémnon se iguala aos deuses, expõe-se aos seus golpes, entrega-se uma vez mais ao destino que o espreita. Vêmo-lo resistir primeiro à tentação, depois sucumbir. Caminha sobre o tapete de púrpura. Clitemnestra triunfa: pensa poder agora ferir impunemente, uma vez que o seu braço passará a ser a arma de que os deuses se servem para ferir. Engana-se: podem os deuses escolher o seu braço, que nem por isso ela será menos criminosa. Só eles têm o direito de ferir, só eles são puros e justos.
As portas do palácio fecham-se atrás do casal inimigo, o machado está pronto.
Agamémnon vai morrer. Não o julguemos. Conhecemos a sua grandeza, e sabemos que ele não era mais que um homem sujeito a errar.
Para fazer ressoar em nós esta morte, digna de piedade, do vencedor de Tróia, Esquilo inventa uma cena de rara força dramática e poética. Em vez de fazer que a morte nos seja contada depois, por um servidor saído do palácio, faz com que a vivamos antes que ela se dê, evocando-a através do delírio de Cassandra, a profetisa ligada a Agamémnon pelos laços da carne apaixonada. Cassandra, até aí calada, no seu carro, insensível à presença daqueles que a rodeiam, é bruscamente presa de um arrebatamento delirante.Apolo, o deus profeta, está nela: mostra-lhe o assassínio de Agamémnon que se prepara, mostra-lhe a sua própria morte que seguirá a dele. Mas é por fragmentos que o futuro e também o passado sangrento da casa dos Átridas se descobrem na sua visão interior. Tudo isto na presença do coro que troça dela ou renuncia a compreender. Mas o espectador, esse, sabe e compreende... Assim são as estrofes de Cassandra:
Ah! maldita! Eis o que perpetraste.
Preparas a alegria do banho
Ao esposo, com quem te deitas...
Como dizer agora o que se passa?
Ela aproxima-se. A mão
Se levantou para ferir, uma outra mão implora...
Oh! oh!... Oh! oh!... Horror...
O horror aparece, a rede, vejo-a...
Não será ela a rede do Inferno?...
Ah! aí está ela, a verdadeira rede, o engenho...
A cúmplice do leito, a cúmplice do crime...
Acorrei, Erínias insaciáveis, bando maldito!
Vingai o crime, atirai pedras
E gritai e feri...
Ah! ah! Vê, cuidado!
Afasta o touro da vaca.
Ela envolve-o num pano. Fere
Com o corno negro da sua armadilha.
Fere. Ele cai na banheira cheia...
Tem cuidado com o golpe traiçoeiro da cuva assassina.
Aterrorizada Cassandra entra no palácio, onde viu a degolação que a espera no cepo.
Finalmente, as portas abrem-se. Os cadáveres de Agamémnon e de Cassandra são apresentados ao povo de Micenas. Clitemnestra, de machado na mão, o pé sobre a sua vítima, triunfa "como um corvo de morte". Egisto está a seu lado. O ódio criminoso do par adúltero terá a última palavra? O coro dos velhos de Micenas enfrenta, como pode, o júbilo da rainha. Lança-lhe à cara o único nome que a pode perturbar, o nome de seu filho exilado, Orestes — esse filho que, segundo o direito e a religião do tempo, é o vingador designado do pai assassinado.
As Coéforas são o drama da vingança, vingança difícil, perigosa. No centro do drama está Orestes, o filho que deve matar a mãe, porque os deuses o ordenam. Recebeu ordem de Apolo. E, contudo, horrível crime é esse, mergulhar a espada no seio da sua própria mãe, um crime que, entre todos, ofende os deuses e os homens. Este crime ordenado por um deus em nome da justiça, porque o filho deve vingar o pai e porque não existe outro direito que permita castigar Clitemnestra, fora desse direito familiar, esse crime será, também em nome da justiça, perseguido pelas divindades da vingança, as Erínias, que reclamarão a morte de Orestes. Assim a cadeia de crimes e vinganças corre o risco de não ter fim.
Orestes, o herói trágico, é apanhado, e de antemão o sabe, entre duas exigências do divino: matar e ser punido por ter matado. A armadilha parece não ter saída para uma consciência reta, pois é o mundo dos deuses, a que é preciso obedecer, que parece dividido contra si mesmo.
No entanto, Orestes, nesta terrível conjuntura, não está sozinho. Quando, no princípio das Coéforas, chega com Pílades a Micenas, onde não passou a sua juventude, encontra junto do túmulo do pai — que é um montículo erguido no centro da cena — sua irmã mais velha, Electra, que vive à espera do seu regresso há longos anos, apaixonadamente fiel à recordação do pai assassinado, odiando a mãe, tratada por ela e por Egisto como serva — alma solitária que não tem outras confidentes além das servas do palácio, as Coéforas, mas alma que permanece viva porque uma imensa esperança habita nela, a esperança de que Orestes, seu caro irmão, voltará, de que ele matará a mãe abominável e o seu cúmplice, de que ele restaurará a honra da casa.
A cena do reconhecimento do irmão e da irmã diante do túmulo do pai é de uma maravilhosa frescura. Depois das cenas atrozes do Agamémnon, essa tragédia em que o nosso universo lentamente se intoxicava de paixões baixas, a hipocrisia da rainha, as covardias do rei e o ódio que ganhava tudo, e, para terminar cinicamente, se patenteava em júbilo de triunfo, depois dessa tragédia que nos asfixiava, respiramos finalmente, com a alegria do encontro dos dois irmãos, uma lufada de ar puro. O túmulo de Agamémnon está ali. O próprio Agamémnon ali está, cego e mudo na sua tumba. Agamémnon invingado, cuja cólera é preciso acordar, a fim de que Orestes, incapaz ainda de detestar sua mãe, a quem não conhece, se encha do furor do pai, faça reviver em si seu pai, até que possa ir buscar a essa estreita ligação que une o filho ao pai, a essa continuidade do sangue que nele corre, a força de ferir sua mãe.
A cena principal do drama — e a mais bela também, poeticamente — é a longa encantação em que, voltados para o túmulo do rei, sucessivamente o coro, Electra e Orestes procuram juntar-se-lhe no silêncio da tumba, no mundo obscuro onde repousam os mortos, recordá-lo, fazê-lo falar por eles, despertá-lo neles.
Mais adiante vem a cena da morte. Orestes começou por matar Egisto. Aqui, nada de difícil. Uma ratoeira, um animal imundo. Nada mais. Agora Orestes vai ser colocado diante de sua mãe. Até aqui apresentara-se diante dela como um estrangeiro, encarregado de lhe trazer uma mensagem, a da morte de Orestes. E nós vimos em Clitemnestra, após o breve estremecimento da ternura maternal, a horrível alegria que encontra na morte do filho, esse vingador que sempre temeu, o único vingador a temer. No entanto, ainda está desconfiada. Não esquece um sonho terrível que teve na noite anterior, no qual uma serpente que ela alimentava com o seu leite a mordia, e do seu seio fazia correr o sangue com o leite.
Assassinado Egisto, um servo vai bater à porta das mulheres, para anunciar o crime a Clitemnestra. A rainha sai, esbarra com o filho, de espada ensanguentada na mão, e com Pílades... Compreende subitamente, num grito de amor por Egisto. Suplica, implora, descobre ao filho o seio onde ele mamou o leite nutriente. Orestes tem um momento de desfalecimento, parece cambalear perante o horror da coisa impossível, volta-se para o amigo: "Pílades, que farei? Poderei matar minha mãe?" Pílades responde: "E que fazes tu da ordem de Apolo e da tua Lealdade? Mais vale ter contra si todos os homens que os deuses."
Orestes arrasta sua mãe e mata-a.
E de novo, como no fim do Agamémnon, as portas do palácio se abrem e, no lugar onde repousavam Agamémnon e Cassandra, jazem agora Clitemnestra e Egisto: Orestes apresenta os cadáveres ao povo e justifica o seu crime.
Orestes está inocente, uma vez que obedeceu à ordem de um deus. Mas pode alguém assassinar a sua própria mãe e ficar inocente? Através da sua justificação, sentimos subir dentro dele o horror. Grita o seu direito e a justiça da sua causa. O coro procura tranquilizá-lo: "Nada fizeste de mal." Mas a angústia não pára de crescer na sua alma, e é a sua própria razão que começa a vacilar. De súbito, erguem-se diante dele as deusas terríveis, as Erínias, vê-as. Nós não as vemos ainda, são apenas aspectos do seu delírio. E no entanto têm uma assustadora realidade. Que vão elas fazer de Orestes? Não o sabemos. O drama das Coéforas, que se abrira num sopro de juventude, num impulso de libertação, numa corajosa ofensiva contra o sinistro destino dos Atridas, ofensiva conduzida pelo filho, o único filho inocente da raça, esse drama aberto na esperança, acaba mais baixo que o desespero: acaba na loucura.
As Coéforas mostraram o fracasso do esforço humano na luta contra o destino, o fracasso de um homem que, não obstante, obedecia à ordem de um deus, na sua empresa de pôr fim à engrenagem de crime e de vingança que parecem engendrar-se um ao outro, até ao infinito, na raça maldita dos Átridas. Mas a razão deste fracasso é clara. Se o homem não pode já restaurar a sua liberdade, diminuída pelas faltas ancestrais, se não pode, mesmo apoiado na autoridade de Apolo, estendendo as suas mãos para o céu, encontrar os braços dos deuses, é porque o mundo divino aparece ainda aos homens como tragicamente dividido contra si mesmo.
Esquilo, no entanto, crê com toda a sua alma na ordem e na unidade do mundo divino. O que ele mostra no terceiro drama da Oréstia, as Euménides, é como um homem de boa vontade e de fé, tão inocente de intenção quanto um homem o pode ser, pôde, graças a um julgamento a que de antemão se submetia, lavar-se do crime imposto pela fatalidade, reencontrar uma liberdade nova e finalmente reconciliar-se com o mundo divino. Mas foi preciso para tal que, no mesmo movimento, o mundo divino operasse a sua própria reconciliação consigo mesmo, e pudesse surgir doravante ao homem como uma ordem harmoniosa, toda penetrada de justiça e de bondade.
Não entro nos pormenores da ação. A cena principal é a do julgamento de Orestes. Coloca-se ela — por uma audácia rara na história da tragédia – a alguns passos dos espectadores, na Acrópole, diante de um velho templo de Atena. Foi ali que Orestes, perseguido pelas Erínias, que querem a sua cabeça e beber o seu sangue, se refugiou. Ajoelhado, rodeia com os braços a velha estátua de madeira de Atena, outrora caída do céu e que todos os Atenienses conhecem bem. Ora em silêncio, e depois, em voz alta, suplica à deusa. Mas as Erimas seguiram-lhe a pista e cercam-no na sua roda infernal. Assim como diz o poeta, "o odor do sangue humano sorri-lhes".
Entretanto, Atena a jovem Atena, sensata e justa — aparece ao lado da sua estátua. Para decidir da sorte de Orestes, funda um tribunal, e esse tribunal é composto de juizes humanos, de cidadãos atenienses. Vemos aqui o mundo divino aproximar-se dos homens e encamar-se na mais necessária das instituições humanas, o tribunal. Perante este tribunal, as Erínias acusam. Declaram que ao sangue derramado deve forçosamente responder o sangue derramado.
É a lei de talião. Apolo desempenha o papel da defesa. Recorda as circunstâncias atrozes da morte de Agamémnon. Pede a absolvição de Orestes. Os votos dos jurados dividem-se igualmente entre a condenação e a absolvição.
Mas Atena junta o seu sufrágio àqueles que absolvem Orestes. Orestes está salvo.
Doravante, crimes como os que se cometeram na família dos Atridas não relevarão mais da vingança pessoal, mas deste tribunal fundado por uma deusa, onde homens decidirão da sorte dos inocentes e dos culpados, em consciência.
O Destino fez-se Justiça, no sentido mais concreto da palavra.
Finalmente, a última parte da tragédia dá às Erínias, frustradas da vítima que esperavam, uma espécie de compensação que não é outra coisa senão uma modificação da sua natureza íntima. De futuro, as Erínias, agora Eunémides, não serão ávidas e cegas exigidoras de vingança: o seu poder temível é, de súbito, graças à ação de Atena, "polarizado para o bem", como o disse um crítico. Serão uma fonte de bênçãos para aqueles que o mereçam: velarão pelo respeito da santidade das leis do casamento, pela concórdia entre os cidadãos. São elas que preservarão o rapaz de uma morte prematura, que darão à moça o esposo que ela ama.
No fim da Oréstia, o aspecto vingador e fatal do divino penetra-se de benevolência; o Destino, não contente de confundir-se com a Justiça divina, inclina-se para a bondade e torna-se Providência.
Assim a poesia de Ésquilo, sempre corajosa em alimentar a arte dramática com os conflitos mais temíveis que podem opor os homens ao mundo de que fazem parte, vai buscar esta coragem renovada à fé profunda do poeta na existência de uma ordem harmoniosa na qual colaborem enfim os homens e os deuses.
Neste momento histórico em que a cidade de Atenas esboçava uma primeira forma de soberania popular — essa forma de vida em sociedade que, com o tempo, merecerá o nome de democracia — , a poesia de Ésquilo tenta instalar firmemente a justiça no coração do mundo divino. Por aí, exprime o amor do povo de Atenas pela justiça, o seu respeito pelo direito, a sua fé no progresso.
Eis, no fim da Oréstia, Atena rogando pela sua cidade:
Que todas as bênçãos de uma vitória que nada macule
Lhe sejam dadas!
Que os ventos propícios que se levantam da terra, Aqueles que voltejam nos espaços marinhos,
Aqueles também que descem das nuvens como o hálito do sol Regozigem a minha terra!
Que os frutos dos campos e dos rebanhos
Não cessem de abundar em alimento
Para os meus concidadãos!
Que apenas os maus sejam mondados sem piedade!
O meu coração é o de um bom hortelão.
Compraz-me em ver crescer os justos ao abrigo do joio.

A imagem mais conhecida de Felipe II é a de um monarca sedentário que passou seu tempo planejando como governar o mundo de seu retiro no Escorial, nas profundezas do coração da Espanha. Entretanto, durante a maior parte de sua vida foi extremamente ativo. Presente (e nominalmente ao comando) na esmagadora derrota imposta aos franceses em San Quintín (1557), sentiu-se inspirado para agradecer a Deus pela vitória, construindo uma igreja de grandeza sem paralelo e de dicando-a a São Lourenço, em cujo dia havia sido trava da a batalha. Foi durante um de suas costumeiras saídas para caçar - um exercício tão extenuante e com frequência tão perigoso quanto a guerra - que descobriu o local ideal para concretizar sua ideia: uma projeção rochosa da Serra de Guadarrama, voltada para o sul, cerca de 40 quilômetros ao norte de Madri. Ali, entre 1563 e 1584, ocorreu a construção de São Lourenço do Escoriai, descrita pelo cronista José de Siguenza como sendo “uma incrível conjugação de planificação, trabalho, gerenciamento, barulho, habilidade, riqueza fabulosa e universal criatividade”. Ao plano original de Felipe de construir apenas uma igreja, foram acrescentados novos planos para um palácio real e um mosteiro, e o Escorial acabou transformando-se num complexo de edifícios multifuncionais único entre os palácios da realeza, um lugar para preces e contemplação, para a administração, para descansar depois da caça, para guardar a enorme coleção de livros, manuscritos, pinturas e relíquias santas de Felipe, e onde os ossos de seus antepassados poderiam descansar. E, acima de tudo, foi o quartel-general de uma hegemonia européia que não era apenas política e militar, mas um símbolo multifacetado da civilização espanhola.

Com efeito, uma derrota romana em Zama poderia muito bem aniquilar para sempre os desígnios imperialistas de Roma. Mas, graças à tática original que adota em campo de batalha, o jovem cônsul oferece à sua pátria uma vitória incontestável, que lhe assegura uma supremacia definitiva sobre o Mediterrâneo.
---------------
Desde as primeiras batalhas que trava na África, Scipio ou Cipião, obteve vitórias. Durante o verão do 203 os romanos sob suas ordens vencem, no Campi Magni, um exército composto de cartagineses e númidas e se apoderam do Cirta (Constantina). Então, como previu o cônsul, Cartago aterrorizada chama Hannibal e suas tropas da Itália. Em setembro de 202, perto de Zama (talvez Jama. hoje), a cerca de 150 quilômetros à sudoeste de Cartago, ocorre o derradeiro confronto, Às vésperas da batalha, os dois grandes homens se encontram a igual distância de seus acampamentos, estabelecidos há 6 quilômetros um do outro. Mandam de volta suas escoltas e, durante longo momento, conversam com a ajuda de interpretes. Dois séculos mais tarde, o historiador Tito Lívio reformulará as palavras pronunciadas pelos dois chefes, um aureolado pela glória dos 16 anos durante os quais ocupou a Itália, o outro aspirando a um renome universal.
---------------
Dos dois lados, os generais elaboraram um plano muito preciso de ataque. Hannibal manda posicionar na primeira linha 80 elefantes; na segunda linha, os mercenários gauleses e lígures; na terceira linha, as infantarias cartaginesa e africana. Há alguma distância, outros mercenários, veteranos recrutados quando da campanha da Itália, devem servir de reserva. Nas duas alas estão posicionada a cavalaria; O direita, aquela dos cartagineses; O esquerda, aquela dos númidas, comandada pelo jovem rei dos masesilos Sifax, esposo da fabulosa Sofonisba. Pode-se reconstituir O plano de Hannibal: mandar os elefante na frente, depois enviar os mercenários gauleses lígures num primeiro assalto que deve enfraquece os romanos, em seguida fazer intervir a linha do cartagineses muito mais sólida e, finalmente, os veteranos italianos para garantir a vitória. Nesse exército composto de homens tão diferentes por sua nacionalidade, sua língua, suas armas, seus modo de combate, é difícil conseguir harmonizar as ordens traduzidas por Intérpretes, e Hannibal se esforça em motivar os combatentes: aos mercenários promete um soldo suplementar aos cartagineses ao númidas e aos africanos fala da ruína de seu país em caso de derrota.
Mas as disposições tomadas por Scipio tornam a tática de Hannibal totalmente ineficaz. Com efeito, rompendo a formação compacta em quincunce da infantaria, utilizada pelo exército romano, Scipio deixa passagens livres entre os manípulos (unidades táticas da legião) e nesses intervalos coloca velites, ou soldados de infantaria ligeira, que poderão evoluir facilmente a desorientar os elefantes. Na ala esquerda, dispõe a cavalaria italiana e, a direita, a cavalaria dos númidas comandada por Massinissa, aliado dos romanos.
---------------
Conforme o plano de Hannibal, o ataque dos elefantes marca o início do combate. Mas, transtornados pelo ruído dos clarins e das cornetas romanas, os paquidermes se voltam contra seu próprio exército. Somente alguns continuam a avançar sobre as tropas romanas. É então que a disposição adotada por Scipio mostra sua superioridade: os cornacas levam seus animais para as passagens livres e os vélites podem lançar seus dardos nos flancos dos animais, expostos dos dois lados ao mesmo tempo. As duas alas do exército de Hannibal, as cavalarias cartaginesa a numida, pagam pela debandada dos elefantes, Quando, por sua vez, as duas infantarias se enfrentam, as forças já são desiguais. Os auxiliares gauleses e lígures, como Hannibal previu, não conseguem resistir por muito tempo e começam a recuar para a terceira linha, a dos cartagineses e africanos. Estes recusam-se a dar-lhes espaço em suas fileiras e se batem para rechaçar ao mesmo tempo seus mercenários e os romanos.
Scipio adota Em seguida a tática utilizada por Hannibal, por ocasião da batalha de Cannae: a segunda a e terceira linha dos legionários são enviadas para asalas e iniciam um movimento rotativo cercando os cartagineses, que continuam a bater-se contra a primeira linha. A partir desse momento, a vitória pende para os romanos. Privados da ajuda dos elefantes, de sua cavalaria a de seus mercenários, os cartagineses partem em fuga. Cerca de 20 mil homens pereceram em suas fileiras, 10 mil foram feitos prisioneiros, bem como 11 elefantes. Os romanos só tem a lamentar cerca de 1.500 mortos. Conseguindo voltar a Cartago, Hannibal declara a seus concidadãos que acaba de perder não uma batalha, mas a guerra. Cartago deve aceitar um tratado do paz desastroso para ela: perde a Espanha, deve entregar sua frota e seus elefantes de combate e pagar em cinqüenta anuidades uma indenização de 10 mil talentos (cerca de 5O milhões de Francos-ouro). Voltando a Roma, Scipio celebra um triunfo magnífico e recebe de seus soldados o apelido de "Africano".
---------------
A brutalidade da campanha romana contra as cidades africanas levou as autoridades de Cartago a bombardearem o seu comandante supremo com ordens para que desse batalha. Hannibal não se deixou apressar e permaneceu no seu campo fortificado, perto de Adrumeto. Estava ciente de que o seu exército era fraco em cavalaria e conseguiu convencer um parente de Sifax, chamado Tiqueu, a juntar-se-lhe com 2.000 cavaleiros númidas. Por seu lado, Cipião fazia agora questão que Masinissa justificasse o apoio que lhe tinha prestado trazendo uma força considerável de auxiliares para assistir o exército romano, e enviou-lhe sucessivas mensagens neste sentido. Finalmente, Hannibal decidiu quebrar o impasse e avançou com o exército para Zama, a cinco dias de marcha a oeste de Cartago. Depois, enviou espiões e batedores para localizar o inimigo e avaliar a sua força. Os Romanos capturaram três espiões e Cipião ordenou que os passeassem pelo acampamento e que lhes dissessem para informar Hannibal de tudo. Era o tipo de estratagema que demonstrava a confiança de um general, mas também é possível que o objetivo fosse convencer Hannibal de que Masinissa ainda não tinha chegado, uma vez que Polibio menciona que o rei chegou ao acampamento romano no dia seguinte. Trazia consigo um reforço de 4.000 cavaleiros e 6.000 infantes, alguns dos quais pertenceriam talvez ao contingente de Lélio. Lívio repete estes números mas crê que o monarca chegou antes da captura dos espiões de Hannibal, que ficou desanimado com o relatório que eles lhe fizeram. Ambos os autores referem que os dois generais se encontraram para parlamentar, mas é duvidoso que as falas que lhes são atribuídas preservem alguma coisa da conversa que tiveram.
O exército romano estava acampado numa colina nos arredores de uma cidade denominada Magaron por Polibio e Naragara por Lívio. Como sempre, é impossível situar com precisão o campo de batalha, mas foi certamente algures a oeste de Zama. A posição romana era boa, com acesso a uma abundante fonte de água potável. Hannibal avançou e acampou noutra colina, a pouco menos de 6 km de distância. Era uma posição mais forte mas carecia de uma boa fonte de água. No dia seguinte, os dois generais encontraram-se para parlamentar, e foi no segundo dia que os exércitos avançaram para a peleja. Um confronto tão rápido, sem os costumeiros dias de escaramuças, indica o forte desejo de combater por parte de ambos os comandantes, dando mostras de uma confiança no desfecho que poderia afetar adversamente o moral do inimigo.
Desconhecemos o tamanho das forças em presença mas é provável que os Romanos dispusessem de menos infantaria e muito mais cavalaria do que os seus adversários. Apiano avança números de 50.000 homens para o exército de Hannibal e de 23.000 infantes e 1.500 cavaleiros para os Romanos, acrescidos dos homens de Masinissa, mas a sua descrição da batalha não é, no geral, muito convincente, e deve ser lida com cautela. Cipião concentrou a cavalaria romana e italiana no flanco esquerdo, sob o comando de Lélio, que agora o servia como questor. Os 4.000 cavaleiros ligeiros númidas de Masinissa formavam o flanco direito. No centro, estavam as legiões e as alas dos aliados, dispostas na habitual triplex acies mas com uma ligeira variação. Em vez de estacionar os manípulos de principes cobrindo os intervalos entre os manípulos de hastati, foram postados diretamente atrás, e os triarii também foram posicionados atrás dos principes. Este dispositivo criou uma série de amplos corredores que atravessavam a formação romana a toda a sua profundidade. Nestes espaços foram estacionados grupos de vélites, provavelmente em ordem aberta, mas também é possível que estivessem inicialmente formados em fileiras cerradas, de modo a dissimularem a natureza do dispositivo romano. Estes homens receberam ordens especificas pana lidar com o ataque dos elefantes, que certamente abriria as hostilidades. Mais de oitenta paquidermes formavam uma linha à frente do exército púnico. Hannibal dividiu a cavalaria pelos flancos, com os Númidas frente a Masinissa e os Cartagineses e outras nacionalidades frente a Lélio. A infantaria, no centro, estava dividida em três linhas, espelhando a formação romana. A primeira compunha-se de Ligures, Gauleses, fundibulários das Baleares e alguns númidas. Aparentemente, estas tropas seriam os sobreviventes do exército de Magão, regressados de Itália. A segunda linha consistia de tropas recrutadas para a defesa da África, Líbios e um forte contingente de cidadãos púnicos, uma rara aparição como unidade militar durante as Guerras Púnicas.
Segundo uma versão da história, esta linha incluiria também uma força considerável de Macedônios, mas é normalmente rejeitada porque seria muitíssimo invulgar que Polibio não mencionasse o envolvimento de tropas helenísticas. A última linha, a uns duzentos metros atrás da segunda, consistia dos veteranos de Hannibal, uma mistura de muitas raças e quase todos equipados à romana. As narrativas da batalha dão a entender que seriam em número comparável ao da totalidade da infantaria pesada romana, cerca de 15.000 a 20.000.
Os dispositivos de ambas as partes eram muito similares, revelando o quanto os respectivos sistemas militares tinham aprendido um com o outro durante os longos anos de guerra. Foi a primeira que vez que Hannibal copiou a prática romana de manter a maioria da infantaria de reserva. Ele sempre soubera que a força do inimigo residia na infantaria pesada das legiões, que combatia em formações cerradas. Agora que já não beneficiava da superioridade numérica em cavalaria que caracterizara as suas batalhas anteriores, Hannibal compreendeu que tinha poucas hipóteses de envolver o centro romano como fizera no Trébia ou em Cannae. A única alternativa era romper pelo meio da linha adversária. O sistema romano de linhas múltiplas conferia aos resolutos legionários uma grande capacidade de resistência em combate, possibilitando o empenhamento de tropas frescas na primeira linha enquanto o inimigo se ia fatigando.
A poderosa linha de elefantes carregaria sobre a primeira linha romana, provocando baixas e, esperava Hannibal, semeando a desordem, tal como acontecera ao exército de Régulo, em 255. As linhas de infantaria de Hannibal poderiam então avançar e explorar a confusão, com as linhas de reserva reforçando continuamente o ímpeto ofensivo do exército. Se tudo corresse pelo melhor as três linhas romanas teriam que se envolver na refrega antes que os veteranos de Hannibal, em número significativamente superior ao dos triarii, avançassem para completar a vitória. O plano não era especialmente sutil mas, tendo em conta as circunstâncias, era decerto prático. Cipião era um general demasiado hábil para se deixar manipular para um combate em condições desfavoráveis, tal como Hannibal derrotara previamente os seus oponentes. Além do mais, o exército de Hannibal não tinha tanta qualidade como o que ele levara pana Itália, em 218, enquanto que o de Cipião era uma das forças mais bem adestradas jamais produzidas pelo sistema miliciano romano. Os veteranos de Hannibal, experientes e confiantes em si próprios e nos seus oficiais, compunham menos de metade das suas forças. As suas primeira e segunda linhas eram formadas pelos sobreviventes de dois exércitos diferentes, tão pouco familiarizados com Hannibal como uns com os outros. Não houvera tempo, durante os meses de Inverno, para converter estes elementos dispares num exército coeso, dotado de uma estrutura de comando clara e homogénea. Por consequência, o dispositivo de Hannibal tinha a vantagem adicional de permitir que os três exércitos que compunham a sua força operassem de forma independente. É notório o fato de Hannibal ter discursado aos seus homens mas ter ordenado a dois grupos de oficiais que arengassem a primeira e a segunda linhas. Era muito mais fácil a Cipião percorrer a cavalo as fileiras do seu exército e arengar-lhes, dado que, a exceção de muitos dos guerreiros de Masinissa, o general e os soldados vinham servindo juntos há três anos e conheciam-se muito bem.
Foram necessárias horas para que os exércitos saíssem dos acampamentos e formassem, verificando-se apenas algumas escaramuças esporádicas entre os cavaleiros númidas de ambos os lados. Por fim, com tudo pronto e terminadas as alocuções dos comandantes, as tropas gritaram e soaram as trombetas, os gestos da praxe para demonstrar confiança e intimidar o inimigo. O barulho, tão repentino, assustou os elefantes e tê-los-á levado a atacar prematuramente. O número de elefantes de guerra, muito maior do que o habitual, sugere que a grande maioria fora capturada recentemente e que não estaria devidamente adestrada. Na esquerda, vários animais entraram em pânico e debandaram pelas fileiras da sua própria cavalaria. Masinissa viu a oportunidade e lançou-se com os seus homens sobre os aliados númidas de Hannibal, pondo-os quase de imediato em debandada. Os restantes elefantes carregaram sobre a infantaria romana, uma visão deveras atemorizante. Os vélites avançaram ao encontro dos enormes animais, alvejando-os com chuvas de dardos. Feridos ou com as equipagens mortas, os elefantes tornaram-se ainda mais propensos a entrar em pânico. Alguns vélites tombaram e outros procuraram abrigar-se atrás das formações dos manípulos de hastati, mas foram poucos os elefantes que entraram em contato com a infantaria romana. A maioria avançou descontroladamente pelos corredores da formação romana. Mais tarde, na retaguarda do exército, foram tranquilamente eliminados. Alguns, na direita, desviaram-se e avançaram sobre a cavalaria romana mas mudaram novamente de direção e foram recebidos com uma chuva de dardos. Completamente descontrolados, recuaram através da cavalaria cartaginesa. Lélio emulou o exemplo de Masinissa e carregou sobre os desorganizados cavaleiros inimigos, pondo-os em fuga.
O ataque dos elefantes fracassara e Hannibal perdera a sua cavalaria na fase inicial da batalha. Todavia, os cavaleiros de Lélio e de Masinissa tinham perseguido incansavelmente o inimigo para fora do campo de batalha, com o objetivo de impedir quaisquer tentativas de reagrupamento. Isto significava que durante algum tempo, a cavalaria romana não poderia intervir no combate principal. Houve quem sugerisse que Hannibal ordenou à sua cavalaria que fugisse de modo a atrair para longe da batalha a cavalaria inimiga, que era mais numerosa, mas esta perspectiva está certamente incorreta. A cavalaria púnica teria sido mais útil ao seu general se tivesse permanecido no campo de batalha, mantendo a cavalaria romana ocupada o mais tempo possível. Na opinião das fontes, o que causou a fuga rápida da cavalaria de Hannibal não foi tanto a superioridade numérica dos cavaleiros romanos, mas sim a confusão provocada pelos elefantes descontrolados.
As primeiras duas linhas da infantaria púnica começaram provavelmente a avançar logo que os elefantes atacaram. A terceira linha manteve-se estacionária, sob as ordens diretas de Hannibal. A infantaria romana avançou ao encontro do inimigo depois de os elefantes terem sido repelidos ou passado pelos corredores. Como de costume, os beligerantes avançaram ruidosamente, com os homens aos gritos e as trombetas a tocarem. Polibio menciona novamente o costume que os soldados romanos tinham de bater com as armas nos escudos, com a reserva de principes e triarii incitando os hastati, e contrasta esta pratica com a gritaria dissona das muitas raças presentes nas fileiras inimigas. É um tema tão antigo como a Ilíada de Homero, que de fato Polibio cita nesta passagem, e frequentemente repetido em narrativas de vitórias gregas sobre os Persas. Mas os homens gritavam durante o avanço para amedrontarem os adversários e se encorajarem a si próprios, e são muitas as fontes que testemunham a importância do barulho e do aspecto como decisões do combate. Os Romanos poderão ter ganho alguma vantagem deste modo mas não foi decisiva, pois a primeira linha púnica deu muito boa conta de si. O texto de Polibio esta ligeiramente danificado neste ponto mas parece dizer que os beligerantes não passaram muito tempo a trocar projéteis, e que entraram rapidamente em contato, um sinal do seu entusiasmo.
Os homens do antigo exército de Magão investiram com grande entusiasmo, infligindo pendas significativas aos hastati. Depois de cada pausa, acometiam de novo, mas as suas cargas foram perdendo o vigor, enquanto os Romanos continuavam a avançar inexoravelmente. Lívio refere que os legionários usaram as bossas dos escudos para empurrar os adversários, desequilibrando-os. Prática habitual no posterior exército profissional, era mais difícil com os pesados escudos do período em causa, que pesariam cerca de 10kg. Os príncipes mantiveram-se perto da primeina linha mas aparentemente sem se envolverem ainda na refrega. Os Ligures, Gauleses e outros elementos da primeira linha púnica foram pouco auxiliados pelos seus apoios, os Líbios e os Cartagineses, que não avançaram. Esta não cooperação eficaz entre as duas linhas constitui talvez uma indicação adicional da falta de unidade dos dispares elementos do exército de Hannibal. As fontes vão ao ponto de afirmar que eclodiram combates entre as duas linhas, quando os homens da primeira tentaram retirar através da segunda. É possível que Hannibal tenha ordenado às linhas da reserva para não deixar os fugitivos passar pelas suas fileiras, instruções que deu aos seus veteranos. Por fim, lá se estabeleceu uma linha de combate, combinando elementos das primeira e segunda linhas. O avanço dos hastati interrompeu-se durante algum tempo. Polibio dá a entender que pelo menos alguns manípulos de príncipes foram inseridos na linha de batalha e que a injeção destas tropas renovou o Ímpeto ofensivo da infantaria romana, que pôs o inimigo em fuga. Os hastati, desorganizados por duas rijas contendas, lançaram-se no seu encalço, golpeando os adversários. Era sempre nesta altura que ocorriam mais baixas, e os homens feridos nas pernas tinham muita dificuldade para conseguirem escapar.
Os veteranos de Hannibal recusaram abrir fileiras e ofereceram aos seus camaradas em fuga uma parede de pontas de lança. Os oficiais gritaram aos homens para contornarem a terceira linha e reagruparem-se atrás. Pelo menos algumas unidades terão recuperado e formado para reforçar a última reserva do exército púnico. Os veteranos de Hannibal estavam intactos e aparentemente impávidos perante a debandada dos outros mercenários e dos cidadãos. No entanto, é possível que a fuga das duas primeiras linhas tenha impedido Hannibal de mandar a terceira linha contra-atacar os Romanos, algo desorganizados. Os hastati estavam temporariamente descontrolados, perseguindo os homens que lhes tinham infligido baixas consideráveis, e até os principes tinham travado um breve combate e perdido alguma ordem. Um ataque poderia aproveitar a confusão das linhas romanas. Porém, entre os veteranos e os Romanos o solo estava pejado de cadáveres e escorregadio com o sangue derramado, um terreno difícil para qualquer formação atravessar mantendo-se organizada. Hannibal terá eventualmente preferido permanecer na sua posição, com as suas fileiras perfeitamente ordenadas, e deixar os Romanos avançar, esperando que na condição em que se encontravam a sua ofensiva fosse mal coordenada e carecesse de potência.
Foi então que o exército de Cipião deu mais uma prova do seu elevado nível de disciplina, não por executar uma manobra complexa mas pelo movimento ainda mais difícil de reformar no meio de uma batalha. As trombetas soaram para chamar os hastati da perseguição. Enquanto os hastati regressavam e formavam de novo, os feridos foram levados para a retaguarda e as restantes tropas tiveram algum tempo para descansar. Cipião e provavelmente os oficiais de todas as patentes atarefaram-se a reformar a linha. Os hastati postaram-se no centro, com os principes num flanco e os triarii no outro. Por uma vez, as legiões romanas regressaram às táticas da antiga falange de hoplitas, formando uma linha densa equivalente a do inimigo. Terminada a sua reorganização, os Romanos retornaram o avanço e os homens de Hannibal foram ao seu encontro. A peleja foi dura, pois as hostes rivais equiparavam-se em número e equipamento. Alguns dos soldados rivais eram veteranos de dez anos de serviço. Os Romanos estariam provavelmente mais fatigados mas a sua vitória sobre as primeiras duas linhas inimigas enchia-os de confiança. Seguiu-se uma prolongada peleja que acabou por ser decidida pelos cavaleiros de Lélio e Masinissa, que se reagruparam, regressaram ao campo de batalha e atacaram os veteranos de Hannibal pela retaguarda, flagelando-os como eles tinham fustigado as legiões no Trébia e em Cannae. A ironia final da guerra foi o fato de as legiões de Cannae alcançarem a maior vitória de Roma.
As perdas cartaginesas foram elevadas, cifrando-se, segundo Polibio, em 20.000 mortos e outros tantos capturados. Os Romanos perderam 1.500 homens, cerca de 5% do total se o exército era de 30.000 combatentes (não é de crer que fosse mais numeroso). Foram perdas substanciais para um exército vencedor e que dão testemunho da rijeza do combate, e não existem razões para que prefiramos o número de 2.500 avançado por outras fontes. O desfecho da batalha não era inevitável, não obstante a grande vantagem que os Romanos detinham na cavalaria de Masinissa. O plano de Hannibal era bom e facilmente poderia ter tido êxito. Se Cipião não tivesse disposto o seu exército de modo a deixar os elefantes passarem pelos corredores entre os manípulos, a carga dos animais poderia ter provocado tantos danos como os sofridos pelas legiões de Régulo, em 255. A utilização de três linhas de infantaria por parte de Hannibal, com as melhores tropas na terceira, contribuiu muito para desgastar a infantaria romana, fatigando os hastati e anulando a potência dos principes. Só o talento de Cipião como comandante e a disciplina e o elevado moral dos seus homens permitiram as tropas romanas refazer a sua formação e levar a melhor no embate final. É impossível saber que falange teria prevalecido se a cavalaria romana não tivesse regressado para atacar o inimigo pela retaguarda. As tácticas de Hannibal não se destinaram a cercar e aniquilar o inimigo de forma tão absoluta como nas suas primeiras vitórias - ele não necessitava de uma vitória tão esmagadora. Os Romanos é que eram agora o invasor, com um exército pequeno e em inferioridade numérica operando longe das suas bases domésticas, tal como Hannibal fora durante os seus primeiros anos na Itália. Uma derrota inequívoca de Cipião teria, com toda a probabilidade, significado o fim da expedição africana, mesmo que uma grande parte do seu exército tivesse escapado.

Os reis assírios tentaram de início afagar seus vizinhos instaurando uma dupla monarquia e portando a coroa das duas nações. A Babilônia, ao mesmo tempo em que é incorporada à Assíria, conserva suas divisões territoriais. Mas. apenas dez anos após a conquista, o chefe de uma tribo caldaica estabelecida nas margens do golfo Pérsico desafia o poder assírio; tirando proveito do fato de que este está ocupado em sufocar rebeliões em outras partes do império, proclama-se rei da Babilônia. Dez anos decorrem antes que os assírios retomem suas possessões e expulsem o usurpador, Marduk-apal-iddina, chamado, pela Biblia, Merodac Baladan. Mas este não se dá por vencido. Em 703, retoma ao trono de seu país, combatendo dessa vez Sennakerib, rei da Assíria há um ano.
Sennakerib assume o comando de uma grande expedição e inflige uma séria derrota à Merodac Baladan que, no entanto, consegue fugir. O assírio entra então na Babilônia, onde saqueia o palácio de seu inimigo. Mas poupa a cidade. Para apaziguar o movimento de nacionalismo babilônico, da ao país seu próprio rei, um babilônio educado pela corte assírias e considerado de uma fidelidade a toda prova. Ora, o novo soberano não pode ou não quer opor-se às artimanhas de Merodac Baladan, que prossegue a luta, incentivando seus concidadãos à revolta. Sennakerib exila então o rei da Babilônia na Assíria e o substitui por um de seus filhos.
De 700 a 694 a.e.c., a Babilônia conhece então uma paz relativa. Durante esse tempo, Sennakerib prepara uma campanha de grande envergadura contra o Elam, reino situado do outro lado do golfo Pérsico, que cometeu o erro de acolher Merodac Baladan e ter apoiado suas iniciativas sediciosas. Essa expedição punitiva é um sucesso, e o rei retorna com relevantes despojos. Mas os elamitas logo decidem vingar-se. Invadem, por sua vez, a Babilônia e levam como cativo o rei, filho de Sennakerib, que, na realidade, a população entregou a eles.
A Babilônia nomeia então um novo chefe, depois se prepara para o inevitável confronto com os assírios. Sacrificando sem hesitar os tesouros sagrados do templo de Marduk, compra a aliança militar de Elam com as riquezas conseguidas. Graças a isso, o confronto termina, em 691, com a derrota de Sennakerib.
Doravante, o ódio do rei assírio pelos babilônios não conhece mais limites. Não há senão um meio para saciá-lo: destruir a cidade revoltosa que entregou seu filho aos elamitas e, desse modo condená-la a morte certa.
Após seu doloroso revés, Sennakerib avança, portanto, para a Babilônia e a cerca. Durante 15 meses, a capital resiste; apesar da fome que dizima grande paste de seus habitantes. A máquina de guerra assíria, notavelmente organizada e disciplinada, monta seus dispositivos de cerco e confia aos técnicos militares a realização dos trabalhos que lhe permitirão ultrapassar as fortificações inimigas. Os soldados escalam as fortificações com a ajuda de plataformas de terra e de escadas. Com arietes terminados por grandes dardos, arrombam muros e portas. Finalmente, entram na cidade pelos túneis que escavaram sob as muralhas, Com os repetidos ataques, a cidade cai finalmente e nela Sennakerib exerce sua vingança. A descrição que ele próprio faz da devastação não deixa subsistir nenhuma divida sobre a amplitude dos massacres e das destruições.
"Eu fui como o vento que anuncia a chegada do furacão e a envolvi de nevoeiro. Cerquei completamente esta cidade e me apoderei dela escalando suas muralhas. Não poupei seus valorosos guerreiros, jovens ou velhos, mas enchi as praças da cidade com seus cadáveres. Meus soldados se apoderaram das escrituras dos deuses que se encontravam nela e as destruíram. [...] Destruí completamente a cidade e as casas, das fundações até o teto, e pus fogo em tudo. Demoli as muralhas internas e externas da cidade e nivelei a terra em suas laterais, inundando-a. Destruí até mesmo o solo de suas fundações. Arrasei-a mais que qualquer dilúvio poderia tê-lo feito, para que nunca mais alguém se recordasse do local dessa cidade e de seus templos."
A surpresa não provém das atrocidades cometidas pelos assírios. Mas a crueldade não foi reservada unicamente à Babilônia, abate-se sobre todas as cidades que se revoltam. O suplicio dos homens da cidade, empalados, queimados, esfolados, decapitados, as deportações maciças dos sobreviventes, as pilhagens, os incêndios e a destruição completa das cidades constituem a punição habitual. Para os assírios, suplícios e torturas formam também uma arma psicológica. Espalhando o terror e semeando o medo, procuram eliminar toda veleidade de rebelião por parte das outras cidades e povos do império.
O que surpreende e aterroriza os babilônios, seus vizinhos e até os próprios assírios é o fato de que Sennakerib tenha ousado destruir uma cidade considerada ao mesmo tempo como um dos principais lugares sagrados da Mesopotâmia, dedicado ao deus Marduk, e um centro de elevada cultura. Por isso, quando Sennakerib é assassinado em 681, numerosos são os que vêem nesse assassinato uma vingança do deus babilônio. Assarhaddon, sucessor de Sennakerib, apressa-se em reconstruir a cidade. Mas é muito tarde para extirpar do coração dos babilônios revoltados o ódio que alimentam contra a Assíria: executarão a revanche em 612. Com seus aliados, destruirão o Império Assírio e sua capital Nínive. A Babilônia sobreviverá a esse desaparecimento e conhecerá um novo brilho no século VI a.e.c.

No início do período islâmico, todas as cidades árabes importantes na Espanha tinham uma mesquita principal, onde, todas as sextas, os membros masculinos da comunidade muçulmana deveriam rezar. A medida que crescia o tamanho da comunidade, as dimensões da mesquita tiveram de ser ampliadas. (Apartir do século IX, foram fundadas mesquitas menores dentro das grandes cidades como um meio alternativo de resolver esse problema.) Assim, a primeira mesquita de Córdoba, que se dizia tradicionalmente ter sido construída na metade de uma igreja dedicada a São Vicente, foi substituída por uma nova e de estrutura mais grandiosa no final do reinado de Abd al-Rahman I (756-788). Essa foi ampliada através de uma extensão quase do mesmo tamanho, na época de seu bisneto Abd al-Rahman II (822-852) e novamente outra seção, ainda maior, foi erguida por al-Hakam II (961-976). Essa última parte é notável pela excelência da decoração de seu mosaico e pela cúpula, com a forma da concha de uma vieira, sobre o mihrab (o nicho previsto para marcar a direção de Meca, e assim a direção para a qual devem estar virados os fiéis enquanto rezam). Uma última ampliação, muito substancial, do edifício foi realizada pelo hajib, o fidalgo Almanzor, em 978/9, transformando-a em uma das maiores estruturas sagradas do islã. Após a conquista castelhana de Córdoba, em 1236, foi construída uma catedral gótica dentro da antiga mesquita e, na década de 1520, foi erguida uma maior e mais opulenta catedral de estilo renascentista, no mesmo centro do edifício.





Na seqüência dos historiadores gregos, considerou-se durante muito tempo a Mesopotâmia, a bacia do Tigre e do Eufrates, como uma unidade geográfica e histórica. Tal concepção, hoje caduca, não resiste à análise dos fatos. A Mesopotâmia divide-se em quatro regiões de características muito diferentes, constituídas por oasis mais ou menos extensos, arados por estepes secas e pedregosas ou por pântanos.
A Norte, estende-se a Alta Mesopotâmia, suficientemente úmida para que a agricultura possa depender das chuvas de Inverno. Compreende a Assíria, rosário de oasis que se desfia ao longo do Tigre e dos seus afluentes a Djeziré, estepe desolada que serve de pastagem após os períodos chuvas.
Vem, em seguida, o vale do Eufrates e a planície aluvial, sujeitos as cheias caprichosas dos rios, as do Eufrates em Abril e as do Tigre em Maio. A Paisagem é, pois, modulada pelas aluviões. É uma terra fértil; a raridade das chuvas toma, no entanto, necessário um sistema de irrigação complexo e altamente aperfeiçoado. Esta irrigação intensiva acabara entretanto por arruinar os solos fazendo que apareçam à superfície os elementos de sais que se encontram a alguma profundidade.
Mais a Sul, a, região dos grandes pântanos é um autêntico mar de caniços rico em caça e em peixe. É o refúgio dos fugitivos e dos proscritos. Julgou-se durante muito tempo que, na Antiguidade, as costas do golfo deviam encontrar-se mais a Norte do que se encontram nos nossos dias e que, conseqüentemente, as grandes cidades sumérias se situavam à beira do mar. Mas os trabalhos dos geólogos ingleses G.M. Lees e N.R Falcon tendem a fazer admitir uma formação muito mais antiga da região baixa. As cidades ter-se-íam então erguido nas margens de uma laguna de água doce.
Por fim, a Sudeste, no prolongamento da planície, estende-se a Susiana, franja do Elam, banhada pelos cursos do Karum e do Kerkha cujos altos vales abrigam as rotas comerciais que conduzem ao planalto iraniano.
As várias partes da Mesopotâmia apenas tem em comum a ausência quase geral de minérios, de pedra e de madeira de construção. É à argila do solo que a Mesopotâmia vai buscar o tijolo, o seu único material de construção juntamente com a cana.
Importante encruzilhada de estradas, a planície não deixa de lembrar uma grande avenida comercial. Para além do golfo Pérsico, o tráfico marítimo estende-se até ao Indo. Na própria planície, as rotas fluviais são acompanhadas pelas rotas das caravanas que chegam ate à Síria do Norte, às regiões de Katna, de Alepo ou de Karkemish. De Iá partem as principais vias de comunicação para a Ásia Menor, Palestina e Egito, e, ao longo das costas do Líbano, para Chipre, Creta e ilhas do mar Egeu. Compreende-se então como o desejo de possuir um porto seguro no golfo Pérsico pode suscitar conflitos. É obvio que a vontade de controlar o conjunto das rotas; comerciais da planície está na origem da formação dos grandes impérios.

A luta proletária e camponesa contra a burguesia não foi travada apenas com baionetas, mas também com imagens. Assim que o czar Nicolau II foi deposto, a insígnia dos Romanov - uma águia de duas cabeças - rapidamente desapareceu de repartições públicas e documentos oficiais. Em seu lugar apareceram, inicialmente, um martelo e um arado, que já eram usados nos uniformes das tropas bolcheviques e representavam a união de operários e camponeses em sua marcha revolucionária. Em 1922, com a revolução já consolidada, o Partido Comunista decidiu trocar o arado por um símbolo mais agressivo - uma foice.
Assim nasceu a bandeira do primeiro Estado socialista do mundo: foice e martelo sobrepostos em um campo vermelho, cor tradicional da luta operária desde o século 19. O brasão soviético, usado em selos e ministérios, foi ainda mais eloquente quanto as pretensões globais da revolução: mostrava a foice e o martelo flutuando sobre o globo terrestre. Embaixo, o lema cunhado por Karl Marx e Friedrich Engels, pais do comunismo, nas 17 línguas faladas na URSS: "Trabalhadores do mundo, uni-vos!".



A meteórica carreira de Diego de Velázquez, que de uma humilde origem em Sevilha ascendeu para se transformar no maior pintor do século XVII na Espanha, é perenemente fascinante. Nomeado pintor principal da corte quando tinha 24 anos, sua vaidade em querer ser chamado pelo pomposo nome de Diego de Velázquez y Silva (seu sobrenome materno fazia uma leve referência a antecedentes cavalheirescos portugueses) não era autocomplacência. Assim como seus contemporâneos Rubens e Van Dyke, ele fez parte de uma fase dinâmica no processo que elevou o artista de uma posição de artesão servidor à de uma espécie de nobre. Nisso, sua amizade pessoal durante toda a vida com o rei Felipe IV, que também aspirava tornar-se pintor, foi de crucial importância. Contudo, as exigências de seu real patrão ajudaram a encurtar sua existência. Em 1659, após a Paz dos Pirineus, Velázquez recebeu a incumbência de preparar o encontro entre Felipe e o rei francês Luis XIV. Conseguiu esplendidamente extrair do Rei Sol tudo o que este podia oferecer, mas a tensão e o esforço precipitaram sua morte um ano mais tarde. A obra de Velázquez mostra uma surpreendente variedade de estilos e temas. Embora treinado (como todos os seus colegas) paras tornar-se um artista religioso, com o passar dos anos este se transformou no tema que menos lhe interessava, preferindo dedicar-se à recriação de temas da mitologia clássica. Sua preferência pelo chamado estilo “de gênero”- a observação direta da obscura sociedade da qual ele tinha emergido - nunca fraquejou, e ele exibe constantemente uma profunda honestidade e compaixão em suas obras. No outro lado da escala social, foi o mais bem sucedido retratista da corte barroca, capaz de refletir uma genuína magnificência junto à mais frágil humanidade dentro da mesma tela.
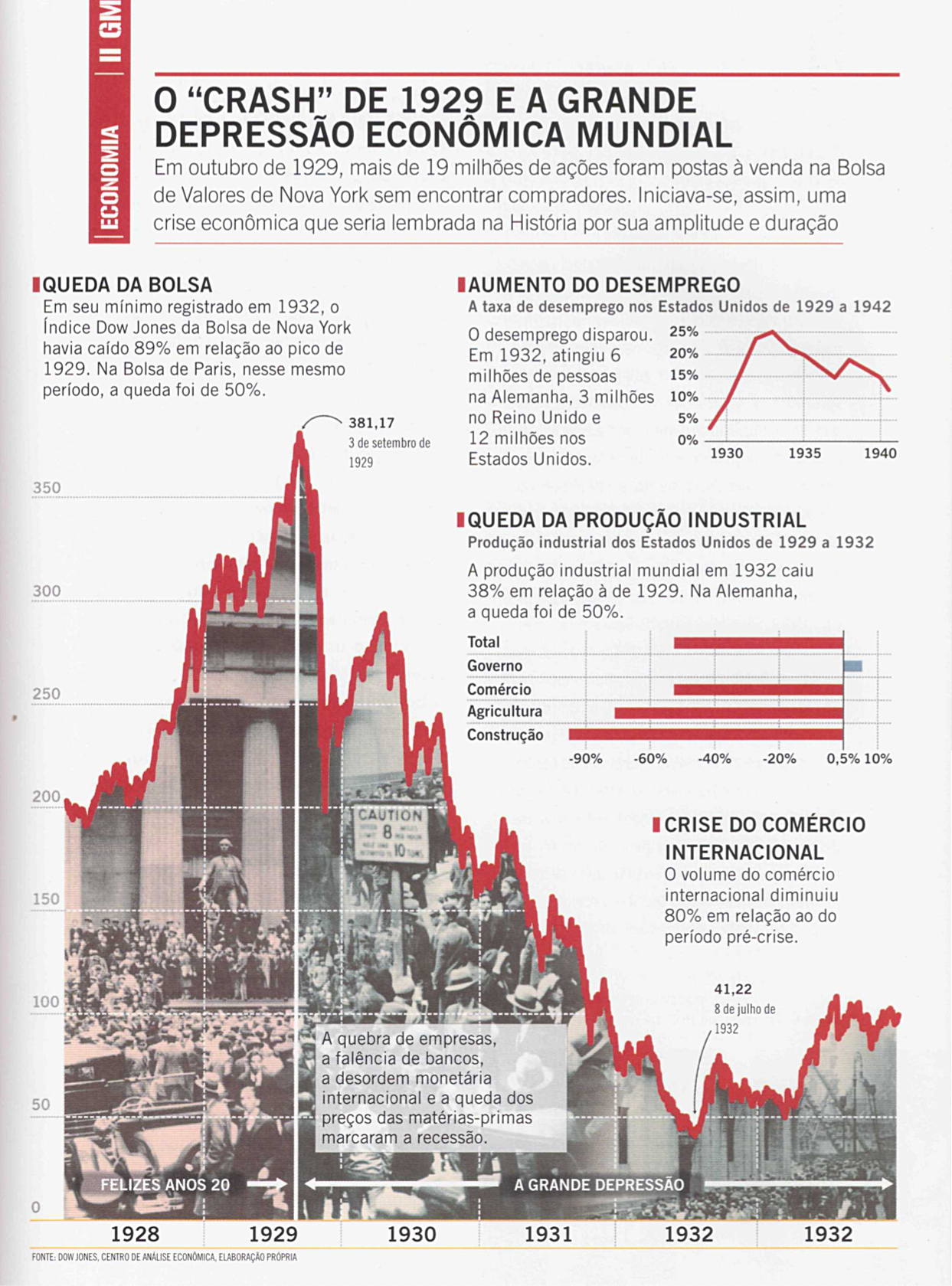

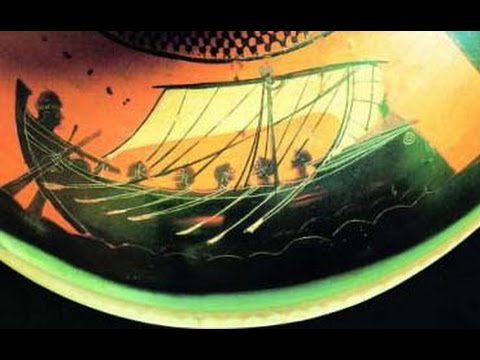
A paz relativa e a estabilidade que reinam na Grécia, no século IX a.e.c., se traduzem num crescimento demográfico importante. Rapidamente as terras vêm a faltar e as cidades gregas tomam a iniciativa de enviar grupos de emigrantes para novos territórios. Ao lado das colônias de povoamento, multiplicam entrepostos por todo o Mediterrâneo para dar escoamento a seu comércio. Outras colônias são instaladas em regiões produtoras de matérias-primas. Diferentes ritos acompanham a fundação de uma colônia: após a consulta do oráculo de Delfos para saber se os deuses aprovam a escolha do local, o oikistès(o fundador) manda traçar o projeto da futura cidade pelos geômetras, depois reparte entre os colonos as terras divididas em lotes. A apoikia(colônia) é uma cidade-Estado independente, mas guarda relações com sua metrópole. Em particular, adota como deuses protetores os da cidade-mãe.
A primeira colônia grega fundada pelos jónicos é Poseideion (al-Mina) na Síria. Depois, estabelecimentos se erguem nas costas da Trácia e da Macedônia e nas ilhas que margeiam a Ásia Menor. Outros colonos se dirigem para o oeste, para a Sicília e a Itália meridonal, que tomarão o nome de Magna Grécia. Os fócios avançam ainda mais para o oeste e fundam Massalia (Marselha) e Alalia (Aléria). No século VII, os dórios e os jónicos colonizam as margens do Mar Negro e o faraó Amásis autoriza os jónicos a fundar Náucratis no delta do Nilo. Durante quase três séculos, o fenômeno da colonização permite à língua e à civilização gregas se difundir por toda a área do Mediterrâneo. [116]

A mais alta realização da arte e do gênio é uma aparência de facilidade e leveza, e o imitador sente-se tentado a facilitar as coisas para si mesmo e trabalhar apenas nessa aparência superficial...